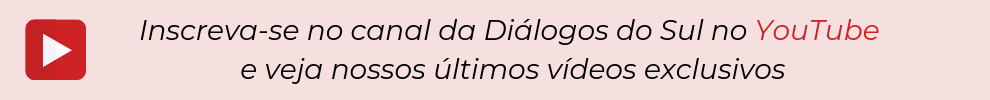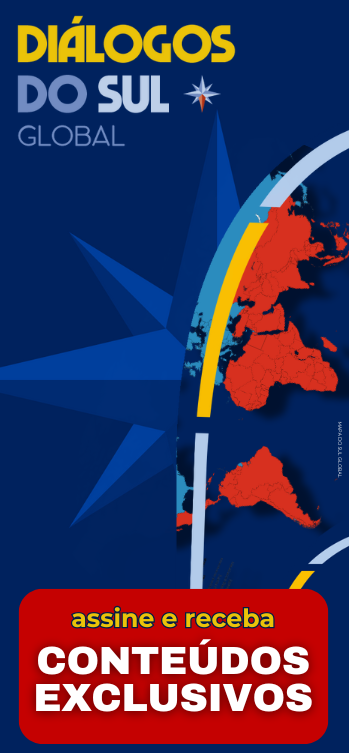Em 1825, a Assembleia Constituinte que dera origem à república da Bolívia, estava constituída quase exclusivamente pelo 1% procedente dos restos da burocracia colonial supostamente derrotada. Como as outras oligarquias da região opostas ao projeto da Grande Colômbia (diante do expansionismo gringo), viram na independência não um processo de libertação, mas sim a reposição de uma ordem na qual podiam constituir-se em elite perpétua de países reduzidos a fazendas privadas. Nesse sentido, toda nossa história de golpes de Estado não é só a disputa oligárquica do patrimônio estatal, mas sim a contínua reposição da natureza antinacional do Estado senhorial; cujo poder é “aparente” porque não é produzido, mas adquirido, como parte do consumo suntuoso que lhe dá a liderança imperial como dependência crônica.
Esse mesmo 1% viu no golpe atual, como é seu costume, a única possibilidade de repor suas prerrogativas recorrendo ao amparo de uma hegemonia imperial inclusive decadente (como sua existência não é produto de nenhuma libertação, em cada oportunidade histórica de reconfiguração geopolítica, só buscam um novo amo a quem obedecer ou, como no presente, sacrificar-se comedidamente – e sacrificar seu próprio país – pelo decadente).
A única forma de permanência desse estado tem sido sempre a subordinação a uma ordem mundial que sustenta o poder “aparente” que, como já não precede de seu próprio conteúdo nacional, se mantém como uma ilusão estatal que constitui cultura política urbana (o entreguismo é sua cara mais notória, por isso fomenta midiaticamente o medo a nacionalizar). A “aparência” já não é só formal, mas descreve o próprio conteúdo de uma capitulação absoluta que faz dos Estados periféricos tributadores netos de soberania; como renunciam ao seu poder, isso se transfere como realização constante do poder imperial.
Nisso consiste a colonialidade do poder. Só desse modo as elites periféricas asseguram sociedades fechadas e excludentes que reproduzem, de modo autóctone, o caráter piramidal do sistema econômico do capital. A sangria nacional lhe dá então, à elite periférica, o direito de admissão ao banquete do mercado mundial, onde o capital, como autêntico deus substituto, premia ou castiga, decide a vida ou a morte, segundo a quota sacrificial que impõe a fome infinita de seu crescimento acumulativo.
Por isso a colonialidade não é só fundante, mas constante para manter uma elite mínima apadrinhada por uma ordem mundial que, sendo o fundamento único de sua direção a unge de mais legitimidade – formal – quanto mais servil lhe seja. Por isso as elites periféricas disputam entre si a preferência imperial como único projeto político. Nesse sentido, com o golpe, a oligarquia boliviana jogava sua própria existência. Já que em treze anos não pode reverter – democraticamente – um processo que, longe ainda de ser revolucionário, sim pode iniciar o processo de recuperação de algo fundamental para todo projeto estatal: a soberania nacional. O que isso significava constituía razão suficiente para repor o caráter servil da oligarquia; fazer lobby em Washington era a própria necessidade de recuperar sua condição de elite caporal e, desse modo, reafirmar o próprio cerne de sua mais acabada ideologia senhorial; viver à custa de sua própria nação. Porque a nação é constituída precisamente pelo mais negado e excluído por esta casta: o índio.
Só se o índio é arrinconado na obediência, na submissão e, além disso, naturalizada sua inferioridade, é possível a presumida superioridade racial da elite oligárquica. Por isso a sinalização contra Evo era tão virulenta, porque o que ele representava era aquilo que significava para a elite, o desmoronamento de sua própria idiossincrasia. Por isso sua permanência governamental não era recusada por alguma razão democrática, mas sim porque um índio se apropriava daquilo que a oligarquia considera sua propriedade: o Estado. A narrativa da corrupção e da fraude serviram muito bem para ativar a ideologia senhorial que, por doutrinação pedagógica, midiática e cultural, naturaliza na cultura social o racismo urbano que faz da classe média a base de recrutamento da oligarquia para repor a ordem social que é, definitivamente, uma ordem racial.
Essa ordem social é, por essa razão, continua produtora de desigualdades e tende, por essa mesma dinâmica, a gerar explosões de convulsão social que funcionam como catalisadores de recomposição social (mediante a ativação do bode expiatório, como um literal expiação religiosa e, por isso mesmo, restaura a ordem que legitima a oligarquia como elite “meritocrática”). Como o atual sistema econômico mundial está pensado exclusivamente para benefício do 1% de ricos; do mesmo modo, os Estados periféricos são reduzidos a essa exígua representação como única quota de inclusão.

Facebook oficial MAS / reprodução
Para impor o neoliberalismo, o Estado profundo se propôs a aniquilar o sujeito popularContinua após o anúncio
Essa exígua porcentagem é clara na última reunião que teve toda a direita golpista boliviana no Comité Cívico de Santa Cruz. Que este Comitê tenha a autoridade para congregar toda a direita, já é algo que desentranha as características do golpe recente. Seu ex-presidente cívico e atual candidato à presidência, revelou que foi dali que se orquestrou a inclusão do exército e da polícia para liquidar a democracia na Bolívia. Sendo um personagem medíocre e sem maiores atributos, foi visto conspirando, em um nível quase oficial, com governos da região (Brasil, Argentina e Colômbia, entre eles), em datas próximas ao golpe de novembro. É claro que essa logística e a própria diligência desses governos, não é algo improvisado, mas que requer a aceitação e o patrocínio de um poder maior.
 Foto: Reinaldo Ortega
Foto: Reinaldo Ortega
O comparecimento em pleno da direita a essa reunião não o dita o tema a ser tratado, mas sim a obediência ao que representa esse poder que se acha por trás os próprios interesses que os irmana como único beneficiários dos propósito que propõe uma ingerência exterior. Um informe da Stratfor (think tank texano-israelense) dá conta que, desde 2008, quando fracassa o golpe cívico, Santa Cruz se constitui na trincheira da direita mais radical e tem, em entidades como seu Comitê Cívico, uma plataforma de confluência de interesses oligárquicos e que, por isso, pode facilmente se converter um nicho de operadores políticas que promovam a desestabilização sistemática do panorama democrático boliviano.
Por isso o modelo cívico é patrocinado ao resto do país e, na conjuntura prévia ao golpe, foram os Comitês Cívicos atores fundamentais para a desestabilização democrática. Por isso a reunião direitista não podia ser em outro lugar e isso já mostra que a tese da “resistência democrática das pititas” é apenas um relato para tontos úteis. O golpe foi gestado, como nas guerras, em ambiente seletos cuja admissão é administrada até pela classificação naturalizada das elites.
O suposto propósito da reunião era unificar a direita. Mas essa unificação era o mais improvável desde que se foi desmascarando as tramoias do golpe. As revelações do reitor da UMSA tampouco se dão por contrição moral, mas sim pelo exclusão da qual foi objeto. A própria autoproclamada não é tonta; uma vez que se dá conta que toda a inconstitucionalidade que representa a alteração democrática golpista, tem seu regime como direto responsável, isso significa inevitavelmente – em um retorno democrático – julgamento de responsabilidades. O círculo imediato que se vê envolvido junto a ela, não acha outra saída que sua postulação e provável triunfo fraudulento (do mesmo modo, as FF.AA. e a Polícia se entrincheirar na defesa do governo de fato, porque sua desobediência à Constituição, a execução do golpe e a defesa de um regime de facto que foi operado extra territorialmente poderia ser denunciado como traição à pátria).
Isto é, todos, na reunião, sem dizê-lo, embaralham suas possibilidade de sobrevivência, porque sabem, que de modo limpo, nenhum tem possibilidade de ser governo. Sabem que ninguém é confiável e isso foi visto nas última semanas. O que antes, no século passado, era promovido pela Igreja ou por alguma entidade com alguma estatura moral, agora é deixado ao porta-voz do verdadeiro poder que de novo lhes entrega em bandeja de prata a possibilidade de ser um governo obediente. O desacordo, que era o mais provável, é simplesmente a constatação de que a direita é colonial até nisso, porque necessita sempre de um patrão que os discipline.
A direita estava na reunião para exibir-se diante do olho imperial. Em última instância é a embaixada gringa e todo o aparato eleitoral já adquirido que decidirão a melhor opção para consolidar a ingerência imperial na política boliviana. Isto não quer dizer necessariamente que busquem um novo governo como o interlocutor ideal para viabilizar uma relação mais prometedor, ou seja, mais entreguista. Nas atuais circunstâncias e sob a ameaça de uma ordem tripolar e sua consequente repartição de suas respectivas áreas de influência, à decadente hegemonia imperial lhe é mais promissora a figura da balcanização de seu quintal. Esse é o projeto imperial que apresentam sob a bandeira de federalismo os Comitês cívicos de Santa Cruz e Potosí, de onde procedem curiosamente os supostos arautos da suposta “revolução pacífica”, Camacho e Pumari.
Para impor o neoliberalismo, o Estado profundo se propôs a aniquilar o sujeito popular, e isso supôs destroçar o aparato produtivo de nossos Estados; na Bolívia isso significou a “relocalização”, ou seja, decompor o movimento mineiro e, consequentemente, a classe operária. Sem sujeito não há projeto e sem projeto não há revolução. O exíguo triunfo do neoliberalismo tem na ausência de sujeito histórico a chave de sua permanência. Mas os deslocados ou “relocalizados” na Bolívia deram origem a um movimento muito mais preocupante (para o Império), porque se constituíram na ponte de unificação da luta socialista com a histórica insurgência indígena.
Por isso a fixação senhorial contra Evo não é tanto ao personagem (e seus excessos) mas sim ao que representa. Para a oligarquia, o êxito econômico do índio significava o fim de sua condição de elite. O que eles deveriam ter feito por este país, o índio fez (com todos os seus defeitos possíveis, que não são outros que os mesmos que ostentam a classe política). Em treze anos projetou a Bolívia como só o fez, em seu tempo, o marechal Andrés de Santa Cruz (por isso também a elite chilena auspicia o golpe; como na invasão ao litoral boliviano, o propósito atual é voltar a anular geopoliticamente a Bolívia e isso poderia ser realidade com o projeto de outro corredor bioceânico que não contemple a Bolívia e cuja conexão ao pacífico seja administrado pelo Chile). Por isso, para que o golpe se legitime e se mostre “democrático”, a oligarquia ativou o que o Império desenhou como nicho de recomposição colonial: o racismo naturalizado da classificação social, como restaurador da ordem que prega a elite. A língua solta da autoproclamada o expressou assim: “não deixemos que voltem a nos governar os selvagens”.
O chamado empoderamento popular, amainado conceitualmente como “processos de inclusão social”, foi inegável nestes passados treze anos. Isso começou a reconfigurar o panorama político, econômico, cultural e social, de tal modo que o racismo pareceu retroceder; pero só foi se inflamando impotentemente até que encontrou a oportunidade de explodir em ódio, quando se expulsou Evo da Bolívia. Ninguém até agora pode expor o que isso significou na subjetividade nacional-popular e que, em princípio, se desatou em uma resistência indignada, mas improvisada e até desorganizada. Agora que recém começa a reconstituir-se a resistência popular e pôr em estado de alerta à direita empoderada, se mostra até o desatino de seu comedimento golpista; essa direita conseguirá o que nem o próprio MAS pode, ou seja, reconstitui-lo como único referente democrático e popular.
Por isso o golpe na Bolívia não pode ser entendido a partir da noção tradicional que reiteram os manuais. O que estamos vivendo é algo inovador no panorama político de transição global. O Brasil e o regime de Bolsonaro são a prova mais eloquente da nova aposta imperial. Se antes propôs aniquilar a classe operária, agora seu plano é acabar com o indígena. Por isso é que Camacho tenha entrado no Palácio com a Bíblia nas mãos e que a autoproclamada festeje a entrada de Cristo no governo não é casual. Assim começa a modernidade. Seu credo evangelizador foi sempre o mesmo; Ou te “converteres” ou te aniquilamos. Converter-se, ou seja, modernizar-se, significou sempre deixar de ser o que se é, renegar de si mesmo e renunciar até às própria riquezas, como pagamento pelo pecado de não ser moderno. Por isso Bolsonaro diz: “os índios não são seres humanos, como nós”.
A presença da embaixada brasileira na reunião (na Universidade Católica) que decidiu a presidência de Añez, não é como se diz, de “simples mediação”. A oligarquia brasileira é uma das beneficiadas do assalto ao poder que faz o elite de Santa Cruz e, por conectividade política e econômica, é ponte de conexão com os interesses da geoeconomia do dólar.
É no âmbito mais profundo onde se decide um assalto de tal magnitude, como um golpe; por isso a história dos golpes sempre nos conduz a poderes ocultos que semeiam as condições para que os cenários se desenvolvam até por inércia. Nesse âmbitos não há nada comprovável, nada escrito, pois tudo se pode negar de modo plausível. Por isso não é empiricamente como se desentranha isso, mas sim por reflexão dialética. E o que faz a dialética é fazer aparecer, mediante a razão, o que não aparece antes os olhos.
A reflexão que fazemos não é uma análise de conjuntura, porque tal exame é apenas uma descrição do fenômeno, onde só se detalha a cenografia para consumo da morbidez política. O que expomos é uma reflexão conjuntural. E esta não pode ser realizada sem proceder com o que chamamos de dois recortes metodológicos: o recorte vertical de densidade histórica e o recorte horizontal de contexto amplificado. O segundo é a perspectiva geopolítica que nos ajuda a transcender a mirada reduzida local ou particular; enquanto o primeiro nos permite observar que tipo de profundidade histórica se debate no presente como definição política.
Nesse sentido, não apenas podemos destacar a teologia implícita na política que, inevitavelmente, nos conduz não só à experiência da conquista, mas a forma como o capitalismo recorre a sua narrativa fundacional como cristandade imperial; por isso se pode dizer que, se desde o Concílio de Nicéia de 325 o cristianismo se imperializa, graças à Conquista do Abya Yala, aquela vocação imperial conseguiu reunir as condições materiais e formais para se realizar definitivamente. Esse cristianismo se torna capitalismo (a modernidade produz o capitalismo, para que este reproduza a modernidade, mediante a produção da sociedade moderna, cuja religiosidade do progresso o constitui no céu substitutivo que faz do mercado o altar onde o mundo inteiro rende culta ao deus capital).
Por isso o capitalismo e a modernidade, em sua crise terminal, recorrem a suas narrativas fundacionais que são, sempre, apelações transcendentais, ou seja, teológicas. Que a Bíblia “protestante” esteja me mãos dos golpistas, e com a cruz justifiquem o genocídio que se ia desatar, descobre toda esta história e nos devolve à própria origem do sistema-mundo que, em sua própria decadência, recorre à mesma simbologia com a qual iniciou sua conquista mundial. Por isso não é que a religião e a política constituam um coquetel perigoso, mas, em última instância, toda política é teologia secularizada.
O assunto que concerne à reflexão dialética é explicitar que classe de teologia funda as pretensões das apostas políticas. Por isso, em se tratando de aniquilar o povo como sujeito histórico- político – como na política de “extirpação das idolatrias” – uma teologia de dominação, o que se propõe é abater e aniquilar seu espírito, e isto só se consegue teologicamente. O cívico-golpista Camacho o expressou muito bem quando diante de uma massa fanatizada e cativada pela ideologia senhorial e aos pés do Cristo redentor, dizia que tirar o índio ditador era uma “guerra espiritual”. Os cientistas sociais, como fiéis herdeiros do iluminismo e da ilustração, não entende isto e, portanto, não sabem decodificar a teologia implícita na política moderno e tampouco sobem opor a ela a espiritualidade própria de um povo que só pode se constituir como povo a partir de seu próprio universo místico.
Pouco a pouco se vai desfazendo a néscia intenção de ver uma “revolução pacífica” no que foi um golpe geopolítico, de acordo a medianamente inovadora implementação de um “revolução de cores”, no marco das atuais guerras híbridas. Por isso, os interesses em jogo não são só locais e, pouco a pouco, vão manifestando propósitos que apontam a uma redefinição do tipo de administração que transforme a América do Sul como uma área de contenção da economia do dólar contra a nova Rota da Seda ( se todos os caminhos conduzem a Roma, então é preciso bloqueá-los ou submetê-los à administração dissuasiva do controle de fluxo de recursos estratégicos, ou seja, chantagem contínua).
Se a economia mundial se dirige definitivamente ao pacífico, o dólar só pode subsistir de modo defensivo: isolar a América do Sul se converte na garantia de reposição, pelo menos dissuasiva, do Império em sua etapa pós imperial (só se é Império em um mundo unipolar onde todo o mundo é periferia de um centro único, o demais é só pretensão imperial). Por isso a disputa das áreas de influência representa uma reconfiguração da cartografia estratégica da geopolítica do poder mundial. Isolar a América do Sul consiste em um rapto tácito que já não responde ao desenho centro-periferia, mas sim ao redesenho da própria geopolítica. Se já não se conta com as condições de possibilidade de irradiação de seu poder estratégico, então a única aposta pós imperial consiste na consumação do poder cru como fatalidade histórica.
Por isso o desenho centro-periferia resulta obsoleto agora para entender algo mais sinistro: o mundo da ordem e o inferno do caos indefinido. A última turnê do chanceler russo, Lavrov, pela Venezuela, Cuba e México (em contraposição à turnê de Mike Pompeo) poderia representar, para equilibrar a preocupante situação regional, a aposta dissuasiva da China e da Rússia de não permitir, até para seu próprio benefício, outro sangramento exponencial como propício os EUA no Oriente Médio. Também pela miopia geopolítica dos passados governos progressistas não se aproveitou o melhor momento que tivemos quando a UNASUL, o Banco do Sul, o ALBA-TCP, a CELAC etc., e toda a iniciativa bolivariana do comandante Chávez gozavam das melhores condições contextuais. Os propulsores do socialismo do século XXI tampouco perceberam que também havia já um capitalismo do século XXI.
Se a esquerda continental aprendeu algo deste novo retrocesso, deveria se dar conta que o sujeito da revolução já não é a quase inexistente classe operária. O novo sujeito da revolução é o índio e o afro, cujo horizonte propositivo de vida não é o moderno (como foi do proletariado, produto da classificação social do capital).
Por isso o golpe na Bolívia triunfa. Porque a direção governamental nunca potencializou aquela novidade e crendo que o empoderamento das classes subalternas só consistia em sua ascensão social, a única coisa que produziu foi a direitização dos setores emergente que, inevitavelmente, iam assimilar-se ao horizonte de preconceitos e expectativas senhoriais como a moeda de admissão que a oligarquia administrou sempre a seu favor. Por não apontar à revolução cultural, o próprio democrático já não significa democratização ou criação do poder popular, mas sim o desenvolvimento da inércia da instituído como democracia formal, ou seja, burguesa, auspiciadora da reposição oligárquica (por isso a direção governamental, o também chamado círculo blancóide ou q’ara, no golpe, deixou órfão a um povo de não potencializado de sua função democrática e revolucionária).
A verdadeira resistência ao golpe na Bolívia provém deste horizonte abandonado pela esquerda eurocêntrica que agora reduz seu panorama e suas apostas políticas ao puro eleitoralismo, que se não houvesse acontecido nada. Não ficou sabendo que o golpe pôs em crise a própria democracia e seu fetichismo do voto (sepultando a deliberação e a politização plena do povo constituído em sujeito). Se o voto se pode manipular e até comprar, ou seja, se o voto se torna uma mercadoria a mais, então esta democracia não é o poder do “demos” mas sim do “kratos” do capital.
Esta democracia converteu-se em uma armadilha que é preciso denunciar como que é: pura mitologia imperial. Recuperar a democracia para ungir de novo ao povo com o espírito democrático supõe libertar a democracia de seu rapto imperial.
Uma revolução democrático-cultural só será possível transcendendo a democracia como sistema fechado de validação formal para criar um sistema aberto de politização democrática ou democratização política, ou seja, a criação a partir de baixo, do poder popular.
Rafael Bautista S. é autor de: “El tablero del siglo XXI: geopolítica des-colonial de un nuevo orden post-occidental” // Yo soy si Tú eres (edições, 2019). Dirige “a oficina da descolonização”
Tradução: Beatriz Cannabrava
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Publicado originalmente em Resumen Latinoamericano
Veja também