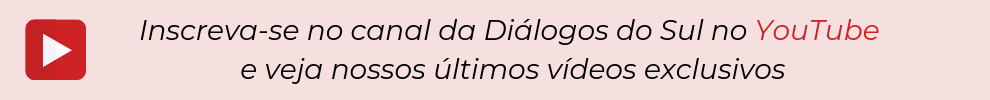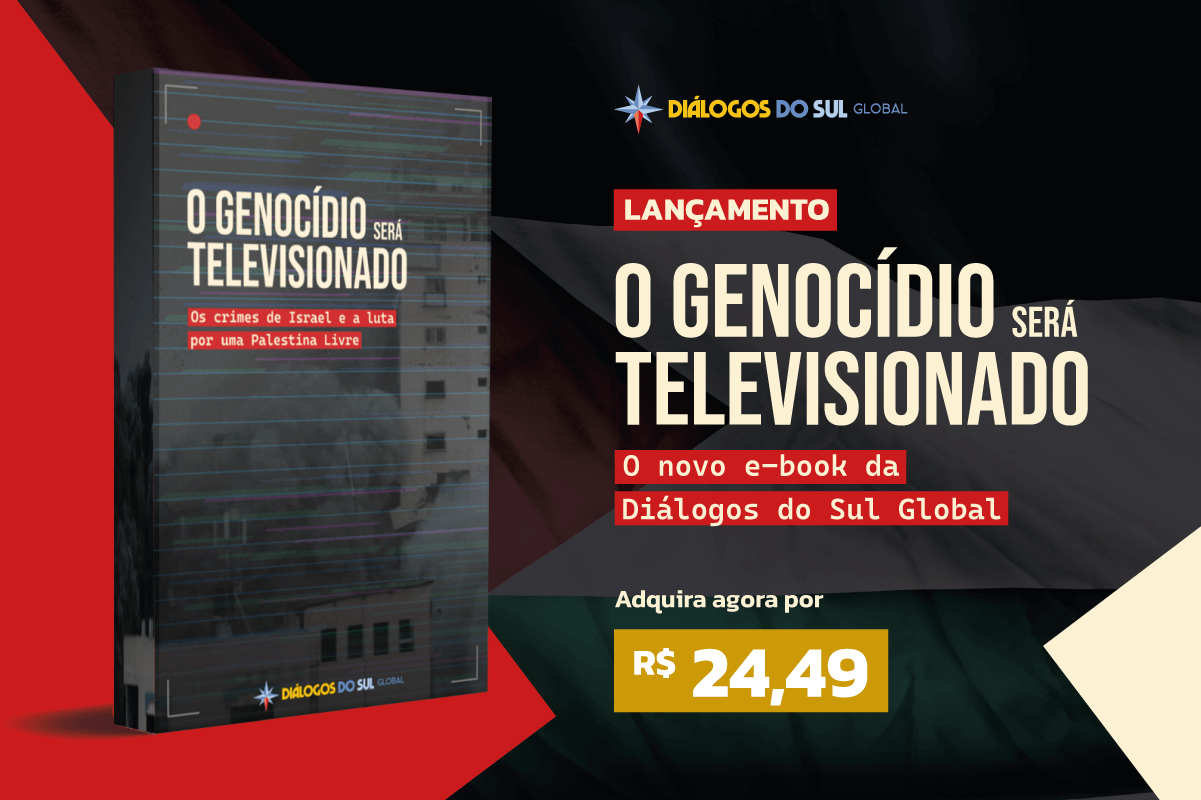Conteúdo da página
ToggleNo Reino Unido, no entanto, o “Estado profundo” assumiu uma forma tangível durante o período de conflitos na Irlanda do Norte, caracterizado pelo confronto entre as forças nacionalistas favoráveis à reunificação da Irlanda e majoritariamente católicas, de um lado, e, do outro, os legalistas, protestantes e determinados a fazer de tudo para que a Irlanda do Norte permanecesse dentro do Reino Unido.
Há um conceito recorrente no vocabulário político: o de “Estado profundo”. Originalmente, referia-se à estreita relação entre instituições estatais repressivas, o crime organizado e a extrema-direita em países que experimentaram ditaduras militares, como Grécia e Turquia. Entretanto, foi esvaziado de sentido ao ser adotado pelos apoiadores do Brexit e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: o que eles chamam de “Estado profundo” nada mais é do que a própria definição de Estado, o “governo permanente” de funcionários e juízes com os quais todo poder eleito deve contar.
No Reino Unido, no entanto, o “Estado profundo” assumiu uma forma tangível durante o período de conflitos na Irlanda do Norte, caracterizado pelo confronto entre as forças nacionalistas favoráveis à reunificação da Irlanda e majoritariamente católicas, de um lado, e, do outro, os legalistas, protestantes e determinados a fazer de tudo para que a Irlanda do Norte permanecesse dentro do Reino Unido. Durante o conflito (1968-1998), as forças de segurança britânicas colaboraram com paramilitares responsáveis por centenas de assassinatos de lideranças. Hoje, evidências e testemunhos mostram que essas ações foram mais amplas e violentas que as empreendidas pelos (infelizmente) notórios Grupos de Libertação Antiterrorista (GAL) da Espanha – esquadrões da morte patrocinados pelo Governo de Felipe González (1982-1996), treinados para eliminar os ativistas bascos do Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Na Irlanda do Norte, a história desse tipo de conluio mostra até que ponto o “Estado profundo” atuou contra aqueles que identificou como adversários no território nacional.
Em sua luta contra o poder britânico, o Exército Republicano Irlandês (IRA) e outros grupos republicanos menores mataram 2057 pessoas, ou 58% do número total de vítimas do conflito (3532). Por sua parte, grupos leais ao Estado – incluindo a Força Voluntária de Ulster (UVF), formada em 1966, e a Associação de Defesa de Ulster (UDA, 1971)1 – mataram 1027 pessoas. Mas foram implacáveis em atacar até não combatentes, e são responsáveis por quase metade das vítimas civis do conflito. Cerca de 85% dos mortos por paramilitares legalistas eram civis, contra 35% dos republicanos.2
Oficialmente, os governos subsequentes sempre declararam que suas forças de segurança se comportaram da mesma forma com todos os combatentes, republicanos e legalistas. Havia, contudo, duas razões óbvias para que adotassem medidas diferentes com os legalistas: ao contrário do IRA, eles não tentavam matar soldados, policiais ou políticos, e estavam enraizados na comunidade protestante e sindicalista que fornecia a grande maioria dos recrutas às forças de segurança da região. Não poderia haver cooperação entre o Estado britânico e o IRA. Por outro lado, havia uma base potencial para a colaboração entre forças de segurança e grupos legalistas contra seu adversário comum.
Os porta-vozes do governo chamaram de “propaganda republicana” qualquer evocação de conspiração, mesmo quando formulada por líderes nacionalistas hostis ao IRA. Desde os anos 1990, no entanto, as provas se acumularam. Embora não houvesse comissão de verdade e reconciliação como na África do Sul pós-apartheid, uma série de relatórios oficiais estabeleceu a existência de uma ampla colaboração entre agentes estatais e paramilitares legalistas.

Foto: Creative Commons
Sucessivos governos apresentaram a mesma resistência à abertura de uma investigação pública completa sobre o assassinato de Finucane
Paramilitares no Exército
As formas da violência legalista variaram durante o conflito. O primeiro pico ocorreu em meados da década de 1970: entre 1972 e 1976, grupos protestantes mataram 567 pessoas, a grande maioria civis católicos. Seguiu-se um período de relativa inatividade na primeira metade dos anos 1980, antes da retomada da campanha de assassinatos comunitários. Os legalistas mataram cinquenta pessoas entre 1983 e 1987; 224 entre 1988 e 1994. Em 1992, a UVF e a UDA tiveram mais baixas que o IRA – na maioria das vezes civis, católicos atingidos aleatoriamente.
O sinal mais claro da tomada de partido das autoridades a favor dos paramilitares legalistas foi o estatuto da UDA, organização que permaneceu legalizada desde sua fundação em 1992. Em 1972, uma nota oficial recomendava que certos integrantes do governo não deveriam ser impedidos de se engajar no Exército britânico por meio do Regimento de Defesa de Ulster (UDR): “A UDA não é uma organização ilegal, e fazer parte dela não constitui uma ofensa prevista pelas leis militares. É também uma grande organização cujos membros não podem ser considerados extremistas perigosos. Seria contraproducente excluir um membro do UDR alegando que ele está envolvido na UDA”.3 Um documento classificado, publicado no ano seguinte, revela que entre 5% e 15% dos membros do UDR “tinham vínculos com paramilitares e que a associação simultânea em ambas as organizações era frequente”. Também informava que os soldados do UDR costumavam entregar armas e munições para grupos legalistas, sua “única fonte significativa de armas modernas”.4
Grande parte das pesquisas sobre o conluio na década de 1970 se concentrou na atividade de Glenanne Gang, uma milícia legalista responsável por mais de cem mortes. Entre as atrocidades que cometeu, a história registra a explosão de bombas que mataram 33 pessoas em Dublim e Monaghan, em 1974. Integrantes em atividade da Polícia Real de Ulster (Royal Ulster Constabulary, RUC) – a força armada que estava na vanguarda da contrainsurgência britânica – e do UDR faziam parte dessa milícia.
Cumplicidade com as violências legalistas
Compreende-se a razão pela qual, no fim da década de 1970, os ministros relutaram em aprofundar o assunto. Na época, a política de contrainsurgência de Londres sobre a Irlanda do Norte movia-se em direção à “ulsterização”. Na luta contra o IRA, tratava-se de incrementar o efetivo com pessoal recrutado localmente, para limitar as perdas entre os soldados e reduzir a pressão sobre os dirigentes políticos para que colocassem um fim ao conflito. Se as “provas indiscutíveis” tivessem sido divulgadas, o governo teria tido muito mais dificuldade em justificar uma política de segurança que dependesse tanto da RUC e do UDR.
No centro da retomada da campanha legalista no fim dos anos 1980 e início dos 1990, estava um membro da UDA: Brian Nelson. Agente da Force Research Unit (FRU), o serviço secreto de inteligência do Exército britânico, ele tornou-se chefe dos serviços de segurança da UDA. Seu paradeiro veio a tona por causa de seu papel na preparação do assassinato, em 12 de fevereiro de 1989, de Patrick Finucane, um advogado bem-conceituado que havia defendido suspeitos do IRA.
Sob pressão do governo conservador de John Major, o promotor concordou em fazer uma barganha se ele confessasse o crime: Nelson seria condenado a dez anos de prisão e liberto após quatro anos, com a garantia de que não seria submetido a interrogatórios novamente durante seu julgamento,8 em 1992. Seu comandante, Gordon Kerr, testemunhou em seu lugar e assumiu a “responsabilidade moral pessoal” das ações de seu subordinado e o descreveu como um homem “totalmente leal ao sistema”.9 Passado o processo, revisitou que Kerr induziu o tribunal ao erro em relação às atividades de Nelson no seio da UDA: em vez de impedir atos terroristas, ele teria reorganizado os arquivos do serviço de inteligência da FRU para melhorar a precisão dos alvos.
A carreira de Nelson ilustra um ponto crucial no gerenciamento de indicadores pelas forças de segurança. O braço especial da RUC, que estava na vanguarda da guerra da inteligência, dispunha de centenas de informantes nos grupos legalistas até os anos 2000. Os defensores das forças de segurança argumentavam que, às vezes, era preciso ignorar as atividades criminosas de alguns se as informações por eles fornecidas ajudassem a impedir os atentados. No entanto, esse argumento entra em colapso se a verdadeira missão de informantes como Nelson era reforçar os grupos nos quais se infiltraram.
Pouco a pouco, desenhou-se uma imagem clara da cumplicidade das forças de segurança junto à violência legalista: veículos que atuavam como barreiras nas estradas misteriosamente se retiravam quando a ação estava iminente; informantes eram avisados antes do momento de serem presos; pistas óbvias que permaneceram inexploradas; provas omitidas ou destruídas.10 Diante dessas revelações, o Estado britânico e seus apoiadores afirmaram que esse conluio era um fenômeno circunscrito à base, liderado por membros desonestos da RUC e do UDR que entregavam arquivos de inteligência aos paramilitares legalistas e fechavam os olhos em momentos cruciais. No entanto, eles permanecem calados quando confrontados com as provas de conspiração entre o alto escalão e a base. Os principais integrantes da polícia e das Forças Armadas estabeleceram a estrutura de operação de suas forças, e sua tutela política em Londres foi totalmente informada. Se os oficiais no alto escalão de comando não tinham uma visão completa do que estava acontecendo no local, era porque eles não queriam saber.
Os sucessivos governos apresentaram a mesma resistência à abertura de uma investigação pública completa sobre o assassinato de Finucane, provavelmente temendo que as peças do quebra-cabeça se ajustassem e construíssem a imagem completa. A batalha pela atribuição de responsabilidades não vai parar e apenas agrava a turbulência em um cenário político já desestabilizado pela crise do Brexit .
*Daniel Finn é autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA [Terrorista de um homem só: uma história política do IRA], Verso, Londres, 2019.
1 Ambas as organizações encerraram suas campanhas em meados dos anos 1990, mas ainda existem. Continuam praticando atos criminosos e cometendo atos de violência, embora em menor escala.
2 Todos os números citados neste artigo foram extraídos do banco de dados da Cain Bibliography, especializada no conflito da Irlanda do Norte: <https://cain.ulster.ac.uk>.
3 Citado por Margaret Urwin, A State in Denial: British Collaboration with Loyalist Paramilitaries [Um Estado em negação: colaboração britânica com paramilitares legalistas], Mercier Press, Cork, 2016.
4 Citado por Anne Cadwllader em Lethal Allies: British Collusion in Ireland [Aliados letais: conluio britânico na Irlanda], Mercier Press, 2013.
5 Citado por Anne Cadwllader, op. cit.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ian Cobain, The History Thieves: Secrets, Lies and the Shaping of a Modern Nation [Os ladrões da história: segredos, mentiras e a formação de uma nação moderna], Portobello Books, Londres, 2016.
9 The Irish Times, 30 jan. e 4 fev. 1992.
10 Cf. Mark McGovern, Counterinsurgency and Collusion in Northern Ireland [Contrainsurgência e conluio na Irlanda do Norte], Pluto Press, Londres, 2019
Assista no Canal Diálogos do Sul