Conteúdo da página
ToggleNULL
NULL
Conservadora e curta, com pouco mais de duas linhas, a Lei nº 3.353, a chamada Lei Áurea, decretou, no dia 13 de maio de 1888, o fim legal da escravidão no Brasil. Mas se a escravidão teve seu fim do ponto de vista formal e legal há 130 anos, a dimensão social e política está inacabada até os dias atuais. Essa é a principal crítica de estudiosos e militantes dos movimentos negros à celebração do 13 de maio como o dia do fim da escravatura.
Juliana Gonçalves*, no Brasil de Fato | Ilustrações: Gabriela Lucena
A promulgação da Lei Áurea foi uma ação recheada de pompa, como observado no registro fotográfico de António Luiz Ferreira, em que uma multidão aguarda do lado de fora do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, para a assinatura.
O Império sofria pressões internacionais fortes para tirar da legalidade a possibilidade de se escravizar pessoas. Além disso, aumento das ideias abolicionistas e as constantes fugas e insurreições dos escravizados tornavam a escravização um negócio cada vez menos rentável.
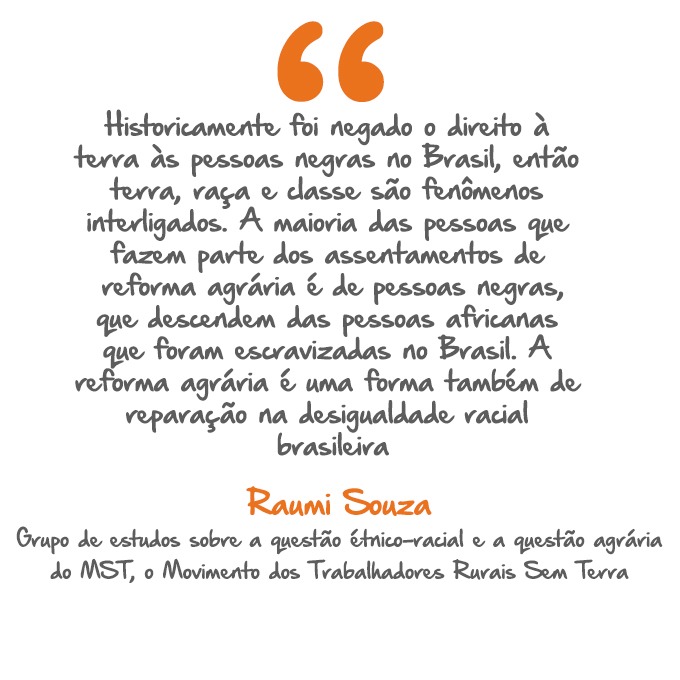
Militante do movimento negro, Katiara Oliveira fala sobre esse período com base em uma historiografia pouco explorada, mas verdadeira: “A abolição não se deu por uma simples assinatura. As revoltas e rebeliões, como tacar fogo no canavial, fuga para quilombos, suicídio, infanticídio, envenenamento dos senhores de engenho, causaram prejuízo para os senhores do engenho. Existiram várias formas de enfrentar o poder do senhor”.
Mesmo assim, o Brasil foi o último país do ocidente a abolir a escravidão. A lei áurea foi a lei mais popular e a última do Império. Um ano e meio depois da abolição, o Império acabou. Historiadores desse período, a exemplo de Lilia Moritz Schwarcz, professora do Departamento de Antropologia da USP, apontam que o Estado protelou ao limite máximo a proibição à escravidão, e isso custou a vida do regime.

Inconclusa
Há décadas, os movimentos negros caracterizam a data como dia da abolição inconclusa, ressaltando a luta dos negros por liberdade e desmistificando a figura da princesa Isabel como a benfeitora dos negros.
Da coordenação nacional do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Jussara Basso comenta essa abolição formal e incipiente. “Essa ideia de abolição inconclusa na verdade coloca o povo negro numa condição de escravidão remunerada”, pondera.
Um ano depois da abolição, teorias racistas baseadas em métodos pseudocientíficos, que buscava apontar o negro como biologicamente inferior, começaram a ganhar corpo e voz como ideologias do branqueamento racial amplamente aceita no Brasil entre 1889 e 1914. Nesse sentido, embranquecer física e culturalmente o país se tornou um grande objetivo de um lugar que precisava apagar a presença negra, o que levou ao incentivo à imigração europeia para trabalhar nas lavouras, excluindo os trabalhadores negros.
 O fato defendido por especialistas e pesquisadores é que a lei que libertou os descendentes de africanos não trouxe reparações históricas e os escravizados naquele dia foram, ao mesmo tempo, libertos e abandonados, sendo, mais tarde, marginalizados.
O fato defendido por especialistas e pesquisadores é que a lei que libertou os descendentes de africanos não trouxe reparações históricas e os escravizados naquele dia foram, ao mesmo tempo, libertos e abandonados, sendo, mais tarde, marginalizados.
Raumi Souza concorda com essa afirmação. Ele faz parte do grupo de estudos sobre a questão étnico-racial e a questão agrária do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. “A abolição da escravidão foi uma ilusão. O escravo saiu da senzala, saiu da fazenda, e passou a ser livre, mas uma liberdade que não lhe dá acesso a terra ou a bens materiais e financeiros não lhe dá dignidade”, lamenta.

Desigualdade
Até hoje, as estatísticas comprovam em diversos níveis como o país é profundamente desigual e que a classificação por raça é sempre um agravante. A renda domiciliar per capita da média da população branca é mais que o dobro da renda da população negra: são R$ 1.097,00 para brancos contra R$ 508,90 para negros, segundo estudo de 2016 do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Segundo o outro índice do estudo, batizado de Desenvolvimento Humano Municipal, que leva em conta renda, saúde e educação, os negros no Brasil têm dez anos de atraso quando comparado aos brancos.
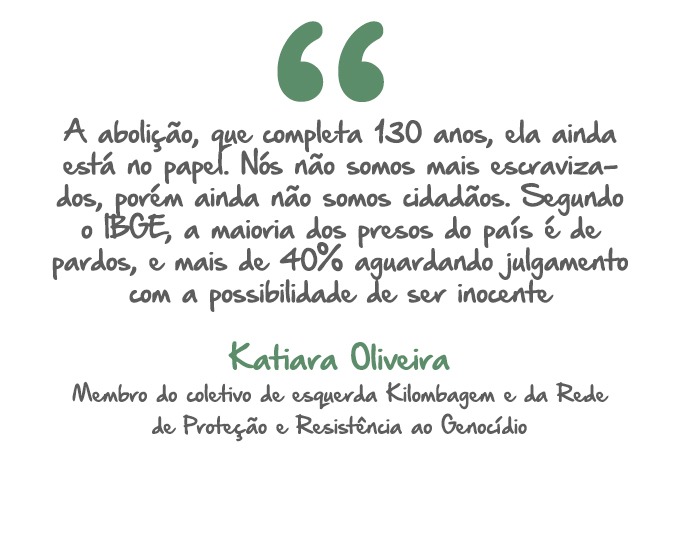
Dados como esse mostram como a assinatura da lei áurea desacompanhada de políticas de reparação perpetuou desigualdades vistas até hoje entre brancos e negros. O advogado Daniel Teixeira, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), conta como eram comuns legislações paliativas ou nada efetivas quando o assunto era remediar os estragos da escravidão, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, entre outras.
”Um exemplo disso é a expressão ‘leis para inglês ver’, que é uma expressão que vem de leis abolicionistas justamente porque faltava efetividade a elas. Elas eram editadas para passar uma imagem de um país que não aceitaria a escravidão, mas na prática foi o último país a abolir, ainda que só formalmente”, explica.
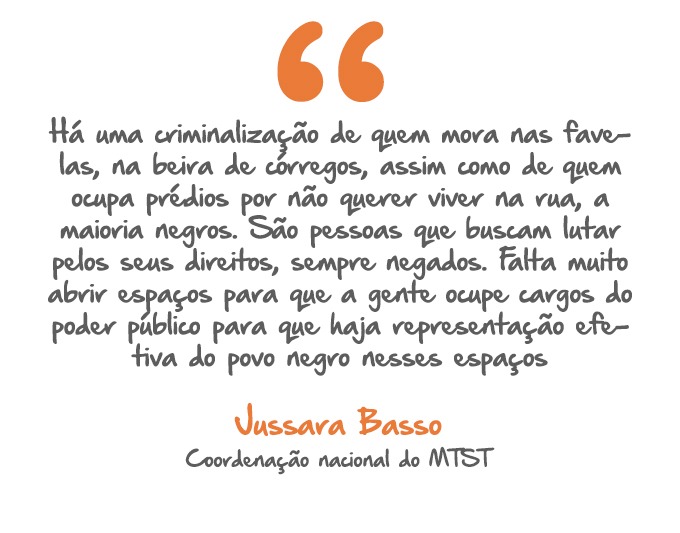
O Brasil de Fato conversou com uma série de especialistas para entender como essa abolição inacabada pode ser identificada nos dias atuais em diferentes setores.
Direitos negados
 Katiara Oliveira
Katiara OliveiraPara Katiara Oliveira, do Coletivo Kilombagem e da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, a abolição está apenas no papel. Prova disso seriam os altos índices de assassinatos de jovens negros. “O genocídio da população negra é a expressão de que o povo negro não ascendeu à condição de cidadão, porque não teve os direitos básicos garantidos como moradia,
saúde, educação e o direito básico à vida. Pessoas morrem no
Brasil por serem negras, por serem pobres e negras”, diz.
Segundo dados da Mapa da Violência de 2014, que compila informação desde 1998, 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados no Brasil anualmente. São 63 por dia, ou um a cada 23 minutos. Ou seja, dos 30 mil jovens mortos por ano, 77% são negros.
Se esses dados revelam mortes predominantemente masculina, as mulheres não brancas não estão mais seguras. O mesmo Mapa da Violência aponta que a morte de mulheres negras aumentou 54% nos últimos dez anos, enquanto o assassinato de mulheres brancas caiu 10%.
 Érika Malunguinho
Érika Malunguinho
Érica Malunguinho, ativista e gestora do espaço cultural independente Aparelha Luzia de artes negras, localizado em São Paulo, aponta o descaso do Estado em não dar ao tema a seriedade adequada. ”Sem dúvidas, o feminicídio atinge mais as mulheres negras, assim como apaga toda carga de outras violências estruturais, pois o fundamento racial da maneira que é ideologicamente praticado, tem como alvo constante as nossas vidas”, pondera.
Neste contexto, as desigualdades entre as mulheres é gritante. “As mulheres lésbicas, trans e as travestis se tornam mais vulneráveis ainda no que eu chamo de hierarquia da tragédia anunciada”, pontua Malunguinho, que é uma mulher trans.
De modo geral, a falta de resposta do estado ao genocídio negro se relaciona diretamente com as questões de segurança pública, mas não só com ela. Há indícios de que não é só a bala que mata, mas a negligência do Estado com relação à saúde da população negra também causa mortes.

Emanuelle Góes, epidemiologista e doutora em Saúde Pública, explica como os negros ainda morrem de doenças tratáveis como
tuberculose, pressão alta, HIV/AIDS, entre outras. “A falsa abolição, de fato, tem uma interferência na saúde da população negra”, conta.
Góes celebra o Sistema Único de Saúde (SUS), como uma política que beneficiou muito a população negra, porém, pontua que ele não consegue suprir todas as desigualdades. “Com o SUS, um sistema universal, integral e equânime e que preconiza a distribuição de forma equitativa, com justiça social e direitos, temos uma melhora, mas não o equilíbrio. Ainda acontecem disparidades raciais na saúde”.
Se o tema universal da saúde reflete diferenças entre brancos e negros, há uma linha da historiografia que aponta que a falta de distribuição de terras na época da escravidão é o berço de todas as desigualdades.
 Raumi Souza
Raumi SouzaRaumi Souza, do MST, resume a questão no campo. “Até hoje a luta pela terra é também uma luta contra resquícios da escravidão”.
Ele afirma que luta no campo é uma luta negra: “O sem-terra de hoje é o escravo de ontem”. Para ele, há apenas um caminho para tentar diminuir esse fosso histórico que não permite a equidade. “A abolição não se concluiu e só vai se concluir quando existir reforma agrária. Distribuição de bens e da terra é um fator
importante dessa democratização”.
Além da reforma agrária, a titulação precária de terras quilombolas também reflete traços dessa falsa abolição. O direto à terra negado em 1888 permanece. Segundo dados da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), apenas 4% dos mais de 1.600 processos de titulação de terras quilombolas em andamento no Incra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foram concluídos.
O programa de reconhecimento de áreas quilombolas não só não avança como seu orçamento encolheu 94% em sete anos, despencando de R$ 64 milhões em 2010 para R$ 4 milhões em 2017.
A recente tragédia que colocou fim à ocupação no edifício Wilton Paes, em São Paulo, trouxe à tona o debate das ocupações nas cidades.
 Juçara Basso
Juçara Basso
Jussara Basso, da coordenação nacional do MTST, lembra que o direito à moradia previsto na Constituição de 1988 é negado à população negra e pobre.
“Para nós é reservado o direito à calçada. Essa tragédia apontou uma necessidade imediata que se tenha um programa habitacional que realmente atenda a população de baixa renda desse país, e programas sociais que garantam uma existência mais digna”.
Ela destaca que a população negra é maioria entre as populações de rua, assim como nas ocupações, nas periferias e nos subempregos. “O que a gente percebe é que não se avançou em nada nas políticas sociais que buscam um formato de inclusão e divisão das riquezas desse país. Na verdade trabalhamos para garantir a riqueza de poucos enquanto nós vivemos da maneira que dá”, expõe.
 Daniel Teixeira
Daniel TeixeiraAssim como acontece com a pauta da moradia, Daniel Teixeira, advogado do CEERT, analisa como a vida dos negros, que são 53% da população, é permeada por uma cultura jurídica que não vê a igualdade racial como um vetor de transformação. “É possível falar de prejuízos que ocorrem desde a legislação tributária, que tributa mais sobre o pobre, onde está a população negra, até a questão de suspeição em crimes que a gente vai ter na rua uma abordagem policial que ‘privilegia’ as pessoas negras como suspeitos”, lembra.
Em um país cuja história, se reduzida a um período de 10 dias, viveu 7 dias sob regime escravagista, e que ainda apresenta formas radicais de racismo estrutural, é difícil falar sobre desigualdade em profundidade sem considerar racismo, machismo, heteronormatividade e LGBTfobia.
 Bianca Santana
Bianca SantanaEssa é a opinião da escritora e doutoranda em Ciência da Informação Bianca Santana. “Essas pautas não são pautas menores que isolam, essas são pautas estruturantes do sistema desigual que a gente vive”, afirma.
Autora do livro Quando me Descobri Negra, publicado em 2015, Santana acredita que romper o silêncio sobre o racismo é uma forma de combatê-lo. “O meu processo de me descobrir mulher negra, que eu escrevo no livro, que eu ouvi também de tantas outras mulheres, foi perceber o quanto esse silenciamento sobre a questão racial reforçava essa ideologia de branqueamento: ‘não vamos falar sobre a questão racial porque não tem nenhum problema aqui’”.
Talvez seja excesso de otimismo acreditar que os efeitos de 300 anos de escravidão poderiam ser revertidos em 130 anos, mas o fato é que cada vez mais setores fazem coro com os movimentos negros ao afirmar que a transformação social profunda do Brasil só se dará por meio de políticas sérias de reparações para o povo negro. A ver.









