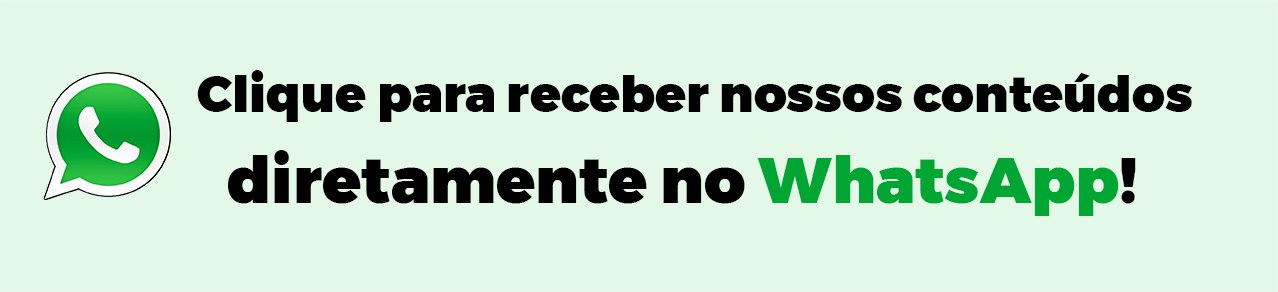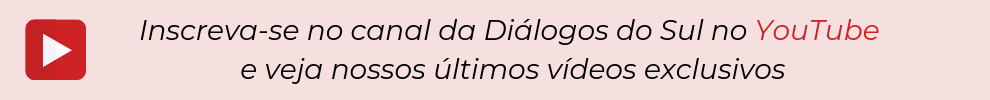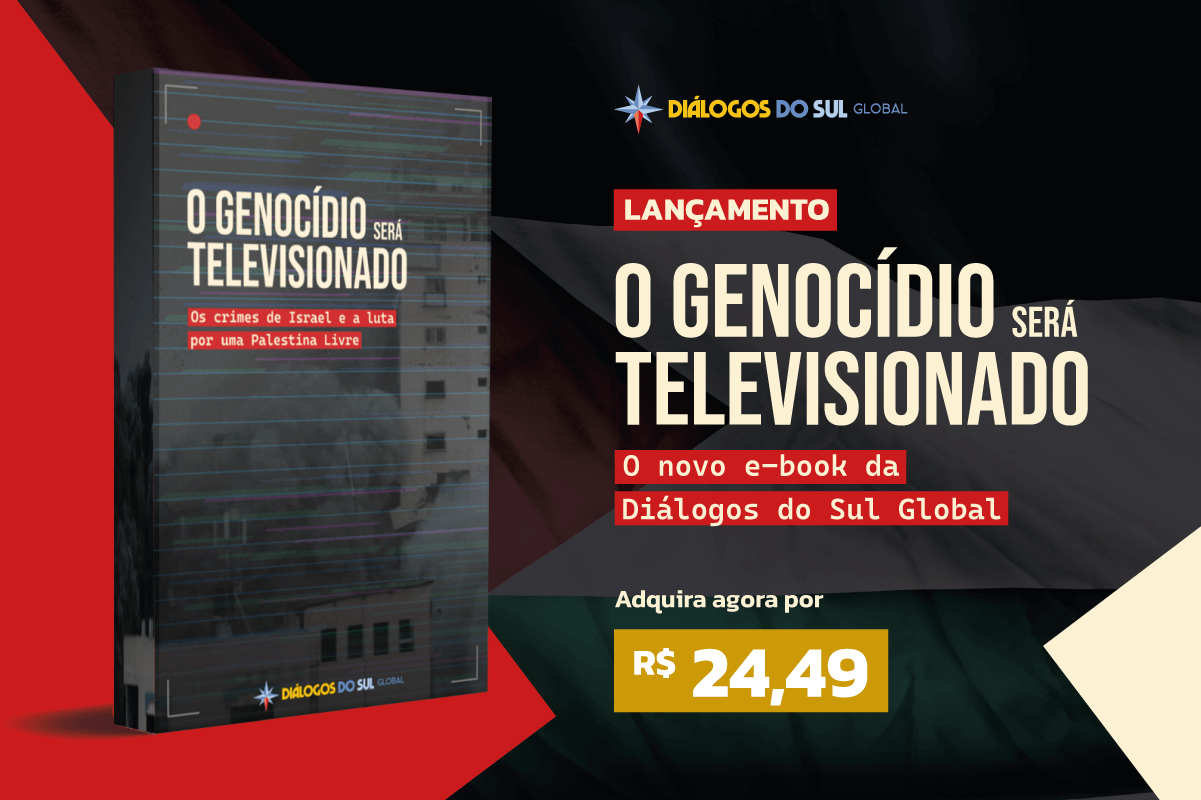Conteúdo da página
ToggleOs recentes discursos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores sobre os efeitos da Covid-19 no Brasil escancaram práticas da necropolítica e a normatização da violência no país, segundo o professor Dennis de Oliveira, coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP (Universidade de São Paulo).
“Curioso perceber como, mais uma vez, tentam criar um pensamento pretensiosamente racional para justificar um processo genocida, dizendo que os mais fortes sobrevivem e que essa seria a única lógica capaz de manter a economia funcionando. São exatamente essas ideias que sustentaram as teorias do nazismo na Alemanha”, defende Dennis em entrevista à Ponte.
De acordo com Oliveira, que é autor dos livros Jornalismo e emancipação: uma prática jornalística baseada em Paulo Freire (Appris, 2017) e A luta contra o racismo no Brasil (Fórum, 2017), o conceito de necropolítica, desenvolvido pelo filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe, uma política “que decide quem pode viver e quem deve morrer”, ganha visibilidade no país em um momento onde “o que está sendo colocado como opção aos trabalhadores mais pobres é a escolha entre morrer de fome ou de coronavírus”.

Ponte / Ilustração Junião
Os efeitos da Covid-19 no Brasil escancaram práticas da necropolítica e a normatização da violência no país,
Confira a entrevista
Ponte – O que é a necropolítica?
Dennis de Oliveira – Em poucas palavras, a necropolítica trata de uma política de “estado de sítio permanente”, em que uma suposta “soberania” decide quem são aqueles que podem morrer e os que devem viver. É um conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe, que foi orientando do francês Michel Foucault. Mbembe cria esse termo para fazer um acréscimo, uma complementação, ao conceito de biopolítica de Foucault. Mbembe descreve essa suposta soberania como a busca constante de um exercício de poder que supera qualquer limite racional e científico. Enquanto para Foucault a biopolítica ocorre dentro daqueles territórios no qual o poder é exercido por meio de contratos sociais, dentro de um contexto majoritariamente europeu, a necropolítica abrange outros territórios, como as colônias africanas, nas quais o poder se exerce para além de qualquer limite racional.
Como o conceito foi recebido no Brasil?
No Brasil, o conceito chegou tardiamente junto com a obra traduzida de Mbembe. Ainda há muita resistência por conta de um preconceito que existe contra produções científicas e filosóficas do continente africano, de um eurocentrismo muito forte na academia brasileira. Muito pelo fato de ter sido orientando do Foucault, Achille Mbembe é hoje um pensador africano bastante conhecido no mundo todo, e isso acabou ajudando a disseminar mais a sua obra, que é muito densa e complexa. Por isso, existe uma impressão incorreta em relação à necropolítica, quando dizem que ela é um contraponto à ideia de biopolítica de Foucault. Ela não o contrapõe, ela transcende e complementa a dimensão de biopolítica. O contraponto que o pensamento do Mbembe estabelece é com o [filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich] Hegel, que idealiza o Estado como uma dimensão racional. Então, o fato de Mbembe contrariar que a política não tem uma dimensão necessariamente racional e que existem dimensões políticas que transcendem essa racionalidade, causam um certo susto na academia.
O senhor percebe alguma relação entre os efeitos da pandemia hoje no Brasil e a necropolítica?
Com certeza. Inclusive, são efeitos que evidenciam essa política. Uma vez que as medidas apontadas como necessárias para conter a propagação do coronavírus envolvem o isolamento social, precisamos pensar a qual isolamento o Estado e a sociedade se referem, quando se tem famílias de até seis pessoas morando em casas de dois cômodos nas periferias das grandes cidades brasileiras. Também precisamos lembrar da desregulamentação do trabalho, apoiada pela direita brasileira, que levou as pessoas negras, principalmente mulheres e jovens, a uma situação muito complicada de trabalho informal, em que, se elas não trabalham, não recebem. Então, hoje, falar para essa pessoa parar de trabalhar e ficar em casa significa condená-la a ficar sem comer. O que está sendo colocado como opção a esses trabalhadores é a escolha entre morrer de fome ou de coronavírus.
 Dennis de Oliveira, coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP | Foto: Divulgação
Dennis de Oliveira, coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP | Foto: Divulgação
Qual vem sendo a reação de quem vive e convive dentro dessa realidade?
Felizmente, tem crescido um movimento civil muito forte que quer romper com a ideia de Estado mínimo e que hoje, por exemplo, defende o SUS e uma renda mínima para a população, além de promover ações de solidariedade dentro das periferias, como a distribuição de cestas básicas nas comunidades. Tudo isso mostra uma contraofensiva da população contra uma política de desmonte dos últimos anos. Então, eu vejo que hoje há uma questão objetiva, em que existe, de fato, uma situação perigosa de um projeto de necropolítica e genocídio sem precedentes nas periferias brasileiras diante do coronavírus, mas, por outro lado, temos também uma ação organizada e reativa da população das periferias e suas organizações contra esses efeitos.
Como o senhor citou, Mbembe fala em “estado de exceção” como base normativa do direito de decidir quem vive e quem morre. Pensando no Brasil, onde pessoas negras e mais pobres morrem todos os dias vítimas do Estado ou da falta dele, podemos dizer que a Covid-19 escancarou esse estado de exceção no qual vive grande parte da nossa população?
Com certeza. Já havia em curso um processo explícito de constantes ações genocidas por parte do Estado, e agora parece que isso foi escancarado de vez. Se a gente observar os últimos discursos do [Jair] Bolsonaro, por exemplo, vemos que são uma reprodução farsesca e trágica de ideias de darwinismo social. Ele diz: “eu tenho 65 anos, sou atleta e consigo sobreviver”, diz que só os mais fracos vão morrer e que, aos fortes, seria bom criar anticorpos. É esse o princípio do darwinismo social de [filósofo inglês Herbert] Spencer. Só que, se nós tivermos 100 milhões de brasileiros contaminados, metade da nossa população, e a taxa de mortalidade que temos hoje continuar em torno de 4%, isso significa que teremos 4 milhões de pessoas mortas. Então, o que está por trás dessa narrativa do governo é um discurso abertamente genocida e é até curioso perceber como eles tentam criar um pensamento pretensiosamente racional para justificar um processo genocida, dizendo que os mais fortes sobrevivem e que essa seria a única lógica capaz de manter a economia funcionando. São exatamente essas ideias que sustentaram as teorias do nazismo na Alemanha.
Empresários brasileiros milionários declararam recentemente que os efeitos letais da Covid não poderiam ser justificativa para “fechar comércios e parar a economia”. O senhor acredita que esse tipo de discurso tem direcionamento de raça, classe e território e que, portanto, serve como um exemplo prático da necropolítica?
Evidentemente. Uma das lógicas que sustentam o sistema que nós vivemos, construído na base do escravismo colonial no Brasil, é você ter a exploração predatória da mão de obra, é explorar até o limite, até a morte, essa mão de obra, o que remonta ao escravismo. Então, quando esses empresários falam isso, estão falando dentro de uma estrutura de privilégio e proteção que os trabalhadores deles não têm. Um dos acontecimentos recentes que me chamou atenção foram as carreatas de apoio a esses discursos e ao presidente Bolsonaro, nas quais os manifestantes não saíram de dentro dos seus carros. Estavam todos protegidos dentro dos seus veículos, sem sair para as ruas. Ou seja, eles querem que os outros saiam às ruas para trabalhar, mas eles não. Querem que os trabalhadores continuem pegando transportes coletivos lotados, correndo riscos de se contaminar, enquanto eles estão em seus carros, confortáveis. E quero chamar atenção também para a situação das trabalhadoras domésticas. Está havendo uma resistência por parte de empregadores, muitos inclusive com suspeitas de terem contraído o vírus, de dispensar as suas trabalhadoras domésticas e remunerá-las. Muitos querem que elas continuem a trabalhar mesmo correndo riscos, como mostrou aquele caso gravíssimo no Rio de Janeiro, em que a patroa estava contaminada e obrigou a empregada a ir trabalhar, e depois disso ela morreu de coronavírus. Então, esse tipo de situação mostra o pensamento dessa classe dominante brasileira, que tem um DNA escravocrata, que se expressa nas posturas de empresários como o Roberto Justus e o dono do [restaurante] Madero, do Bolsonaro, e de toda essa turma que vem fazendo manifestações dentro dos seus próprios carros.
Em um dos seus artigos de 2018, o senhor aborda a violência como um “processo lógico das sociedades” na América Latina, que estariam imersas numa “colonialidade do poder”. O que essas definições querem dizer e como elas se relacionam com a necropolítica de Mbembe?
Dentro do contexto latino-americano, eu acredito que uma aplicação mecânica do Mbembe não resolve. Tenho, inclusive, criticado a aplicação superficial desse conceito aqui. Na América Latina, temos dinâmicas muito específicas, por isso um outro conceito fundamental para nós entendermos a violência na América Latina é o de “violência estrutural”, do psicólogo social salvadorenho Ignácio Martins Baró. Ele fala que a própria estruturação e configuração da sociedade latino-americana se deu por meio da violência. Ou seja, que o continente não vive sob um “estado de sítio”, mas em “estado de normalidade”, sendo a normalidade da América Latina a violência. Outro pensador, o peruano Aníbal Quijano, fala sobre padrões coloniais de poder. Ele diz que, como a América Latina surge como um território de estados nacionais independentes com economias subordinadas aos trâmites internacionais, a estrutura de poder que se monta no continente é configurada para manter uma exploração brutal do trabalho junto a uma exclusão social permanente. Então, eu percebo que, mais do que uma necropolítica, o que nós temos aqui é essa violência estrutural descrita por Baró e Quijano.
O senhor diria que as formas de violência e racismo presentes no Brasil, se diferenciam do que é vivenciado em outros países do continente?
Se diferencia pelas suas singularidades. O Brasil é o país com mais negros na América Latina em termos absolutos e, em termos relativos, só se equipara com países do Caribe, enquanto nos outros países da América do Sul, por exemplo, grande parte da população é indígena. O que se pode observar, portanto, é que o processo de opressão racial contra os povos originários em países como a Bolívia e o Peru é muito semelhante ao que ocorre com a população afrodescendente no Brasil. Aqui no continente, o racismo não se trata de gostarmos ou não dos negros e indígenas, mas dos mecanismos de poder. O comportamento racista individual que acontece nesses países é produto de uma estrutura que possibilita que essa violência ocorra.
O que o senhor pensa sobre discursos que afirmam que o racismo já foi superado no Brasil e que aqui vivemos numa democracia racial?
Esse mito da democracia racial, essa negação do racismo no Brasil é uma forma das pessoas efetivamente não respondê-lo. Hoje, eu vejo que essa “neodemocracia racial” brasileira tem um subterfúgio, que é o posicionamento majoritariamente contrário ao preconceito racial individual, em que até existe uma mobilização da sociedade civil contra ações racistas explícitas na esfera micro, com leis que criminalizam atos de racismo e meios de comunicação em massa que os repudiam. Entretanto, ao mesmo tempo em que temos essa mobilização social que coíbe o preconceito racial comportamental, nós não temos essa mesma mobilização em relação ao racismo estrutural, uma dimensão do racismo que ocorre a partir da própria estrutura social. Então, é passível de punição um comportamento racista de um segurança no shopping, por exemplo, e é importante que se denuncie isso, mas ao mesmo tempo não se discute aqui o fato de que a maior parte da população negra no país ganha menores salários e que as mulheres negras são as que mais pagam impostos, em função de um sistema tributário regressivo, por exemplo. Outro grande problema que nós temos aqui hoje é que boa parte da esquerda brasileira ainda enxerga a luta contra o racismo como um apêndice, algo periférico, e não como pauta central da sua agenda. Da mesma forma que essa política de concentração de renda e de privilégios do capital rentista tem o racismo no seu DNA, a superação desse modelo social passa pelo combate ao racismo estrutural. Muito me incomoda que parte da esquerda pense que a luta contra o racismo é meramente identitária e de políticas públicas pontuais, sem pensar que combater o racismo é combater um dos alicerces desse modelo de concentração de renda.
Qual deveria ser o papel da imprensa brasileira diante de tantas crises sociais e institucionais no país e no mundo ganhando visibilidade nacional a partir da pandemia?
Parte de tudo o que está acontecendo é de responsabilidade da mídia hegemônica, que tem reproduzido como grande lema que o Estado mínimo é a grande solução para o Brasil. Estamos vendo agora que, nesse caso da pandemia, a solução para o enfrentamento dessa crise são as políticas públicas, é o Estado máximo. Até países que seguiam essa ideia de Estado mínimo estão cedendo em suas posições. Veja, por exemplo, o caos em que estão os Estados Unidos, onde não existe um sistema público de saúde. Então, o momento agora é de fazer uma reflexão sobre se a política neoliberal, tão apoiada pelos grandes meios de comunicação, é a política mais adequada, e isso a grande mídia não tem feito. Estão fazendo uma grande cobertura da pandemia e criticando as medidas do Bolsonaro, mas não olham para trás e entendem que boa parte dos problemas que a periferia tem hoje é culpa das políticas neoliberais, da regulamentação do trabalho informal e de reformas, como a da previdência no ano passado, que a mídia apoiou entusiasticamente. Ou seja, hoje não estão fazendo reflexões sobre isso, sobre até que ponto o que o Brasil está sofrendo hoje não é consequência dessa política econômica idealizada e apoiada por seus comentaristas e editoriais. Além disso, essa extensa cobertura que está sendo feita pela mídia hoje, em boa parte, é porque está atingindo a classe média alta também, porque, se fosse uma enfermidade que só atingisse as periferias, a cobertura certamente não teria ganhado essa dimensão.
Quais deveriam ser as prioridades do Estado para evitar a mortalidade em massa de brasileiros, especialmente daqueles que são vítimas históricas da necropolítica, do racismo e da violência estrutural no país?
Este momento é chave para nós pensarmos numa pressão a órgãos governamentais por mais políticas públicas, como a aplicação do programa de renda mínima, muito apoiado pelo movimento negro. Defendo também que se faça uma moratória do pagamento da dívida pública e o redirecionamento desses recursos a um pacote de políticas públicas para nós atendermos às populações das periferias, bem como a suspensão da cobrança das contas de luz, telefone e água por seis meses. Também, que o poder público direcione dinheiro às pequenas e médias empresas para garantir o pagamento de salários aos seus funcionários. E, claro, que o fortalecimento do SUS seja uma prioridade, com a estatização da saúde, de forma que o combate ao coronavírus seja centralizado no Estado e não dependa se o paciente tem ou não recursos financeiros para receber um tratamento de qualidade.
O senhor acredita que o Brasil tem chances de sair mais consciente dessa pandemia?
Por enquanto, estamos em uma encruzilhada, mas é uma chance efetiva da gente sair melhor, no sentido de mostrar e colocar em evidência que o projeto de Estado mínimo e neoliberal não funciona. Mas, por outro lado, se a gente não reunir forças para fazer isso, o risco que a gente corre é caminharmos para mais suspensões de direitos, fortalecendo políticas genocidas como as que o Bolsonaro tem pautado e fazendo avançar ainda mais essa perspectiva bárbara. Então, é um momento ímpar em que, ou a gente aprofunda e consegue articular de fato uma ação forte para romper com o Estado mínimo, ou então esses movimentos mais atrasados vão ganhar força, o que significa que poderemos viver num cenário de genocídio nunca antes visto no Brasil.
Manuela Rached Pereira, jornalista dspecial para Ponte
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Veja também