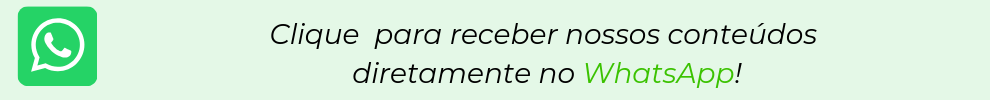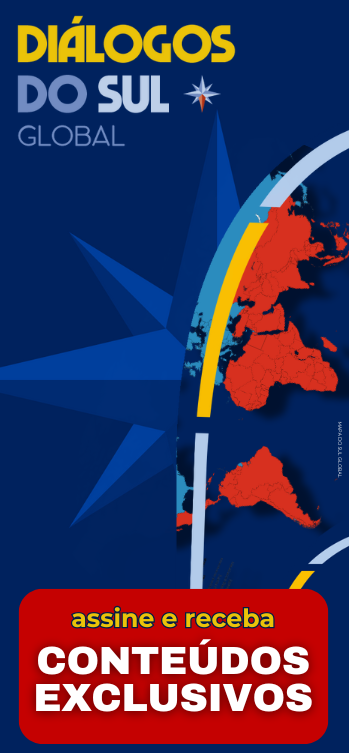Na iminência de ser reeleito para uma das vagas no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil atravessa um ponto de inflexão diplomática em posições adotadas pelo país há quase 20 anos no debate multilateral sobre gênero.
Análise histórica realizada pela Gênero e Número sobre as posições do Brasil quanto ao tema evidencia o peso da mudança de rumos estabelecida pelo Itamaraty durante a gestão de Jair Bolsonaro.
Desde o início dos anos 2000, o país passou a se firmar como liderança internacional na defesa dos direitos dos grupos LGBT+ e de mulheres, conquistando, inclusive, o reconhecimento de membros do grupo latino americano e caribenho do qual faz parte no CDH.
Boa parte dessa influência foi adquirida com a proposição e o apoio a resoluções da ONU que condenam a discriminação e violência motivadas por questões de gênero.
Em julho deste ano, na apresentação formal da candidatura brasileira à reeleição no CDH, documento do Itamaraty assumiu 21 compromissos que tentam mostrar que o país está “determinado a promover, proteger e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação”.

ONU
Comissão de Direitos Humanos da ONU
Ao contrário do que ocorreu nas candidaturas apresentadas nos anos de 2010, 2013 e 2015, não há neste novo documento qualquer menção a questões de gênero, desigualdade e tortura, tampouco a expressões como “direitos reprodutivos” e mesmo “orientação sexual”. As ausências representam uma guinada nas posições do país, que teve papel de destaque em seus últimos mandatos no CDH.
Incredulidade de antigos aliados
“Desde os anos 1990, o Brasil tem uma posição favorável às demandas dos direitos das minorias no Conselho de Direitos Humanos da ONU”, resume Renata Nagamine, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia (PPGRI/UFBA). “Esse espaço era explorado de forma a consolidar a imagem de um país progressista, que atuava para fazer essa agenda avançar.”
Nagamine lembra que, assim como outros países do sul global, o Brasil foi protagonista na construção, promoção e disseminação dessa agenda. Para a pesquisadora, o papel brasileiro na propagação da ideia de que os direitos de pessoas LGBT+ são direitos humanos é um dos exemplos do quanto essa mudança de discurso é significativa. Nagamine é cuidadosa ao fazer prognósticos sobre a reeleição do Brasil ao CDH e aponta: “A posição do país em relação aos direitos LGBT+ ainda não está clara”.
Fontes que acompanham a atuação do Itamaraty em Genebra (Suíça), sede do CDH, afirmam que são baixas as chances de que o país não seja reeleito. Até o momento, existem apenas dois candidatos para às duas vagas do grupo do qual o país faz parte (Estados latino-americanos e caribenhos ou LAC, na sigla em inglês) e o Brasil é franco favorito em relação ao seu concorrente, a Venezuela. Entretanto, o número de votos pode mandar um recado sobre a candidatura.
Os bastidores da diplomacia brasileira em Genebra revelam as transformações vividas pelo país atualmente. Diplomatas brasileiros começaram a ser cercado por ONGs de ultra-direita nos corredores da ONU, bem como em votações e discussões. “A incredulidade com as novas relações do Brasil tomou conta dos diplomatas dos outros países do grupo latino-americano e caribenho. Eles tiravam fotos e enviavam uns aos outros”, conta uma fonte que acompanha o dia a dia da sede da ONU. Sucessivas polêmicas e apoio dos EUA
Nos últimos meses, foram vários os desgastes vividos pelo governo brasileiro em pautas relacionadas aos direitos humanos. Para “evitar promoção do aborto”, o Brasil criticou a menção à saúde reprodutiva da mulher em documento da comissão sobre a Situação da Mulher da ONU, firmando um posicionamento pró-vida desde a concepção. O posicionamento foi proferido em março em Nova York, no encerramento da 63ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, o maior e mais importante encontro das Nações Unidas sobre o tema.
No início de julho, o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura
notificou o governo brasileiro, pedindo explicações sobre as 11 demissões do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no país. Em agosto, o recorde do número de queimadas na Amazônia e a reação do governo brasileiro, considerada inadequada pela opinião pública internacional, levaram líderes mundiais a debater a questão em reunião do G-7.
Questionado por ONGs e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre a políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, o Brasil, por outro lado, conta com um importante aliado nessa mudança de discurso: os Estados Unidos. “Embora não sejam membros da CDH, os Estados Unidos viram, na semana passada, o chefe de sua diplomacia anunciar a criação de um painel para avaliar o papel e o peso dos direitos humanos na visão do país sobre as relações internacionais”, observa Matheus Hernandez, professor de Relações Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
Para Renata Nagamine, não há exatamente uma ruptura por parte da política externa comandada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo: “O Brasil não vai somente se juntar ao grupo de países e organizações pró-família, mas sim reconfigurá-lo, para lhe dar mais força e uma perspectiva de família aos direitos humanos—com o núcleo familiar entendido como aquele composto por homem e mulher”.
Em julho, quando Jair Bolsonaro anunciou no Twitter a candidatura brasileira à reeleição no CDH, o presidente destacou suas prioridades. “As principais pautas estão ligadas ao fortalecimento das estruturas familiares e à exclusão das menções de gênero”, escreveu. No mesmo mês, em live no Facebook, Bolsonaro disse que, na disputa, o Brasil visava “abortar de vez a questão da ideologia de gênero”, conceito que se tornou preocupação fundamental da extrema-direita e dos setores conservadores do país.
Quando a introdução do conceito de gênero começou a ganhar corpo nos debates multilaterais, pautando discussões sobre diversidade familiar, comunidade LGBT+, direitos reprodutivos e outros temas, o Brasil começou a propor na ONU resoluções pioneiras a favor da atualização dos debates. E, quando não era o propositor, apoiou e votou essas resoluções. O Itamaraty também fez recomendações a outros países para garantir a fiscalização de direitos e promoção dessa agenda. Em 2011, o Brasil apresentou, junto com a África do Sul, a primeira Resolução sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero no Conselho de Direitos Humanos.
Para o pesquisador João Paulo Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia (PPGRI/UFBA), isso pode indicar que o país tinha uma posição clara—e de liderança—quanto a essas demandas. “Essa liderança pode se perder ou se modificar”, ele avalia. “A sociedade civil precisa pressionar para que o país mantenha seu posicionamento histórico e não deixe o campo dos países do sul global entrarem exclusivamente em um alinhamento pró-família.”
Reportagem do UOL mostra que o Brasil recebeu 163 recomendações de outros países em relação a suas políticas de direitos humanos em áreas como segurança pública, saúde, meio ambiente e educação, e cumpriu apenas uma delas. A avaliação foi feita pelos países em 2017 e a insuficiente resposta brasileira foi constatada por um levantamento produzido por organizações da sociedade civil, como a Artigo 19, Conectas Direitos Humanos e Geledés – Instituto da Mulher Negra.
“O estágio de implementação é o principal. Mas fazer com que as recomendações tenham efeito no âmbito nacional sempre foi um grande desafio, uma vez que elas não possuem caráter vinculante para os Estados”, ressalta João Paulo Rodrigues. Além disso, muitas vezes é necessária a implementação de novas políticas, o que traz novos custos.
Camila Asano, coordenadora de programas da Conectas, uma das organizações que acompanham a atuação do Brasil no CDH, concorda que a sociedade civil precisa se manter mobilizada e atenta. “É preciso continuar alertando os organismos internacionais e ocupar cada vez mais esses espaços, para exercer uma pressão que venha a influenciar os tomadores de decisão no país. Também é preciso pensar um pouco fora dos espaços comuns de atuação no âmbito internacional e em como associar as pautas de proteção aos direitos humanos a temas como desenvolvimento econômico, por exemplo”, conclui.
*Renata Rodrigues é jornalista e colaboradora da Gênero e Número.
Veja também