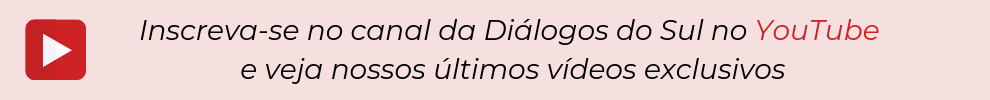É uma pandemia dentro da pandemia. De um lado a outro da América Latina, a violência de gênero tem se aguçado desde que a COVID-19 irrompeu.
Quase 1.200 mulheres desapareceram no Peru entre 11 de março e 30 de junho, relatou o Ministério das Mulheres. No Brasil, 143 mulheres em 12 Estados foram assassinadas em março e abril — um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2019.
Relatos de estupro, assassinato e violência doméstica se dão aos montes também no México. Na Guatemala, dão-se pouco, significativamente — sinal provável de que as mulheres tenham demasiado medo de denunciar à polícia os parceiros com os quais estão confinadas. A pandemia piorou, mas não criou este problema: faz tempo que a América Latina está entre os lugares mais mortíferos do mundo para se ser uma mulher.
Eu passei três décadas estudando violência de gênero bem como a organização das mulheres na América Latina, uma força social cada vez mais eloquente e poderosa. Embora o patriarcado seja parte do problema, a violência de gênero na América Latina não pode ser atribuída simplesmente ao “machismo”. Nem a desigualdade de gênero é particularmente extrema por lá. Os níveis de educação entre mulheres e meninas latino-americanas têm se elevado por décadas e — ao contrário dos EUA — muitos países possuem cotas para as mulheres em cargos políticos. Vários deles elegeram mulheres presidentes.
Minha pesquisa, que com frequência se centra em comunidades indígenas, remonta a violência contra mulheres na América Latina tanto à história colonial da região como a uma teia complexa de desigualdades sociais, raciais, de gênero e econômicas.

FOTO: MARCOS SANTOS/USP
A mídia, a polícia e muitas vezes até mesmo sistemas de justiça oficiais encorajam coerções estritas quanto ao comportamento das mulheres
Usarei a Guatemala, um país que conheço bem, como um estudo de caso para desemaranhar este fio. Mas poderíamos nos ocupar dum exercício semelhante com outros países latino-americanos ou os EUA, onde a violência contra mulheres é também um problema difuso, historicamente enraizado — e que afeta desproporcionalmente mulheres negras.
Na Guatemala, onde 600 a 700 mulheres são mortas a cada ano, a violência de gênero tem raízes profundas. Estupros em massa levados a cabo durante massacres eram um instrumento de terror sistemático generalizado no decurso da guerra civil de 36 anos do país, quando os cidadãos e insurreições armadas se sublevaram contra o governo. A guerra, que terminou em 1996, matou mais de 200 mil guatemaltecos.
Estupros em massa têm sido usado como arma de guerra em muitos conflitos. Na Guatemala, as forças do governo tinham como alvo mulheres indígenas. Enquanto a população nativa da Guatemala é de 44% a 60% indígena, com base no censo e outros dados demográficos, cerca de 90% das mais de 100 mil mulheres estupradas durante a guerra eram indígenas maias.
Testemunhos da guerra demonstram que soldados viam as mulheres indígenas como se elas tivessem pouca humanidade. Sabiam que as mulheres maias podiam ser estupradas, mortas e mutiladas com impunidade. Isso é um legado do colonialismo espanhol. Começando no século XVI, povos indígenas e afrodescendentes de um lado a outro das Américas foram escravizados ou compelidos a trabalhos forçados pelos espanhóis, tratados como propriedade privada, com frequência brutalmente.
Algumas mulheres negras e indígenas até mesmo tentaram combater os maus tratos em tribunal durante o período colonial, mas tinham menos direitos legais que os conquistadores brancos espanhóis e seus descendentes. A subjugação e marginalização de negros e indígenas latino-americanos continua até os dias de hoje.
Na Guatemala, a violência contra mulheres afeta as indígenas desproporcionalmente, mas não exclusivamente. Doutrinas morais católicas e evangélicas conservadoras consideram que as mulheres deveriam ser castas e obedecer a seus maridos, criando a ideia de que os homens podem controlar as mulheres com as quais estejam em relacionamento sexual.
Num estudo de 2014 publicado pelo Projeto de Opinião Pública da América Latina da Vanderbilt University, os guatemaltecos concordavam mais com a violência de gênero que quaisquer outros latino-americanos, com 58% dos inquiridos dizendo que a suspeita de infidelidade justificava o abuso físico.
Mulheres, assim como homens, interiorizaram essa opinião. Durante minha pesquisa na Guatemala e no México, muitas mulheres compartilhavam histórias sobre como suas próprias mães, sogras ou vizinhas lhes mandavam “aguantar” – aguentar — o abuso de seus maridos, dizendo que era direito do homem punir as más esposas.
A mídia, a polícia e muitas vezes até mesmo sistemas de justiça oficiais encorajam coerções estritas quanto ao comportamento das mulheres. Quando mulheres são assassinadas na Guatemala e no México — uma ocorrência diária — as manchetes com frequência dizem: “Homem Mata Sua Mulher Por Causa de Ciúmes”. No tribunal e online, sobreviventes de estupros ainda são acusadas de “pedirem por isso” se foram atacadas fora de casa sem supervisão masculina.
Os países latino-americanos têm feito muitos esforços criativos, sérios, para proteger as mulheres.
Dezessete aprovaram leis tornando o feminicídio — a morte intencional de mulheres ou meninas por serem do sexo feminino — um crime próprio distinto do homicídio, com longas sentenças de prisão coercitiva na tentativa de detê-lo. Muitos países também criaram delegacias de polícia só para mulheres, produziram dados estatísticos sobre o feminicídio, aperfeiçoaram os canais de denúncia de violência de gênero e destinaram recursos para mais abrigos de mulheres.
A Guatemala até mesmo criou tribunais especiais onde homens acusados de violência de gênero — seja feminicídio, agressão sexual ou violência psicológica — são julgados.
Uma pesquisa que conduzi com minha colega, a cientista política Erin Beck, constatou que estes tribunais especializados têm sido importantes em reconhecer a violência contra mulheres como um crime grave, punindo-o e providenciando um apoio legal, social e psicológico muito necessário. Mas também averiguamos limitações cruciais relacionadas a fundos insuficientes, exaurimento de pessoal e investigações débeis.
Há também uma lacuna linguística e cultural enorme entre os oficiais de Justiça e, em muitas partes do país, as mulheres, em geral indígenas, não falantes do espanhol, que eles servem. Muitas dessas mulheres são tão pobres e isoladas geograficamente que nem sequer conseguem chegar ao tribunal, restando a fuga como única opção de escaparem da violência.
Todos esses esforços para se proteger as mulheres — seja na Guatemala, seja em qualquer outra parte na América Latina ou nos EUA — são estreitos e legalistas. Eles tornam o feminicídio um crime, a agressão física um crime diferente, e estupro outro — e tentam indiciar e punir os homens por tais atos. Mas eles falham em culpar os sistemas que perpetuam tais problemas, como desigualdades sociais, raciais e econômicas, relacionamentos familiares e costumes sociais.
Alguns grupos de mulheres indígenas dizem que a violência de gênero é um problema coletivo que precisa de soluções coletivas. “Quando estupram, fazem desaparecer, metem na cadeia ou assassinam uma mulher, é como se toda a sociedade, a vizinhança, a comunidade ou a família tivesse sido violada,” disse a ativista indígena mexicana Marichuy em um comício na Cidade do México em 2017.
Na análise de Marychuy, a violência contra uma mulher indígena é resultado de uma sociedade inteira que desumaniza seu povo. Daí que simplesmente mandar o abusador para a prisão não é suficiente. A violência de gênero precisa de uma punição que implique tanto a comunidade quanto o infrator — e que tente saná-los.
Algumas comunidades indígenas mexicanas possuem sistemas de polícia e justiça autônomos, que fazem uso de discussão e mediação para chegar a um veredito e dar ênfase à reconciliação em vez de punição. Sentenças de serviço comunitário — seja construção, seja escavação de esgoto ou outro trabalho braçal — servem tanto para punir como para reintegrar socialmente os infratores. A duração das penas se estende de umas poucas semanas para um simples roubo até oito anos para um assassinato.
Fazer parar a violência de gênero na América Latina, nos EUA ou em qualquer outro lugar será um processo complicado, de longo prazo. E um progresso social satisfatório parece improvável numa pandemia. Mas quando os confinamentos acabarem, a Justiça restaurativa parece ser uma boa maneira de começar a ajudar as mulheres e nossas comunidades.
Lynn Marie Stephen é professora Emérita de Antropologia da Faculdade de Graduação de Estudos Indígenas, Raciais e Étnicos da Universidade do Oregon, Cátedra Philip H. Knight.
Tradução: Maurício Búrigo
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Veja também