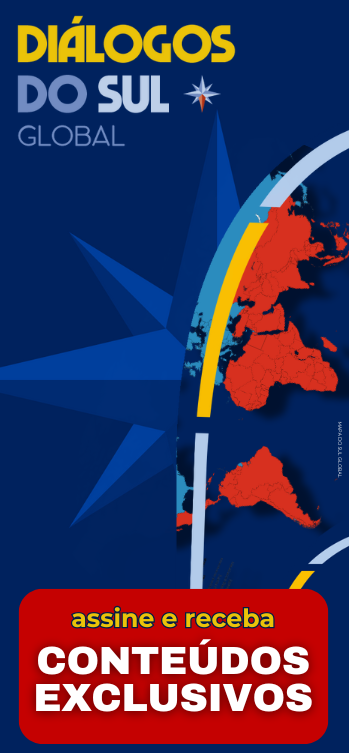Enquanto o coronavírus roubava as atenções, e com razão, um realinhamento geopolítico fundamental vinha se formando no mundo, e se tornará mais claro em 2021. Esse realinhamento é o início de uma Segunda Guerra Fria, que, se tivermos sorte, não se tornará uma guerra “quente”. A nova Guerra Fria será entre o Ocidente e a China, mas será bem diferente daquela que envolveu a União Soviética. O mundo mudou muito desde 1989, ano da queda do Muro de Berlim.
A diferença entre os dois campos opostos é muito menor agora. A União Soviética, gigante militar com baixo desenvolvimento industrial, teve a vantagem de se apresentar como a campeã de uma ideologia internacional. Era também, de alguma forma. uma bandeira do Ocidente, que fez do apelo por liberdade e democracia sua identidade. Atualmente, a China não abriga uma bandeira verdadeiramente internacional, e o Ocidente vive cercado de contradições internas, do incômodo com os regimes iliberais, como a Hungria sob Viktor Orban, às ondas nacionalistas, xenófobas e populistas em todos os seus países, além do dramático aumento da desigualdade social e degradação dos empregos, da qualidade de vida e das perspectivas de futuro. Tudo isso torna a bandeira ocidental muito menos forte do que ao final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, provavelmente, seria impossível criar as Nações Unidas ou adotar a Declaração dos Direitos Humanos, devido à atual fragmentação do mundo.
Nesse ínterim, a China vem passando por um desenvolvimento industrial, científico e tecnológico que nunca esteve ao alcance da União Soviética. Para arrematar, vamos acrescentar o fator demográfico: a China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, tem uma força muito diferente dos 291 milhões que a URSS tinha em 1989. A Rússia, agora, encolheu para 147 milhões: muito menos que os 208 milhões da Nigéria, sem mencionar os 220 milhões de habitantes do Paquistão.
A OTAN não lida mais com o Atlântico Norte A OTAN não lida mais com o Atlântico Norte
Uma nova aliança ocidental forma-se sem chamar muita atenção. A OTAN não lida mais com o Atlântico Norte, como foi no momento de sua constituição, e o poderoso poder militar soviético não é mais tão significativo na Federação Russa de nossos tempos.

pcp.com
A OTAN não lida mais com o Atlântico Norte
Em seu nada sofisticado esforço para tornar os Estados Unidos independentes de qualquer outro país, até de aliados históricos, Donald Trump distanciou-se da OTAN. O presidente Macron se referiu à aliança como se tivesse “morte cerebral”. E a Europa descobriu que viver sob o escudo americano poderia ser uma percepção ilusória.
Então, a atual Comissão Europeia apostou em políticas fortes para tornar a Europa um player internacional competitivo, priorizando investimentos em tecnologia verde, inteligência artificial, desenvolvimento digital, reforço de patentes europeias; e restringindo o poder desgovernado das Big Tech norte-americanas. E agora que a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, algumas das divisões entre os 28 países (agora 27), como a da defesa europeia, desapareceram. Existe até uma verba de oito bilhões de dólares para o embrião de um exército europeu, o que evidentemente não é nada se comparado aos U$ 732 bilhões dos Estados Unidos.
No entanto, poucos notaram que em novembro o Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, presidiu um grupo de especialistas, que recomendou, sem objeções, que a primeira tarefa da Aliança deveria ser a de responder à ameaça vinda dos “rivais sistêmicos” da Rússia e da China. Colocar a China no centro da agenda da OTAN é uma mudança tal que significa reinventar completamente a aliança transatlântica.
Os velhos termos da Guerra Fria estão voltando, como pastas antigas, mas com novo conteúdo. O documento final apela para a “coexistência”, para a necessidade de manter a superioridade militar e tecnológica, de estabelecer novos tratados para o controle dos armamentos e para a não proliferação das armas sofisticadas. Sublinha também que existem campos de cooperação, desde o comércio até o controle do clima.
A Era Trump foi um bônus inesperado para a China. Barack Obama tinha realizado grandes esforços para criar um acordo comercial asiático — a Parceria Transpacífica (TPP) — que excluiria a China, e incluiria Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Vietnã e os Estados Unidos. Foi assinado em 4 de fevereiro de 2016. Em janeiro de 2017, Trump assumiu a presidência e retirou-se rapidamente do tratado. Em parte, isso tinha a ver com sua obsessão em desfazer tudo o que Obama havia feito, mas também era por causa de sua forte convicção de que os EUA não deveriam entrar em nenhum tratado porque isso condicionaria Washington — que poderia se beneficiar mais das relações bilaterais, nas quais sempre seria o valentão da sala. A “América em primeiro lugar”, na verdade, significava “A América sozinha”.
O resultado é que, de quatro anos pra cá, a China consegue atuar como campeã do multilateralismo e do controle do clima, enquanto para os EUA trata-se apenas de tarifas voltadas contra as exportações chinesas. A China foi capaz de, basicamente, se esquivar do problema, e a balança comercial entre Pequim e Washington está mais desequilibrada a favor da China do que nunca. Trump chegou a se engajar numa luta contra o 5G e a Huawei, mas nunca escondeu sua admiração por homens fortes, desde Kim Jong-un até Vladimir Putin e Xi Jinping.
E, durante esses quatro anos, a China conseguiu dar continuidade ao seu programa de expansão global. Não só com seu famoso projeto — das Novas Rotas da Seda — de conexões abertas entre seu comércio e o mundo; mas também com o estabelecimento do maior bloco comercial da história: a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, na sigla em inglês) que destruiu todos os vestígios da TPP, que excluía a China. O RCEP é baseado na China e os Estados Unidos estão fora. O tratado foi assinado em novembro de 2020, e Trump estava tão obcecado com sua teoria de fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que nem comentou o assunto.
Mas o RCEP tem 15 países membros: Austrália, Brunei, Camboja, China, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Tailândia e Vietnã. O bloco conta com 30% da população mundial (2,2 bilhões) e 30% do PIB mundial (26,2 trilhões de dólares). Apenas a Índia, sob a liderança autoritária e xenófoba de Narendra Modi, ficou de fora, reclamando que seria invadida por produtos chineses baratos. Mas, na verdade, a Índia está se posicionando como uma alternativa regional à China, mesmo que muito mais atrasada em termos econômicos e tecnológicos. Mas é um país jovem, com 50% de sua população abaixo dos 25 anos, enquanto que, na China essa proporção é de apenas 31%.
Projeta-se que a Ásia se torne, de longe, a área geopolítica e econômica mais importante do mundo. De acordo com a consultoria McKinsey, em 2040, a Ásia será responsável por 50% do comércio mundial e 40% do consumo total de bens e serviços.
A Europa, e também os Estados Unidos, estão convencidos de que podem concorrer com a China, e evitar sua transformação em potência mundial. Mas isso significaria um realinhamento total das relações internacionais e, em particular, uma nova aliança entre a Europa e os Estados Unidos, junto com uma política voltada, tal como durante a Guerra Fria, a formar um grupo de países dispostos a ficar do lado do Ocidente. A China seguirá a mesma política e, com certeza, veremos surgir um novo grupo de países não alinhados como reação ao conflito. Por exemplo, neste momento, um influente grupo de acadêmicos e diplomatas faz campanha na América Latina para que a região permaneça não alinhada no conflito que se aproxima.
A edição de dezembro da Foreign Affairs, o espaço de debate norte-americano mais influente sobre questões internacionais, publicou um ensaio intitulado “A competição com a China pode ser curta e aguda”, no qual fala abertamente de um possível conflito armado nos próximos dez anos. Os autores veem uma forte aceleração da competição no futuro próximo e, também, várias desvantagens para a China. A primeira delas seria a falta de democracia, que vai isolar a Pequim (mas, neste momento, é duvidoso que os EUA, tendo Trump como farol e exemplo, tenham alguma credibilidade). Então, mais substancialmente, o texto argumenta a que a janela de oportunidades da China está se fechando muito rapidamente.
“Desde 2007, o crescimento econômico anual da China caiu em mais da metade; e a produtividade, em 10%. Enquanto isso, a dívida aumentou oito vezes e deve chegar a 335% até o final do ano. A China tem poucas esperanças de reverter essas tendências, porque perderá 200 milhões de adultos em idade produtiva e ganhará 300 milhões de idosos em 30 anos. Nesse intervalo, os sentimentos mundiais anti-China dispararam para níveis que não eram vistos desde o massacre da Praça Tiananmen, em 1989. Quase dez países suspenderam ou cancelaram a participação no projeto da Nova Rota da Seda, ou Iniciativa do Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative – BRI). Outros 16 países, incluindo oito das maiores economias do mundo, baniram ou restringiram severamente o uso de produtos Huawei em suas redes 5G. A Índia está se voltando contra a China desde que um confronto em sua fronteira comum matou 20 soldados em junho. O Japão aumentou os gastos militares, transformou navios anfíbios em porta-aviões e colocou lançadores de mísseis junto às ilhas Ryukyu, perto de Taiwan. A União Europeia rotulou a China de “rival sistêmico”, e Reino Unido, França e Alemanha estão enviando patrulhas navais para conter a expansão de Pequim no Mar do Sul da China e no Oceano Índico. Em várias frentes, a China está enfrentando o contragolpe causado pelo seu próprio comportamento”.
É interessante notar como a inteligência americana é refém de um sentimento de superioridade. A China, também graças a Trump, conseguiu adquirir pelo menos uma posição segura em todos os lugares. Claro, Pequim não têm as 1176 bases militares que Washington possui no mundo todo, mas está trabalhando nisso. De qualquer forma, o ensaio da Foreign Affairs recomenda aumentar urgentemente as defesas de Taiwan que, depois de Hong Kong, é o último pedaço da China fora da influência de Pequim. E eles afirmam que a guerra é perfeitamente possível em um curto espaço de tempo, possivelmente, dentro de dez anos. No entanto, com o tempo, “a possibilidade de uma guerra pode desaparecer, já que os Estados Unidos mostram que Pequim não pode derrubar a ordem existente pela força, e Washington gradualmente fica mais confiante em sua capacidade de superar uma China em desaceleração”.
É difícil seguir a convicção estadunidense de que o mundo é deles e de que a Pax Americana é imutável. Na verdade, no século XVI os Estados Unidos não existiam e, de acordo com a maioria dos economistas, a China respondia por 50% do PIB mundial. Agora, o desenvolvimento tecnológico chinês está prestes a ultrapassar os EUA. Segundo o Banco Mundial, em termos de poder de compra, a economia da China já havia ultrapassado a dos EUA no ano passado. A moeda chinesa e as reservas de ouro são o dobro das dos EUA. O certo é que, dentro de dez anos, teremos um enorme desenvolvimento da Inteligência Artificial — e, por enquanto, os EUA parecem levar vantagem. Porém, todos os desenvolvimentos recentes em IA apontam para sistemas de autoaprendizagem. Nesse sentido, a quantidade de dados faz a diferença, e a China tem o dobro de habitantes do que os EUA e a Europa juntos.
Mas por que a China estaria tentada a iniciar uma guerra contra os EUA? Isso desestabilizaria um sistema baseado no comércio, onde a Pequim é, de longe, a maior vencedora. Seria uma guerra extremamente difícil de vencer, porque a escala das operações tornaria os militares chineses minúsculos. E como os EUA poderiam lançar uma guerra contra a China? Após um bombardeio aéreo (a menos que ele se torne atômico — receita perfeita para a destruição do planeta), é preciso colocar botas no chão, como diz o ditado militar. É imaginável invadir a China?
Portanto, seria relevante desencorajar qualquer tipo de escalada, e não apenas pelos próximos dez anos. A guerra sempre é um perigo porque a estupidez humana, como disse Einstein, é tão ilimitada quanto o universo. Os mesmos autores do ensaio da Foreign Affairs relembram a Primeira Guerra Mundial como algo que nunca deveria ter acontecido. Mas os sinais da escalada continuam. Há duas semanas, o ex-secretário da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, deu uma entrevista, na qual disse que a OTAN deve vencer a batalha tecnológica contra a China. E Jake Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional designado para o governo do presidente eleito Joe Biden, acaba de fazer um apelo à União Europeia, em busca de solidariedade para com os Estados Unidos, e pedindo que não assine qualquer acordo comercial com a China. A Segunda Guerra Fria está a caminho…
Roberto Savio, no OtherNews
Tradução de Simone Paz
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Veja também
Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.
A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.
Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:
- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui
- Boleto: acesse aqui
- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui
- Transferência bancária
Nova Sociedade
Banco Itaú
Agência – 0713
Conta Corrente – 24192-5
CNPJ: 58726829/0001-56
Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br - Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui
- Acompanhe nossas redes sociais:
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram