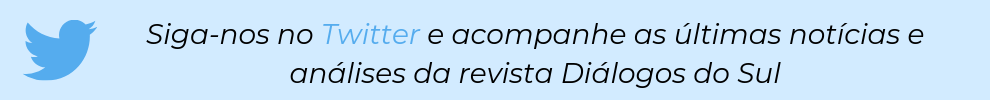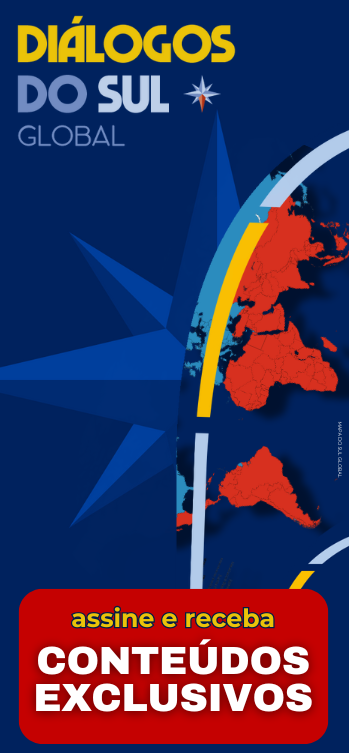Dos mais de 700 mil presos cumprindo pena nas prisões brasileiras, 61,7% são pessoas pretas ou pardas, de acordo com o Infopen, plataforma do Ministério da Justiça que reúne estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. Para o pesquisador e professor Edileny Tomé da Mata, natural de São Tomé e Príncipe, a realidade do sistema carcerário do Brasil é um reflexo da branquitude na Justiça, ou seja, de privilégios simbólicos e subjetivos vivenciados pela maioria dos magistrados e magistradas do país
Com formação em direito e especialização nas áreas de direitos humanos e interculturalidade, Edileny pesquisa desde o ano passado como as questões de raça, gênero e classe social influenciam a magistratura brasileira. “Eu comecei a realizar pesquisas colocando a relação das figuras subjetivas de magistrados e magistradas com a branquitude, e de como isso tem consequências na realidade das sentenças, nos acórdãos, nas liminares. Também das minhas reflexões começou a existir essa preocupação em desmistificar a ideia de que a Justiça não tem cor, não tem raça e não tem classe social”, contou o pesquisador ao Sul21 em entrevista.
Segundo Edileny, a magistratura no país se vê como isenta do contexto histórico cultural que formou o Brasil e não costuma se entender parte da sociedade brasileira, o que faz com que muitas das sentenças sejam racistas, machistas e excludentes. “O Brasil tem uma história de 10 milhões seres negros que foram trazidos à força para serem escravizados. Dentro desse processo de escravização também houve um processo de machismo. Sabemos que o país ainda acredita que existe uma democracia racial e que não há racismo aqui. E isso acaba trazendo para os juízes e as juízas uma realidade isenta de racismo, isenta de xenofobia”, afirmou. O pesquisador também defende que o contexto racista da magistratura brasileira é derivado da escravização dos corpos negros e dos reflexos desse processo para as pessoas negras, como a desumanização dos corpos negros e a criminalização dos hábitos dessa população.
“Falamos que a lei não tem cor, não tem raça, não tem gênero, mas a maioria dos detentos no direito penal e do direito criminal no Brasil são homens e mulheres negras. Quando a gente analisa a Lei Áurea, observamos posteriormente à suposta liberação dos negros e negras da escravidão uma criminalização de todos os hábitos da população negra, o que continua até hoje. Isso fez com que essa prática seja normal para o conceito da magistratura branca, que não se sente orgânica”, disse.
Além de estudar a temática da branquitude na Justiça brasileira, Edileny também orienta trabalhos de mestrandas gaúchas no Master en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, das Universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucia. Uma das pesquisas orientadas por ele, por exemplo, abordou a branquitude no mundo da magistratura no Rio Grande do Sul e como características de classe alta, de raça e de gênero influenciam as sentenças no Estado. “O trabalho da minha orientanda acaba sendo um estudo que busca refletir além de um viés da magistratura como uma questão que não tem cor. Ele identifica as cores, as classes e o gênero da magistratura para explicar porque a Justiça é machista e racista”, relata Edileny.

Foto: Luiza Castro/Sul21
O pesquisador e professor Edileny estuda sobre como questões de gênero, raça e classe influenciam as decisões da Justiça brasileira
Leia a entrevista na íntegra:
Sul21: O que te levou a pesquisar sobre a branquitude na Justiça brasileira?
Edileny: Eu comecei a pesquisar sobre esse tema porque tem uma conexão com a teoria crítica de direitos humanos, que é um pouco a minha linha de pesquisa e trabalho lá em Sevilha, na Espanha. Desde o ano passado eu venho para Porto Alegre visitar minha namorada, que é juíza aqui, e esse contato com ela fez com que eu começasse a refletir sobre teoria crítica e o trabalho da magistratura. Refletir sobre isso fez com que eu levasse minha pesquisa, que tem a ver com colocar em diálogo raça e gênero, para as questões da magistratura. Eu comecei no ano passado a pesquisar sobre esse tema e acabei orientando lá em Sevilha alguns trabalhos de magistradas daqui do Rio Grande do Sul sobre essa relação e a questão da branquitude na Justiça brasileira.
Também das minhas reflexões começou a existir essa preocupação de desmistificar a ideia de que a Justiça não tem cor, não tem raça e não tem classe social. Eu e minhas orientandas começamos a pesquisar sobre esse tema e sobre a branquitude, que é uma linha de pesquisa e uma linha de reflexão que não é nova. A Lia Vainer, por exemplo, é uma das autoras brasileiras que me levou a essa pesquisa e, mediante o trabalho dela, eu acabei vendo que essa reflexão sobre branquitude começou lá em 1920 com [W. E. B.] Du Bois, que pesquisava sobre a ideia de que a Europa e o mundo branco eram a referência, mas que essa não era uma subjetividade vista pelo próprio mundo branco enquanto pratica violência na periferia, seja fora ou dentro da Europa.
Então, comecei a realizar pesquisas colocando a relação das figuras subjetivas de magistrados e magistradas com a branquitude, e de como isso tem consequências na realidade da magistratura, na sentença, nos acórdãos, nas liminares.
Os trabalhos que você orienta tratam somente de casos brasileiros ou também analisam sentenças europeias?
Bem brasileiros. Uma juíza que eu orientei neste ano, a Gabriela Lacerda, que é juíza trabalhista aqui em Porto Alegre, pesquisou sobre a questão da branquitude, ou seja, a raça, o gênero e a classe social, no mundo da magistratura daqui; sobre quais são as características com um viés mais do mundo trabalhista e como essas características de classe alta ou rica, de branco, de heterossexual e homem, na maioria dos casos, influenciam as sentenças. [A magistratura brasileira] tem muito pouca presença das mulheres, sejam elas brancas ou negras. Há muito menos presença negra ainda, porque só entre 1,6% e 1,8% dos magistrados e magistradas no Brasil são pessoas negras, é muito pouco.
O trabalho da minha orientanda acaba sendo um estudo que busca refletir além de um viés da magistratura como uma questão que não tem cor. Ele acaba identificando as cores, as classes e o gênero da magistratura para explicar porque a Justiça brasileira é machista e racista.
Com base nos seus estudos, o quanto e de que forma a branquitude, no caso as questões de gênero, raça e classe, influenciam as decisões da Justiça brasileira?
Isso tem a ver com um conceito que a gente está tentando explorar agora que é o conceito da magistratura orgânica, que se trata daquele conceito da intelectualidade orgânica do [Antonio] Gramsci. Nós resgatamos esse conceito com um viés mais de epistemologia do sul para trazer para o mundo da magistratura orgânica, isso significa entender que o mundo da magistratura não se sente parte da sociedade em geral. Uma colega juíza usa o conceito de um mundo paralelo para explicar isso, porque eles [magistrados] vivem em mundo paralelo, que não é somente classista e diferente, mas também é um mundo onde o conhecimento não tem função social, em que as decisões deles não têm função social; também tem a questão de que a parte branca da sociedade brasileira não se considera racializada, como pertencente a uma raça. Essas características todas fazem parte da magistratura brasileira.
Porém, a presença racial é importante. A magistratura tem que se considerar parte de uma raça, ainda que nesse caso não seja a [raça] majoritária no Brasil. Sabemos que a população negra no país é superior em números, mas também sabemos que os espaços de poder estão dominados e ocupados pela população branca. Aí que está essa presença do racial no contexto da magistratura, que muitas vezes não se nota, já que o branco não é visto como uma raça. O Du Bois já dizia lá em 1920 que ser branco é considerado uma virtude; não é uma raça, é algo neutro, é a referência. Então, esse viés não se contempla nas decisões porque quem é jurisdicionado é a parte periferizada e subalterna da sociedade. O branco que ocupa espaços de poder, nesse caso a magistratura, decide sobre a vida dos outros.
Sem ter esse viés de se enxergar como uma raça, a magistratura também usa dois princípios que são a imparcialidade e a neutralidade. Podemos aceitar a imparcialidade até certo ponto, porém a neutralidade não. Aquilo que a gente usa como conceito da magistratura orgânica faz com que a neutralidade não exista, porque ela não pode estar presente já que o juiz ou a juíza fazem parte da sociedade e, por isso, possuem valores culturais construídos ao nível sócio histórico no Brasil. Devido ao contexto brasileiro, essa construção faz com que, na maioria das pessoas, existam valores com viés racista e machista sobre a sociedade. Isso não vem somente da formação das pessoas, mas dos seus valores culturais. Então, a magistratura não está isenta de valores e muitas vezes ela não percebe esses valores nas suas decisões.
 ‘O branco que ocupa espaços de poder decide sobre a vida dos outros’, diz Edileny. Foto: Luiza Castro/Sul21
‘O branco que ocupa espaços de poder decide sobre a vida dos outros’, diz Edileny. Foto: Luiza Castro/Sul21
Essas questões estão ligadas à forma como o direito é ensinado dentro das universidades brasileiras ou está mais relacionada à construção sociocultural do Brasil enquanto uma sociedade que não se vê racista e machista?
Ambas as coisas. A questão do conceito magistratura orgânica é um conceito em que estamos trabalhando isso, porque é um termo que a gente resgata para criticar esse viés racista e machista. Se o juiz e a juíza não se sentem parte [da sociedade], o conceito da magistratura orgânica deve servir para que eles passem a se sentir parte e não mais como um ser metafísico, paralelo à sociedade, que é como os magistrados se veem hoje. Eles precisam se ver como um ser que faz parte da sociedade em que estão inseridos. Sabemos que essas questões têm a ver com a formação cultural e sócio histórica do Brasil, que tem uma história de 10 mil seres negros que vieram do continente africano, que foram trazidos à força para o Brasil para serem escravizados. Dentro desse processo de escravização também houve um processo de machismo ao mesmo tempo, porque tem mulheres que foram trazidas forçosamente. Dessa forma, os valores socioculturais de formação da masculinidade brasileira também fazem com que haja esses valores machistas na magistratura.
Isso é uma parte importante que com a magistratura orgânica a gente tenta visibilizar para apontar que o juiz e a juíza não estão isentos ou isentas dessa formação histórico cultural e que, por isso, as decisões são racistas e machistas. Muita gente fala assim ‘as decisões estão separadas da realidade, você tem uma análise da lei e uma aplicação da lei’, mas a lei em si é um produto cultural. Minha formação em Sevilha faz com que a gente tente resgatar essa ideia de que a lei não é uma questão metafísica.
O fato é que como ensinamos o direito faz com que a sociedade não perceba que o direito tem uma função social. Eu tive a sorte de ter alguns professores e professoras no Marrocos, onde fiz minha graduação, que tinham um viés diferente, mas a maioria dos professores ainda não têm esse viés. Ainda é uma ideia do direito mais metafísico, o que faz com que essa visão seja predominante e, então, se entende que o direito é algo que está separado da realidade. Só que ao não se tornar parte da realidade, não tem conexão nem com outros sistemas de garantia, nem com a sociedade em si e também não vemos a função social de uma sentença. Em uma sentença, um juiz toma uma decisão sobre o encarceramento de uma pessoa, sobre a retirada de uma criança de uma família, por exemplo. Isso tem função social, mas quando a maioria da magistratura toma essa decisão, eles não percebem que função social isso terá, que consequências isso terá; eles tomam essas decisões seguindo apenas o processo técnico do direito processual.
Mais da metade dos detentos cumprindo pena nas cadeias brasileiras são pessoas negras. O quanto esse contexto também está ligado à branquitude na Justiça brasileira e às decisões judiciais que são influenciadas pelo racismo?
Falamos que a lei não tem cor, não tem raça, não tem gênero, mas a maioria dos detentos no direito penal e no direito criminal no Brasil são homens e mulheres negras. Quando a gente analisa a Lei Áurea, que acabou com o processo da escravização dos corpos negros, observamos posteriormente à suposta liberação dos negros e negras da escravidão uma criminalização de todos os hábitos da população negra, o que continua até hoje. Isso fez com que essa prática seja normal para o conceito da magistratura branca, que não se sente orgânica. O que é importante a gente visibilizar não é uma questão técnica no direito, não é uma questão de que direito interpreta por um viés neutro, mas sim uma questão real da branquitude, da Justiça, da magistratura e do direito criminal.
Isso é algo que em Sevilha nós vimos refletindo no espaço que chamamos de “Escola de Sevilha”, no programa que começou em 1995 com o nosso mestre Joaquín Herrera Flores, que foi um espanhol que faleceu há 10 anos. Ele começou com esse processo de formação com uma forma diferente de refletir o Direito. Uma das questões que ele reflete é a falácia jurídica e como o jurídico com a sua falácia acaba entendendo que não é necessário contextualizar e nem fundamentar o Direito em suas decisões.
E qual seria a falácia jurídica apontada por ele?
A falácia jurídica pega dois aspectos importantes: a questão de que o direito é neutro, que não tem conexão com a sociedade, e, ao mesmo tempo, que o direito é somente um sistema de garantia. Dentro dessa falácia jurídica ele traz um aspecto importante que é o fato de perceber que a realidade jurídica deve ser contextualizada, que a gente deve contextualizar as leis. Isso significa que se eu quero saber da Constituição brasileira, eu não somente vou analisar os artigos dela, mas vou analisar onde, quando e por quem ela foi feita. Esse por quem foi feito temos que analisar as características subjetivas de raça e gênero de quem fez para saber as características que vão criminalizar certos hábitos e certos comportamentos. Com isso, acabamos vendo no direito penal e no direito criminal no Brasil todos esses aspectos que fazem com que a maioria dos detentos sejam negros e negras.
 ‘O juiz ou a juíza fazem parte da sociedade e, por isso, possuem valores culturais construídos ao nível sócio histórico no Brasil’. Foto: Luiza Castro/Sul21
‘O juiz ou a juíza fazem parte da sociedade e, por isso, possuem valores culturais construídos ao nível sócio histórico no Brasil’. Foto: Luiza Castro/Sul21
Existem outros países que também têm em sua história a escravização dos corpos negros. O que você percebe no Brasil sobre a presença do racismo nas Justiça também acontece nesses outros países que passaram por processos semelhantes?
Eu digo que tive a sorte de começar a estudar isso aqui no Brasil, porque é onde há uma maior abertura. Eu moro na Espanha faz quase 14 anos e não tenho contato com magistrados e magistradas como eu tenho aqui e também tem o fato de que a maioria das decisões na Espanha com o tema de gênero são excludentes, bem poucos casos são mais inclusivos. Raça não existe na Europa, porque lá raça é uma questão dos imigrantes, nós que temos raça porque, supostamente, não pertencemos ao contexto europeu. Então, raça não é um debate dos europeus, porque eles se percebem uma raça essencialista branca, tão branca que se é um tema racial é um tema dos imigrantes, desse ‘pessoal que está chegando aqui’.
Existem dois autores que mostram que nossa presença, dos corpos imigrantes negros, traz para Europa um debate que desmistifica a ideia da Europa tolerante com a raça. Uma questão importante é entender que não somente a gente traz a raça para esse debate, mas também mostramos que a raça não é um debate contemporâneo, porque sempre existiram negros e negras na Europa, já que ela também participou do processo de escravização e tem uma conexão com o continente africano faz séculos. Então, essa presença dos negros e negras no contexto europeu não é recente.
O quanto a branquitude na Justiça brasileira também acaba aparecendo nas sentenças e penas?
Vamos voltar para a questão da branquitude. Uma das pesquisadoras sobre branquitude no Brasil é a Maria Aparecida Bento; ela e a Lia Vainer acabam dizendo que tem certas práticas sociais e características que são vinculadas a certas pessoas de acordo com uma raça que outro grupo racial, nesse caso o branco, não percebe porque não viveu nunca. O fato de que se uma pessoa branca fosse na rua com uma bolsa com produto de limpeza, que nem o [catador] Rafael [Braga], não teria acontecido nada com essa pessoa, mas com ele aconteceu. O fato de ter cuidado com certos comportamentos, como não poder levar certos produtos na sacola, sair sempre com o passaporte ou com o RG, é algo que aprendemos no dia a dia porque precisamos saber disso. Isso tem a ver com como a sociedade construiu uma imagem nossa, dos negros e negras, que faz com que algumas situações acabem sendo motivo prévio de criminalização, mesmo quando a pessoa não cometeu o crime, como é o caso do Rafael.
A pessoa tem que ter cuidado com algo tão simples como levar um produto de limpeza. Vira um elemento de criminalização em que todo processo já foi criminalizado previamente, porque trata de uma decisão que já foi tomada anteriormente à sentença. A criminalização prévia leva também a uma desumanização da pessoa.
Se a Lei Áurea supostamente acabou com a escravização, o processo de desumanização dos corpos racializados faz com a raça não signifique somente uma questão biológica, mas sim uma questão de que a raça é usada para legitimar situações de desigualdade e poder, onde não somente os negros são racializados, mas também os pobres, periféricos e, nesse contexto, os brancos pobres. Isso faz com que os corpos negros racializados continuem a ser desumanizados, da mesma forma que se fazia na época da escravidão.
Você poderia dar exemplos de casos em que as decisões dos magistrados refletem a influência de questões como o racismo, machismo e xenofobia?
Agora nós estamos tentando trabalhar com um viés emancipatório, tentamos trazer para os trabalhos uma realidade que demonstra que é possível o direito ser emancipatório. Só que isso depender do fazer humano, que é uma expressão do Joaquín Herrera Flores, que fala que depende da conscientização do próprio juiz e da própria juíza. Se formos analisar o direito que tem um viés racista, que é a maioria, o Adilson José Moreira no livro dele, que é chamado ‘Racismo Recreativo’, acaba analisando as sentenças e o quanto elas são racistas. O que nós trazemos nos cursos que eu participo são sentenças com viés emancipatório.
Tem uma sentença da juíza Karla Aveline de 2018 que tem a ver com um caso de racismo em um supermercado de Porto Alegre. Esse caso de racismo foi analisado nesta sentença da juíza estadual como de uma realidade racista, porque eram três jovens negros que foram no mercado comprar e ao sair foram acusados de terem roubado. Era uma denúncia que não era real, porque vasculharam as mochilas dos três e não tinha nada, mas o caso foi levado para a Justiça e caiu na mão da juíza Karla. Quando ela analisou o caso ela não apenas fez uma análise técnica, mas também trouxe um arcabouço teórico que ia desde a filosofia do direito até a antropologia e a história brasileira para analisar o porquê de a imagem dos adolescentes negros ter sido uma fronteira em um espaço que é branco, localizado na Zona Sul – sabemos que ali se encontra a Restinga, mas ainda assim é uma região branca. Existem espaços em que corpos negros não podem entrar e, nesse caso, nesse supermercado eles não podem entrar. Eu vou comprar nesse supermercado e vivencio isso quando estou em Porto Alegre. É difícil, tu entrar no lugar e teu corpo tem esse conceito de fronteira, que tu não pode atravessar e tu é vigiado. E essa prática que essa juíza tomou tem a ver com esse viés emancipatório.
 ‘Trazendo a realidade do direito para o chão, a gente acaba visibilizando que a maioria das sentenças, das liminares, dos acórdãos do mundo da magistratura são machistas, racistas e excludentes da sociedade’. Foto: Luiza Castro/Sul21
‘Trazendo a realidade do direito para o chão, a gente acaba visibilizando que a maioria das sentenças, das liminares, dos acórdãos do mundo da magistratura são machistas, racistas e excludentes da sociedade’. Foto: Luiza Castro/Sul21
Este caso foi uma sentença emancipatória, mas como esse processo teria se desenrolado se seguisse a norma de uma magistratura influenciada por questões de um racismo estrutural?
Em outros casos, basicamente, eles dizem que os jovens foram barrados porque o imaginário social e coletivo percebe que, se não foram eles que roubaram, outros poderiam ter feito. Como a sociedade em um imaginário coletivo percebe que quem rouba é o negro e que quem furta é o negro, o juiz e a juíza teriam justificado esse fato como um consenso social e que não existia racismo na acusação.
Sabemos que no Brasil ainda existe esse debate, porque o país ainda acredita que existe uma democracia racial e que não há racismo aqui. E isso acaba trazendo para os juízes e as juízas uma realidade isenta de racismo, isenta de xenofobia. Dentro disso, os magistrados teriam decidido que é um juízo social, que quem rouba são os negros e que barraram eles pela cor da pele deles. Podem até mesmo decidir que o guarda viu alguma prática suspeita, que fez com que eles fossem barrados. Acabam justificando o fato.
Poderia ocorrer também uma acusação dessas pessoas acusadas injustamente. Isso ainda é comum nas decisões da Justiça brasileira, certo?
Sim, na maioria dos casos. O que acontece é que a maioria dos casos faz com que o direito não seja visto como uma prática social, com a sua função social. Acabamos percebendo que o mundo da magistratura, o mundo de servidores e servidoras públicas têm dificuldade de fazer essa reflexão e não percebe sua função social, não entende qual função tem uma lei na sociedade. A maioria acaba dizendo que uma lei traz ‘a paz social, a tranquilidade social’, mas e quando a lei usa a força? Traz a paz social na sociedade ou traz a paz social para alguns, para uma minoria, uma elite?
Acabamos refletindo sobre a função social do jurídico além de um viés metafísico que está lá em cima e não sai do seu espaço. Trazendo a realidade do direito para o chão, para o real, a gente acaba visibilizando que a maioria das sentenças, das liminares, dos acórdãos do mundo da magistratura são machistas, racistas e excludentes da sociedade. Percebemos que a função social não é uma função social inclusiva, mas sim excludente.
Para mudar essa realidade onde o preconceito afeta as decisões da Justiça brasileira é necessário mudar apenas a mentalidade dos magistrados que não se colocam como parte da sociedade, como você mencionou, ou é preciso que ocorram mudanças na legislação brasileira também?
É preciso a gente perceber não somente a lei em si, desde seu processo de criação à aplicação, tem uma função social. Quando a gente perceber que a lei, a norma, tem uma função social, a gente começa a perceber que as nossas decisões têm uma função social e que precisamos passar a contemplar as consequências das nossas decisões. Isso não somente na magistratura ou no mundo acadêmico, mas na sociedade em geral. Precisamos saber que ao proferir um discurso ou uma atitude isso vai gerar valores.
Ao mesmo tempo, para tentar conseguir que a magistratura e o mundo acadêmico, que ainda estão em um contexto muito metafísico e sem relação com a realidade, comecem a se perceber como parte da sociedade, eles precisam entender que não são somente seres que pensam, mas também seres que atuam, que tomam decisões que formam parte da sociedade. Não é somente uma questão de um direito estático, que não tem a ver com o contexto político, com o contexto social, contexto econômicos, mas também tem a ver com um processo de luta da sociedade. A luta das sociedades faz com que as práticas não sejam estáticas, não sejam regressivas. A gente viu agora no Equador e na Argentina que há um processo de luta, que vem da parte subalternizada e periferizada da sociedade, que demonstra à uma elite que está no poder que não são eles que tomam as decisões, que não é uma a parcela branca, heterossexual e uma classe média ou alta que toma a decisão, mas sim o direito em si.
Veja também