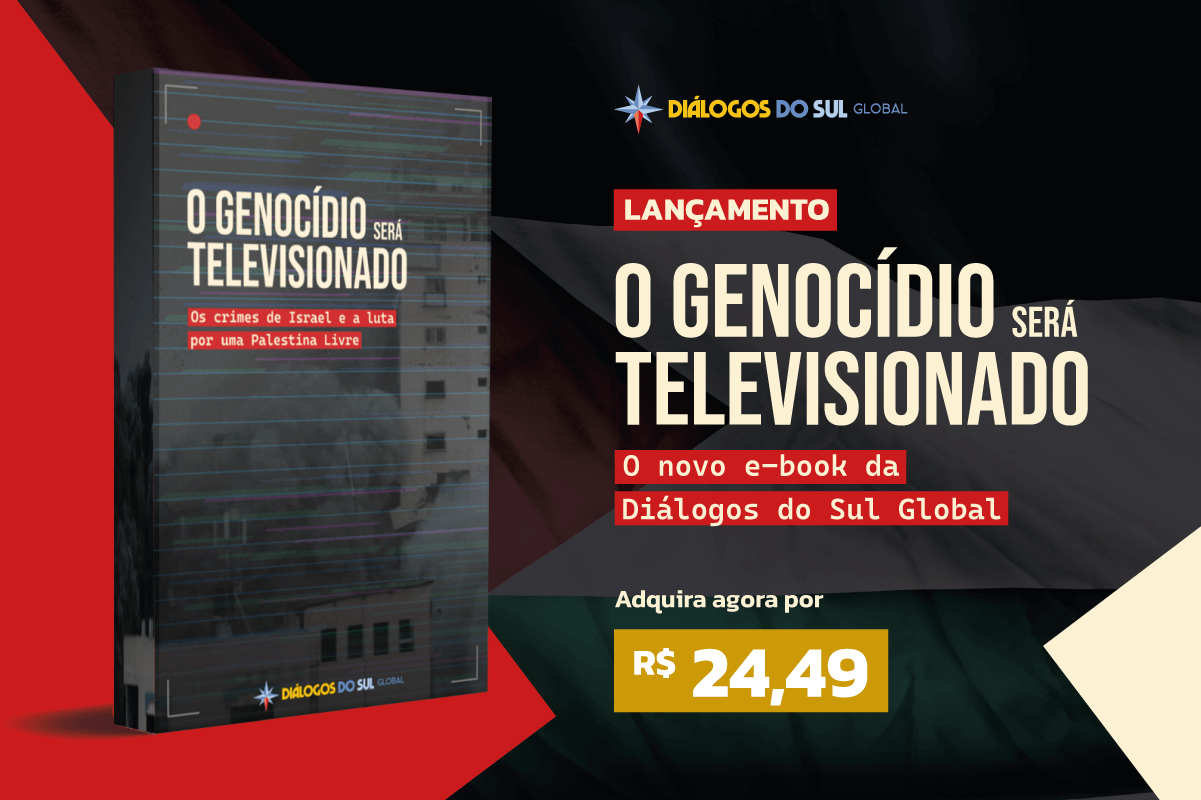Na última quinta-feira (28), o professor da Universidade de Brasília e cientista político Luis Felipe Miguel esteve em Porto Alegre para participar de um debate sobre o lançamento de seu último livro: “O Colapso da Democracia Brasileira”.
Na obra, Miguel defende que, se a Constituição de 1988 fracassou em sua ambição de consolidar a democracia e o bem-estar social para a maioria dos brasileiros, o golpe contra Dilma Rousseff coloca um ponto final na fantasia de que seria possível combater a desigualdade social sem confrontar privilégios.
Para o autor, os episódios da história política recente do Brasil revelam que determinados grupos de interesse, quando se veem descontentes, não hesitam em mudar as regras do jogo.
“Colapso” é o primeiro volume de uma coleção que está sendo lançada pela editora Expressão Popular para fomentar o debate social sobre questões importantes da conjuntura política do Brasil.
Leia também
De onde vem Paulo Guedes, o super-ministro da economia do Governo Bolsonaro?
“É um livro feito para atingir um público amplo, não acadêmico, mas que, ao mesmo tempo, aprofunde algumas questões que são centrais para entender o Brasil e os desafios que se colocam para a atuação política”, diz Miguel.
Aproveitando a passagem dele pela Capital, a reportagem do Sul21 conversou com o professor a respeito da fragilidade da democracia brasileira e dos riscos de fechamento autoritário do governo Bolsonaro. Para ele, o que acontece no Brasil não difere do cenário vivenciado por outros países, sendo fruto da ruptura entre democracia-liberal e a reprodução do capitalismo.

Foto: Giulia Cassol/Sul21
O professor da Universidade de Brasília e cientista político Luis Felipe Miguel
Confira a entrevista na íntegra.
Sul21 – O senhor lançou em Porto Alegre o livro “O Colapso da Democracia Brasileira”. Quais são os elementos apontados no livro que indicam esse colapso?
Luis Felipe Miguel – Acredito que tivemos um processo de construção de instituições democráticas a partir da Constituição de 1988, com uma série de limites nesse processo. Um processo em que os grupos historicamente dominantes continuaram tendo muita capacidade de pressão, mas que ainda assim abriu espaço para que o campo popular se fizesse ouvir na política, o que deu origem a governos que, de alguma maneira, respondiam algumas dessas demandas e que tinham políticas que favoreciam grupos historicamente desprivilegiados no País.
Toda essa construção complexa, ambígua, com os seus limites, começou a ser desfeita no momento em que a classe dominante brasileira decidiu que as concessões que estavam sendo feitas aos grupos dominados, embora fossem, do meu ponto de vista, bastante limitadas, tinham que ser revertidas.
Houve uma tentativa de derrotar a experiência do governo de centro-esquerda nas urnas, com campanhas muito violentas, mas ainda dentro das regras do jogo. Um jogo bruto, mas dentro do esperado. Você desgasta o governo para ganhar a eleição. Quando isso dá errado, em 2014, a parte majoritária da direita brasileira vai se desencantando do processo eleitoral e chegando à conclusão de que é necessário interromper esse ciclo através de uma intervenção violenta de quebra da institucionalidade política. Isso é o golpe de 2016.
A presidente Dilma Rousseff foi retirada do cargo num processo de impeachment fraudulento em que não existiam os crimes de responsabilidade tipificados em lei que justificassem a sua saída do cargo. Isso hoje está pacificado, o próprio Michel Temer já disse que é golpe, então não tem muito mais discussão sobre aquele evento.
Só que não foi simplesmente a retirada da Dilma da presidência, foi um processo para redefinir a institucionalidade social e política no Brasil. Abriu caminho para um longo período, que nós ainda estamos vivendo, de retirada de direitos, de refluxo das políticas sociais do estado, e abriu espaço para a vitória dessa extrema-direita que está no governo agora, que só foi capaz de chegar ao poder por causa do processo aberto em 2016, seja pelo estímulo a discursos autoritários e discriminatórios, seja pela fragilidade do império da lei que permitiu a perseguição judicial que afastou o ex-presidente Lula da disputa.
Falar em colapso da democracia remete à possibilidade de um fechamento autoritário. E temos o presidente com a maior possibilidade de fazer isso desde 1988. Nesse momento em que vemos o filho do presidente e o ministro da Economia falando em AI-5, o senhor vê indícios de estarmos caminhando nessa direção?
Olha, eu julgo que eles não têm força para fazer isso nesse momento, mas estão o tempo todo testando esses limites e buscando expandi-los. E isso não é algo que está acontecendo só no Brasil. O Brasil, infelizmente, é o caso mais radical dessa extrema-direita que chega ao poder, mas isso tem acontecido pelo mundo afora e existe um processo similar em outros países, que é desse governante com a postura próxima do fascismo ou pelo menos muito radicalmente à direita chegar ao poder por vias formalmente democráticas, pelo processo eleitoral, e, uma vez no poder, começar a testar os limites das instituições, empurrando esses limites para mais longe.
Leia também
Plano de Paulo Guedes é um verdadeiro AI-5 econômico que pode destruir país
Acredito que existem iniciativas do governo Bolsonaro concretas, claro que não é algo que vai ter o nome do AI-5, não precisa ser a reedição do AI-5 de 1968, que caminham em direção similar para permitir a escalada da violência do estado contra qualquer forma de mobilização popular. Então, essas novas propostas de ampliação do papel repressivo das próprias forças armadas contra a população no caso de mobilizações, repetidas iniciativas para garantir a impunidade das forças policiais em quaisquer circunstâncias, isso vêm desde o primeiro momento do governo com o projeto do Sérgio Moro. A ideia de excludente de ilicitude, a ideia de que o agente da força repressiva do estado pode matar, basicamente em qualquer condição. Isso claramente voltado — e está mais evidente agora — contra a possibilidade de mobilização popular.
Acredito que existe uma questão: esse projeto econômico que o Paulo Guedes está liderando só consegue se impor com base na violência, porque os seus efeitos destrutivos na vida de milhões e milhões de pessoas se fazem sentir muito rapidamente. Então, a gente fala que o modelo do Guedes é o Chile do Pinochet, e é mesmo. De alguma maneira, o Bolsonaro é o nosso Pinochet.
Saiba+
Pinochet: o ditador chileno, a sua “obra”, e o grande blefe do senhor Paulo Guedes
É aquele sujeito que vai dar a quantidade de violência necessária para impor a agenda ultraliberal. O ideal deles, no meu modo de entender, é realmente o Chile. As reformas ultraliberais foram tão fortes, que, depois de passar o Pinochet, você pode ter uma democracia eleitoral que não desafia essas políticas.
 Miguel destaca que a agenda econômica defendida por Guedes historicamente se impõe por meio da violência | Foto: Giulia Cassol/Sul21
Miguel destaca que a agenda econômica defendida por Guedes historicamente se impõe por meio da violência | Foto: Giulia Cassol/Sul21
Nesse sentido, o Chile vive uma onda de protestos contra as medidas neoliberais e a ausência de um estado mais protetivo. De que maneira isso pode ser um freio para o governo Bolsonaro?
Eu acho que o fato de que eles estão tão chocados com o que está acontecendo no Chile mostra que é um pouco o paraíso deles estar desabando. Mostra que, embora a longo prazo, chega uma resposta. É até curioso a gente ver que tanto os próprios integrantes do governo, quanto os comentaristas econômicos da mídia corporativa que até anteontem apresentavam o Chile como modelo para o Brasil, agora fazem questão de afastar uma coisa da outra.
Saiba+
Desastre no Chile, Previdência privada é a menina dos olhos de Bolsonaro e Guedes
Mas qualquer um que acompanhe a trajetória do Guedes, as propostas que ele apresentou e mesmo seus discursos ainda do primeiro semestre, percebe que é exatamente isso. O modelo que ele está querendo para o Brasil é o modelo que sempre foi exaltado como perfeito, que permite crescimento econômico duradouro, que é o modelo do Chile, mas o custo social, que sempre foi denunciado, uma velhice sem qualquer tipo de proteção, um trabalho super explorado, da dificuldade de acesso da juventude à educação, esse custo social agora está se manifestando.
Então, acho que existe, por parte de quem faz a política econômica do governo, uma insistência em algo que hoje, pelos próprios parâmetros que eles falavam meses atrás, está provado que não dá certo. Mas o não dá certo não é para eles, porque eles estão defendendo outros interesses.
Leia também
Saiba como a aliança entre liberais e militares na ditadura chilena mudou a Previdência
O capital financeiro que o Guedes representa vai lucrar imensamente, já está lucrando, e quando ele alcançar, o que espero que não ocorra, a joia da coroa, que é a privatização absoluta da previdência social, isso vai ser uma festa. E, quando daqui a 20 anos as pessoas estiverem realmente na penúria absoluta, esse pessoal já ganhou enormemente. Agora, o que eu acho é que a nossa direita que se quer civilizada, o amplo setor da direita que a gente vê inclusive na grande imprensa que quer o Guedes sem as barbaridades do Bolsonaro, está iludida, porque uma coisa é necessária para a outra.
A gente tem muito espanto na mídia e em certos setores da direita com algumas declarações que vêm do governo, como quando falam de AI-5 e excludente de ilicitude, mas quais são os freios que a gente tem para o caso desse governo, de fato, implementar medidas autoritárias?
Eu acho que a gente está num momento em que a coalização que chegou ao poder com o golpe de 2016 tem uma fratura interna. Não no que diz respeito ao projeto econômico, à desnacionalização da economia, à retirada de direitos da classe trabalhadora. Eu acho que essa divisão interna se manifesta muito no judiciário.
Sobre o tema
O que realmente vale para o STF: Constituição ou vontade de uns generais?
O Supremo hoje encarna essa divisão e várias decisões mostram isso. Você tem um STF que é incapaz de dar um passo para garantir os direitos dos trabalhadores, é incapaz de dar um passo para garantir as empresas nacionais, incapaz de dar um passo para garantir o caráter nacional da nossa economia e setores estratégicos. Não faz nada. Nas questões relacionadas a todas essas áreas, nós temos uma unanimidade do Supremo a favor. Então, se a gente não for capaz de colocar gente, mobilizar de forma organizada contra isso, vamos ser derrotados em tudo.
Sobre o tema
Pacote Anticrime: Sérgio Moro quer institucionalizar e naturalizar violência policial
Por outro lado, nós temos unanimidade no Supremo também na vigência de algumas liberdades liberais que o governo Bolsonaro e setores mais radicalizados da direita são contra. Por exemplo, embora o Toffoli, como é próprio da forma de agir dele, tenha evitado pautar o Escola Sem Partido para decisão do plenário, o ESP está sustado por uma decisão monocrática do Barroso em caráter liminar. Não existe dúvida de que, quando for pautado no plenário do Supremo, vai ser rechaçado por unanimidade. Existem decisões prévias do Supremo sobre autonomia universitária, sobre liberdade de cátedra que indicam isso com toda a clareza.
Agora, existe um ponto conflagrado que se mostra claramente no Supremo, e a decisão sobre a prisão em segunda instância deixou isso claro, que é até onde os estatutos legais do estado de direito para a proteção do cidadão contra a violência do Estado serão flexibilizados. Você tem um setor, que hoje o chefe de bancada no Supremo é o Gilmar Mendes, que julga que o que foi necessário de uma violência mais forte no sentido de suspender as garantias legais contra o arbítrio do estado já foi feito, já cumpriu seus objetivos, e a gente deve voltar para uma certa normalidade que, com isso, protege os direitos dos cidadãos ao mesmo tempo que protege o setor da velha política conservadora que se sente também ameaçado. Tem outro setor, que é liderado talvez pelo Barroso, que tem uma visão mais messiânica de promover a limpeza moral do Brasil e se alinha ao Sérgio Moro, o que não deixa de ser um paradoxo, porque você vai produzir a limpeza moral do Brasil seguindo a linha de um juiz notoriamente corrupto, mas tudo bem, e que julga que as garantias legais são um entrave a essa limpeza. É uma visão que tem um fundamento fascista. Embora o Barroso se coloque como suprassumo do liberalismo, ele tem um fundamento fascista nessa percepção.
Saiba+
O pacote de Sergio Moro e os três curingas da restauração conservadora
A gente tem condições de construir com setores da direita, setores golpistas, setores antinacionais, mas que pretendem manter algum grau de civilidade liberal, uma barreira contra as tentativas nesse momento de mudança no nosso marco legal para permitir uma violência do estado desenfreada. Por isso que eu acho que as propostas do Moro de liberação da violência policial, as propostas de uma nova legislação altamente restritiva das liberdades, ainda têm condições de serem barradas. Elas encontram resistência não apenas do campo popular, que está muito derrotado nesse momento, mas também de setores no parlamento e de setores no judiciário.
Mas essa resistência de setores do parlamento é real? Existiria independente da condução do governo? Ou ela advém do fato de que o governo não soube construir essa aliança, por exemplo, com Rodrigo Maia, que ideologicamente não difere do Paulo Guedes?
Eu acho que são duas questões. Primeiro, eu acho que eles estão alinhados com o Paulo Guedes. Com todas as brigas, mesmo com o fato de o Paulo Guedes ser pessoalmente uma pessoa muito autoritária e não ajudar a construir essas pontes, eles servem aos mesmos interesses. Tanto é que a gente viu as contrarreformas sendo aprovadas mesmo com as brigas do governo Bolsonaro com o Maia. Mas, acho que você tem um setor importante da direita política, que o Maia representa, que tem uma visão mais instrumental do arbítrio do estado. Julga que ele deve ser usado na mínima dose possível. Eu não estou dizendo que ele seja um democrata convicto e autêntico, tanto é que, quando foi necessário, nenhuma das vozes, ou raríssimas delas, se levantaram contra a prisão ilegal do Lula no período da campanha eleitoral, porque ali era necessário. São setores que veem que essa escalada da violência que o Bolsonaro propõe tensiona a política e que seria necessário dar passos para distensionar. Então, acho que a gente tem aí duas lógicas políticas diferentes, que correspondem também a bases sociais diferentes.
O Bolsonaro trabalha no tensionamento e, embora ele não seja uma pessoa de muita capacidade intelectual, intui que isso é o que o favorece. É algo que é até desconcertante, porque, para a sabedoria política convencional, uma vez que você chega no governo, você tenta pacificar o País para governar mais facilmente. Ele, não. Ele faz questão de manter essa tensão. Inclusive, quanto mais os seus ministros conseguem manter alta essa tensão, mais valorizados são pelo Bolsonaro. O Maia, colocando ele como exemplo, é uma elite tradicional que entende que deve promover os interesses que representa, mas procura manter essa tensão num nível menor, então, por isso, a violência do estado só deve ser utilizada em último caso. Acho que tem visões políticas diferentes e tem a compreensão de que um caminho favorece mais alguns projetos pessoais e outro, outros. O Maia não é alguém que, ao meu ver, fosse capaz de prosperar politicamente num ambiente de conflito aberto permanente. As características dele são daquele sujeito que é capaz de promover algum tipo de conciliação. Tanto é que vários deputados considerados à esquerda embarcaram na canoa do Rodrigo Maia, por causa dessa característica dele de sujeito que conversa.
O Ciro Gomes faz juras de amor públicas a ele.
Exatamente. Daí, como presidente da Câmara, ele implementou a agenda mais reacionária. Mas são agendas diferentes.
O Lula, agora solto, pode ser um freio ou ele pode servir para esse jogo de tensionamento do Bolsonaro?
Eu acho que a soltura do Lula é um dado central da conjuntura. Acho que a decisão do TRF4 contra o Supremo mostra bem que, internamente, isso não está sendo bem recebido por esses setores mais messiânicos do lavajatismo. O próprio Lula reorganiza a oposição estando solto. Não é à toa que ele é tão temido, porque ele é um sujeito que tem enorme liderança e uma enorme capacidade de comunicação. Acho que um dos problemas que a esquerda tem hoje é o fato de que os consensos discursivos que tinham sido construídos a partir da Constituição de 88, a favor de uma sociedade menos desigual, a favor de direitos, a favor da justiça social, foram profundamente abalados e a esquerda está tendo que trabalhar num ambiente de debate público em que valores absolutamente contrários a ela estão muito enraizados hoje. Então, a esquerda está com dificuldade de encontrar um discurso que seja capaz de se colocar nesse ambiente. E o Lula é a liderança da esquerda que é capaz de romper várias barreiras e se comunicar com uma população ampla. Ele tem essa qualidade ímpar e por isso é um nome central.
Agora, a questão é qual é o projeto que o Lula vai apresentar? Desde que foi solto, ele tem dado sinais contraditórios. Existe a tentação que a gente vê em muitos discursos do Lula, desde antes de ser preso, depois quando pode voltar a dar entrevistas na prisão, de tentar recompor hoje o pacto de 2002. Uma espécie de lulismo 2.0 em que você reaglutinaria a elite política tradicional, você reagruparia os interesses do capital e voltaria a ter um espaço para políticas compensatórias para promover melhorias para a população mais pobre. Eu acho que essa aposta está fadada ao fracasso, acho que esse caminho foi fechado. E foi fechado não pela centro-esquerda, foi fechado pela direita, que deixou claro que não quer mais nenhum espaço de conciliação. A direita está na ofensiva da luta de classes. Por outro lado, o Lula tem dado declarações sobre a necessidade de ampliar a mobilização popular nas ruas, de ter uma ofensiva de mobilização popular maior. Qual dos dois caminhos vai ser seguido? Ao mesmo tempo, ele tem buscado fazer pontes com a direita tradicional, com o Maia, etc., por outro lado tem um discurso de que é o povo na rua que deve conduzir o enfrentamento ao governo Bolsonaro. Então, ainda não dá para saber.
 Professor questiona qual é o caminho que o ex-presidente Lula seguirá na oposição ao governo Bolsonaro | Foto: Giulia Cassol/Sul21
Professor questiona qual é o caminho que o ex-presidente Lula seguirá na oposição ao governo Bolsonaro | Foto: Giulia Cassol/Sul21
Eu acredito, mas é claro que isso é sempre mais fácil de falar do que de fazer, que os caminhos para a gente barrar o retrocesso pela política institucional estrita estão fechados. A gente tem algumas coisas que, como eu falei, podem ser barradas no autoritarismo mais explícito, mas o retrocesso em termos dos direitos da classe trabalhadora, das políticas de combate às formas de subalternidade, isso tá fechado. Se a gente ficar pensando que o caminho é eleição e contestação judicial, a gente vai acumular derrotas. Porque, na eleição municipal do ano que vem, as perspectivas da esquerda não são boas. A mesma máquina de desinformação, de manipulação, de intimidação, que foi posta em curso em 2018 continua pronta para ser ativada. A mesma utilização das igrejas como curral eleitoral. A mesma mídia absolutamente enviesada. Os mesmos grupos de WhatsApp. O que a esquerda construiu de reação contra isso? Então, até mesmo para ter frutos eleitorais, tem que investir na mobilização de base, criar novos circuitos de debate político que permitam se contrapor a essa onda do discurso da extrema-direita. Esse passo eu não vejo no Lula. Tem todo um bastidor que eu não conheço, mas o que a gente vê é toda uma mobilização voltada, em primeiro lugar, para a eleição do ano que vem. A construção de alianças, o quanto que o PT deve lançar de candidato próprio. Eu não sou militante do PT, não entro nessa discussão, mas o que me incomoda dentro da posição política à esquerda é ver que, novamente, a gente vai canalizar as energias para a política eleitoral. Isso aconteceu em 2016 logo depois do golpe. As eleições municipais de 2016 trabalharam contra a resistência inicial ao governo Temer. Porque, de repente, todos os setores estavam preocupados com quem iam apoiar. Se era a Jandira ou o Freixo, se era a Erundina ou Haddad. Se a gente deixar que as nossas energias que já estão se mostrando insuficientes para a conjuntura sejam todas sugadas pela disputa eleitoral, nós vamos acumular derrotas.
O senhor falou que a elite está na ofensiva da luta de classes. A gente teve uma grande crise do capitalismo em 2008, uma crise do setor financeiro, que acentuou os ataques das elites. Até então, pelo menos nos países centrais, existia um pacto e uma ideia, falsa, de que estava todo mundo ganhando, que levava a um certo consenso liberal-democrata em que, por exemplo, tanto fazia se trabalhistas ou conservadores estivessem no poder na Inglaterra, o Partido Socialista ou o Partido Popular estivesse no poder na Espanha. Os nomes conservadores são muito mais conservadores depois de 2008, mas já estamos chegando no limite do que é possível de retirada de direitos, de privatizações. Como o senhor vê esse cenário de avanço do neoliberalismo e de avanço do conservadorismo? Porque também parece que está virando a chave. Era impensável um socialista declarado como Bernie Sanders ter chances de chegar à presidência americana em 2005. A gente pode estar chegando num limite desse neoliberalismo? A maré pode virar ou só vai se acentuar?
Acho que tem um limite. Do chão, não dá para passar. Quando não tiver mais nenhum direito, não dá mais para retirar direito. Você apontou uma coisa que é central. Dois mil e oito marca uma nova grande crise do capitalismo. Uma crise que até hoje não foi superada. A gente continua vivendo na esteira da crise de 2008, que foi a última etapa de sucessivas crises que vêm desde lá em 1973, no choque do petróleo, a destruição do sistema de Bretton Woods [que acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro]. A partir dali, o capitalismo vive uma dificuldade cada vez mais crescente de reprodução e vivendo de bolha em bolha. Você constrói uma bolha para enganar a crise anterior, quando essa bolha estoura, você tem uma crise de proporções maiores.
O que 2008 parece que marca é o esgotamento dessa estratégia de criação de bolhas. Isso tem levado a uma retração do pacto que permitia a democracia-liberal nos países do norte. Acho que a literatura internacional tem demonstrado isso com clareza, porque o arranjo democrático nos países do norte passava por uma pacificação social que vinha do estado intermediando concessões aos grupos dominados. Então, a democracia tem a sua vitalidade vinculada à vitalidade da classe trabalhadora para exigir essas concessões.
O próprio processo eleitoral serve como termômetro para medir o quanto que é necessário você conceder para garantir um apaziguamento do conflito distributivo na sociedade. Isso entra em refluxo, primeiro por causa do fim da União Soviética, que faz com que pareça que não exista alternativa ao capitalismo. Mesmo o sistema soviético sendo aquilo que era, funcionava como a expressão da possibilidade de uma lógica social diferente. Isso tem a ver com o avanço da própria ideologia neoliberal, que faz com que as classes proprietárias se sintam no direito a mais, que é uma filosofia absolutamente meritocrática, que vê a competição no mercado como indicador do mérito e o mérito sendo aquilo que permite a recompensa.
Mas, sobretudo, isso entra em crise por conta da própria crise do capitalismo que reduz aquela gordura que tinha e que permitia essas concessões. O que a gente tem nos países centrais é um processo pelo qual a democracia funciona cada vez menos. Porque as decisões centrais da economia não passam mais por nenhum tipo de julgamento popular. Então, você tem um estado que funciona com políticas de austeridade, que é retirar dinheiro dos pobres para dar para os ricos.
Tem um cientista político alemão que eu sempre cito, o Wolfgang Streeck, que diz que, hoje, os estados respondem primeiro aos credores das suas dívidas e depois aos cidadãos. Os credores têm prioridade, então o estado tem que arrecadar para pagar os credores, que é o sistema financeiro. Isso significa que você retira do pensionista para pagar o sistema financeiro.
Sobre o tema
A quem servirá o pacote de Paulo Guedes para reativar a economia brasileira?
Como, numa democracia, você vai pensar que as pessoas vão sistematicamente aprovar medidas que as desfavorecem tão abertamente? Então, a democracia vai se desinflando. As principais decisões vão sendo retiradas, não passam mais pelo escrutínio popular. Quando, por acaso, a população é chamada a se manifestar, a sua decisão não tem relevância. Isso ficou muito claro naquele plebiscito na Grécia, de 2015, que as pessoas disseram não à política de austeridade e ela foi implementada no outro dia. Ou fica claro quando você tem um golpe de novo tipo, como a gente teve no Brasil e em outros países da América Latina. A população escolhe um governante e, no outro dia, ele é retirado porque, por algum interesse, esse governante não valia. Então, a gente está tendo o refluxo disso.
O que eu acredito que a gente não vai ter como retornar, e isso independe o resultado da eleição, se ganha o Corbyn, [candidato trabalhista no Reino Unido], se ganha o Sanders, aquele modelo de democracia-liberal dos países centrais e do pós-guerras. Era um modelo de acomodação entre democracia e capitalismo. A democracia sempre tensionada, mas permitia essa pacificação. Não vai porque o que está na base da crise desse modelo, que é a dificuldade de reprodução do capitalismo, não está sendo superada. Supondo que nós vamos ter vitórias eleitorais à esquerda, e vamos ter uma experiência agora na Argentina quando o Fernández assumir num país muito diferente daquele que a Cristina deixou, vai existir uma enorme resistência a qualquer recomposição daquilo que foi perdido nesses anos de destruição neoliberal. Para vencer essa resistência, a gente vai precisar de democracias com uma nova correlação de forças que deem às camadas populares mais peso. Senão, vai ser bloqueado, a gente vai ter talvez governos nominalmente à esquerda, mas que vão ter pouco espaço além de algumas políticas compensatórias.
Foi o que aconteceu na Grécia.
Exatamente, com o partido da esquerda radical.
Talvez a esquerda mais radical a chegar ao poder no ocidente e a que mais rápido se acomodou.
Exatamente. E se acomodou com uma política de ajuste terrível, a devastação social pela austeridade na Grécia é algo terrível, negociando a possibilidade de alguma politicazinha para socorrer os mais desesperados. Esse modelo da democracia liberal do pós-guerras teve a sua qualidade vencida.
Professor, só para fechar. Talvez o ambiente mais midiático em que está sendo travada, hoje, essa disputa pelo conservadorismo, do ponto de vista moral, embora também seja muito importante a questão econômica, é nesse ataque às universidades públicas. O senhor é uma figura pública de uma universidade que está no centro do embate por estar em Brasília. Como está o ambiente na UNB? Como está sendo travada essa disputa e essa pressão conservadora sobre a universidade? Existem professores que estão preferindo silenciar em vez de se posicionar? E como está sendo para o senhor, que tem se posicionado e travado esse embate publicamente?
É um problema inédito o que a gente tem vivido na universidade brasileira. A gente já teve governos autoritários que queriam cercear algumas linhas da investigação científica, a gente já teve muitos governos privatistas, a gente já teve muitos governos que não davam à educação a prioridade que ela merece, agora é a primeira vez que a gente tem um governo que é contra o conhecimento da maneira como é esse governo Bolsonaro. E não é só contra o conhecimento das ciências humanas, é contra o conhecimento em geral. É uma ofensiva obscurantista e que colocou no Ministério da Educação um sujeito que não tem as menores condições intelectuais, morais ou emocionais para ocupar aquele cargo e que se dedica à intimidação e à calunia contra a universidade. Então, é algo que está sendo tensionado porque o governo trabalha para tensionar o trabalho das universidades. A gente está tendo corte de verbas seríssimos, os mais sérios da história, e olha que a gente já teve cortes graves. Mais do que isso, a gente está tendo perseguição ideológica de uma maneira que nem na ditadura militar tinha. A ideia de que o alinhamento ao projeto do governo é o critério para a permanência ou para a progressão na universidade. Então, todos nós na universidade estamos nos sentindo alvos disso. Em algumas universidades, nós já temos intervenções do governo federal, violando os processos democráticos de escolha dos dirigentes. Essas universidades são particularmente tensionadas porque esses interventores reproduzem, no nível micro, aquilo que está acontecendo no Ministério da Educação. Então, se eu sou um professor entre milhares, portanto não tenho porque despertar a atenção do ministro, na minha universidade eu já pertenço a um grupo menor e vou ser visado individualmente por aqueles que estão ocupando o cargo com objetivo de destruir o trabalho que está sendo feito. A gente está tentando manter o trabalho nas universidades, mas existe essa tensão, porque ela é produzida deliberadamente.
Eu acredito que, apesar disso tudo, nós professores das universidades ainda somos uma categoria com algum grau de proteção. Quando nós somos perseguidos, a perseguição contra nós tem visibilidade, a gente consegue organizar redes de solidariedade, a gente consegue reagir e a gente tem conseguido algumas vezes, inclusive, o recuo do governo. Mas, exatamente porque nós temos essa relativa proteção ainda, é que nós não podemos nos calar e não podemos nos intimidar. O incentivo é esse: ‘parem de se posicionar, parem de falar, que a gente vai deixar vocês em paz’. É o que a gente não pode fazer, a gente tem, inclusive, o dever moral de aproveitar que ainda tem alguma estabilidade e alguma proteção para erguer nossas vozes, inclusive em solidariedade a outros. Porque o que está acontecendo de perseguição na universidade, está se reproduzindo em todo o sistema de ensino. Os professores do ensino fundamental e do ensino médio, professores das áreas de Sociologia, de Filosofia, de História, estão sendo calados, demitidos, perseguidos, processados. E, como esses professores têm menos visibilidade, muitas vezes a reação a isso é muito menor. Eu tenho inúmeros depoimentos de conhecidos, de amigos, que são professores de ensino médio das áreas de Sociologia e História, que se sentem obrigados a mudar os seus planos para evitar assuntos. Você dá uma aula de Sociologia e não pode falar de Marx, porque, se fala, vai ter um pai que vai te acusar na direção. E o que o diretor da escola faz? Ele não é necessariamente um bolsonarista, mas não quer ser perturbado por dezenas de pais militantes da extrema-direita, então pede para o professor ‘maneirar’. A gente vai, de fato, silenciando. As questões de gênero, que são fundamentais num País com uma violência de gênero tão forte, estão sendo silenciadas porque um professor falar disso em sala de aula é a garantia de que ele será perseguido. Isso sem falar em outras populações, das lideranças camponesas, das lideranças indígenas, da comunidade LGBT, sofrendo violência física aberta pelo País afora. Então, eu acho que nós, nas universidades, estamos enfrentando, sim, desafios grandes, mas ainda temos capacidade de expressão e capacidade de resistência. Nós temos um papel a cumprir nesse momento de fazer esse debate, de fazer essa denúncia, não só do que acontece com a gente, mas também do que acontece com outros grupos.