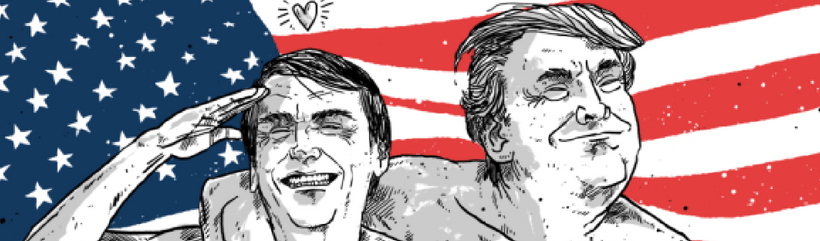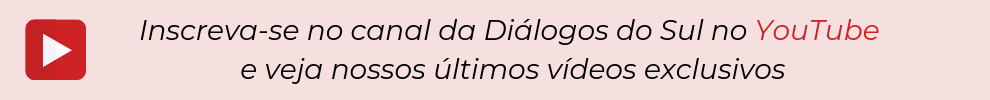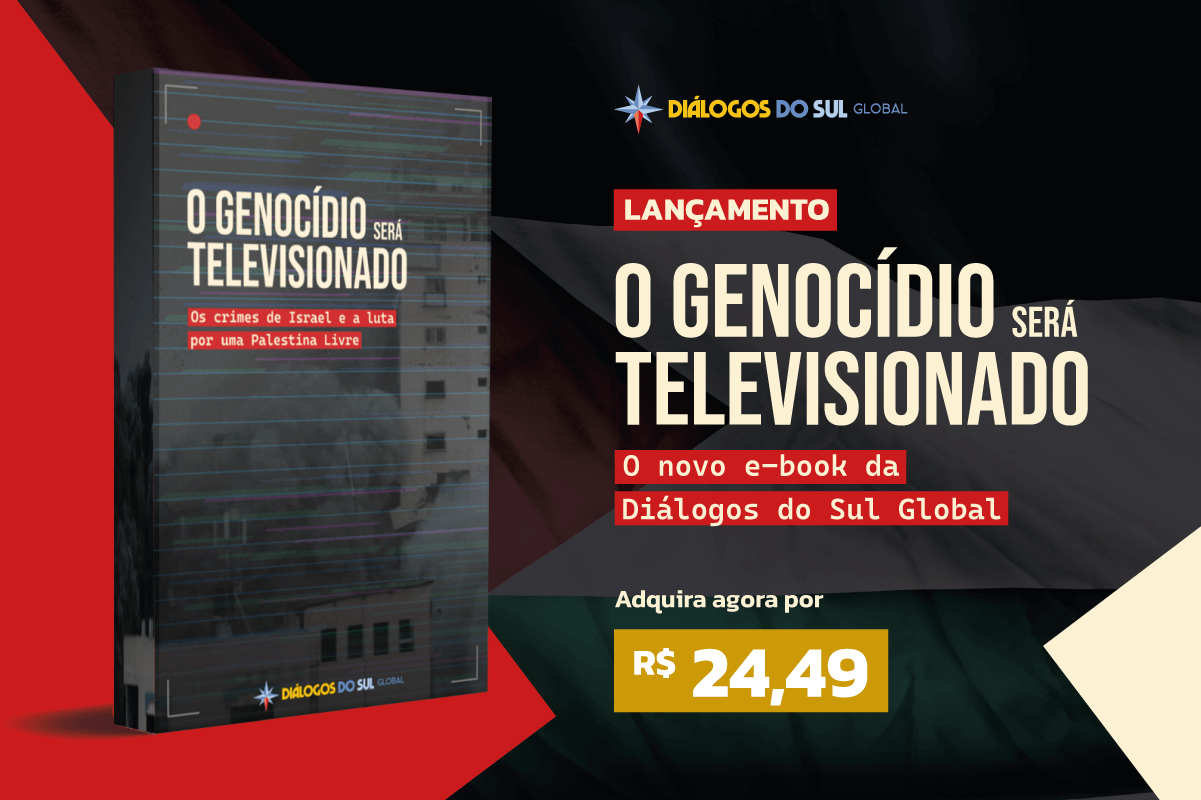A Antropologia nos disciplina de forma boa e má a relativizar. Olhar para o mundo atual e ver como as coisas vêm sendo ordenadas e buscar uma compreensão mínima sobre os dados é tarefa para bons antropólogos, e para quem tem estômago. É preciso ter estômago e até mesmo “sangue de barata” como se diz no jargão popular. Ter frieza diante do mundo é o que se espera de alguém que tem “sangue de barata”. Mas, e quando o mundo nos afeta diretamente? E quando a violência do discurso, das narrativas e da ação atinge nossos corpos? Nossas vidas privadas e públicas?
O fato é que não tem sido fácil explicar este mundo, mas também, como diria Geertz “Se quiséssemos verdades caseiras deveríamos ter ficado em casa”, mas se torna urgente entender por quê uma parte da nossa população após os VazaJatos apresentados pelo The Intercept Brasil continuam com suas verdades caseiras e desta forma legitimam a xenofobia dos discursos de governantes.
Xenofobia é uma palavra de origem grega e se forma a partir das palavras “xénos” (estrangeiro) e “phóbos” (medo). A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito ou como uma doença, um transtorno psiquiátrico. Todo aquele que não é da nossa região vira estrangeiro, diferente, exótico.
Leio por aí que o refúgio – os refugiados – é a crise do século XXI, será mesmo? Se fizermos um retrospecto veremos que em outras fases da nossa história mundial as migrações forçadas sempre existiram. O que não existia era um aparato de comunicação full time que revelasse a realidade de outros povos e que deixasse tão explícita a xenofobia.
Antropólogos viajavam dias e noites até chegarem aos povos distantes – as “ditas populações primitivas” – os empreendimentos de Malinowski e Evans-Pritchard para destacar apenas dois grandes antropólogos do século XX, promoveram verdadeiras incursões etnográficas regadas a requintes de detalhamento dos povos com quem dialogavam, ou para ser geertziana: sempre constituindo análises de segunda, terceira mão e por cima dos ombros dos nativos. Assim nasciam o caderno de campo, as formas de registrar o vivido e compreender o universo a nossa volta.
Na atualidade, nós, docentes, orientamos nossos alunos presencial e virtualmente, via Whatsapp e utilizamos todas as tecnologias possíveis, da mesma forma que o trabalho de campo também é de acesso mais fácil do que nos primórdios da nossa disciplina. Nossos cadernos de campo também ganharam outros formatos, mas nossas questões e estranhamento diante do mundo não cessam, pois o que para nós era familiar – a política brasileira ou norte-americana – passou a ser algo tão exótico e distante, que é preciso nos depreender do que era inteligível inicialmente para mergulharmos em outra realidade que atravessa a “realidade”: os fakes news e sua forma de dar uma “realidade” opaca ao universo do vivido.
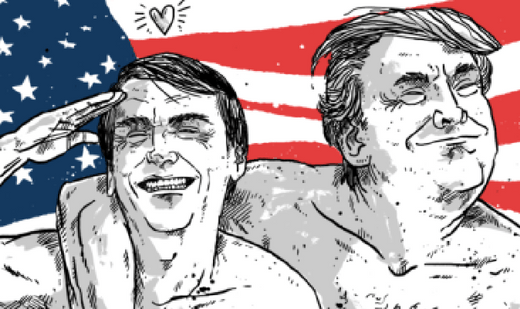
Ilustração Vitor Teixeira
Podemos considerar que Jair Bolsonaro fez escola com o presidente americano
As diversas formas de violência e suas simbologias desceram ao nosso cotidiano para usar uma categoria de Veena Das. Há muitos colegas perplexos e adoecendo em cada nova ação que atinja os direitos dos cidadãos – das minorias. Proliferam discursos preconceituosos, estratégias governamentais contra a universidade pública e gratuita, um movimento crescente de censura. Nos deparamos com determinados silenciamentos compulsórios: o INPE não pode divulgar dados de desmatamento, o IBGE não pode divulgar dados de desemprego, a FIOCRUZ não pode divulgar estudos sobre drogas e para completar o presidente resolve excluir, por meio de decreto, as vagas destinadas a especialistas e integrantes da sociedade civil — incluindo médico, psicólogo e jurista — do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad). Políticas de inclusão sendo abandonadas em nome de uma desPTização do governo.
Se o show de horrores não tem fim, há aqueles que acreditam e apoiam esses discursos. E como criar empatia com o grotesco, o horrendo, a barbárie? Há algo nesta ordem mundial que não foi aprendida pelos povos de modo geral – que é preciso considerar o direito à diferença. A intolerância é o terreno que extrapola os mecanismos de considerar que o outro também é ser humano e praticante de suas crenças (aqui entendo crenças de forma ampla – terraplanagem, por exemplo, é uma crença forte nos dias de hoje). Penso que o ser humano pode acreditar no que quiser, desde que, aquilo que ele acredita não interfira na vida de outras pessoas. É isso que esses governos estão fazendo – estão violando o direito das pessoas serem quem são e se valem de narrativas falsas para implementar a política da abjeção contra as minorias. E assistimos atônitos, que todo aquele que se opõe ao discurso “dominante/governante” vira esquerda comunista (dentro deste espectro – esquerda comunista – o sentido é amplo, até mesmo jornalistas como Reinaldo Azevedo, Rachel Sherazade são considerados esquerdopatas).
As notícias falsas ou fake news se destacaram no período pré-eleitoral, como por exemplo, uma cartilha gay que nunca vi, li, consultei, e uma mamadeira de piroca, que parece mais ter saído de filmes pornográficos do que das rodas de conversas de “senhoras de bem” do interior de São Paulo, essas e outras informações bizarras, como alunos pelados na universidade, eram compartilhadas via Whatsapp nos grupos de família. A moralidade tomou conta das eleições. Exterminar a “ideologia de gênero” e neste caldeirão se perguntarmos às pessoas o que é sexo, sexualidade e gênero, é capaz de dizerem que se trata da mesma coisa. O mesmo “cidadão de bem” que honra a sua família, quer ver preso o menino negro da comunidade, uma verdadeira distopia promove este sentimento.
O presidente Donald Trump não é diferente em suas declarações, podemos considerar que Jair Bolsonaro fez escola com o presidente americano, seu desejo de se tornar fotocópia fiel a tudo que diz e faz o presidente dos EUA tem dado resultado. Trump em um dos seus discursos de campanha disse: “Vamos construir um muro para evitar a entrada de imigrantes ilegais e drogas”, deixa claro o ataque aos imigrantes. Em 2015 quando lançou sua campanha também usa Deus como escudo: “Eu serei o melhor presidente que Deus criou”.
Nas últimas semanas os presidentes eleitos, democraticamente, Donald Trump e Jair Bolsonaro ampliaram seus respectivos discursos xenófobos. Primeiro o ataque de Trump às deputadas democratas eleitas: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna S. Pressley e Rashida Tlaib. Ele escreve no Twitter que as respectivas deputadas vieram de lugares “quebrados e infestados pelo crime”. As quatro deputadas citadas são de uma minoria de esquerda e de uma minoria étnica-religiosa: muçulmanas, mas também há uma mulher latina e uma mulher negra. Seria uma forma de atrair conservadores para uma reeleição que ainda está longe? Não se sabe, mas a xenofobia é explícita.
De forma análoga, o presidente Bolsonaro em café com jornalistas estrangeiros fez ataques ao governador do Maranhão, Flávio Dino, dizendo: “governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão</a>; tem que ter nada com esse cara”. O presidente brasileiro ataca a região nordeste – os nordestinos – que ele optou por chamar de “paraíbas” termo muito usado no Rio de Janeiro para se referir aos nordestinos migrantes principalmente na década de 70, assim como, em São Paulo são conhecidos os “baianos”. Importante lembrar-se de um documentário: Tem que ser baiano? (1993) de Henri Gervaiseau, no qual o diretor juntou entrevistas e imagens da comunidade nordestina em São Paulo com depoimentos de migrantes nordestinos anônimos e conhecidos como Lula e Luiza Erundina, além de políticos conservadores. Na época se discutia um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo que previa o retorno dos nordestinos às suas respectivas cidades. O que faz um presidente, 26 anos após o lançamento deste documentário, protagonizar a mesma fala que aparece nos vídeos? A resposta é simples, esses “paraíbas” não votaram nele, e por não votarem, viram inimigos. É inimigo para este governo todo aquele que pensa diferente.
Na atualidade o dissenso foi retirado do vocabulário. Se não pensa como nós, logo é nosso inimigo. A política que esses “líderes” representam é exatamente isso. As narrativas desses presidentes estão em conformidade com a exclusão e não com a inclusão, não há mediação, não há diálogo entre as classes sociais ou grupos étnicos. As políticas são de extermínio da vida humana (indígenas, mulheres, homossexuais, negros, pobres). E se isso chama atenção de uma classe social engajada, ou minimamente politizada, para outra parcela isso ainda é pouco, desejam maior radicalização de uma direita. Como bem deixa entrever na entrevista ao Poder Econômico, a antropóloga, Isabela Oliveira Kalil, bolsonaristas cobram uma guinada mais à direita e cobram isso do presidente que ajudaram a eleger. Se há bolsonaristas arrependidos, não se enganem, há aqueles que aprovam e querem mais radicalização nas ações do seu governante.
É fato que a política virou um cabo de guerra que se denominou chamar de “esquerda e direita”, “conservadores e progressistas”, particularmente não acredito nisso, não vejo as cartas postas desta maneira, a não ser no senso comum – penso ser mais ampla esta dicotomia, há nuances de esquerda, assim como de conservadores. Nem todo conservador quer ter uma arma, quer o fim da universidade pública, assim como, nem toda esquerda tem como bandeira Lula Livre, entretanto, neste momento, será preciso recorrer a outras formas de diálogo com os cidadãos que ainda se alimentam de mensagens nos grupos de família. Como podemos explicar que no Brasil, onde cresce o desemprego, deixamos passar uma Reforma da Previdência que prejudica ainda mais aqueles que têm menos? Um povo que sai à rua para “lutar” por 0,20 centavos na passagem de ônibus, não se mobilizou suficientemente para se contrapor a uma reforma perversa.
Necessitamos de uma ação coletiva da sociedade civil e com todas as suas bandeiras partidárias, de movimentos sociais, entidades, sindicatos a fim de que possamos colocar este país de pé novamente. É preciso voltar a ter orgulho de ser brasileiro, apesar de um presidente que nos chama de “paraíba” de forma pejorativa, mas, para nós nordestinos é motivo de orgulho, porque fazemos parte da população que não aprovou a xenofobia explícita desde a época da eleição. Além de maranhense, sou antropóloga, muçulmana muhajjabat, pesquisadora de comunidades muçulmanas, e portanto, de uma minoria étnico-religiosa, que tem a consciência de que verdades caseiras precisam ser diluídas para que aconteça um amplo debate sobre como enfrentar questões que nos afetam.
O exercício da alteridade precisa extrapolar os muros das universidades, das nossas casas e ganhar as ruas. Só um diálogo amplo e com diversas camadas da sociedade deve conseguir mudar este status quo e nos reagregar novamente como um grupo que se orgulha das políticas públicas e sociais deste país. Não se trata de “lugar de fala” que não se comunica, mas sim, de cultivar lugares de escuta. É preciso escutar o motorista de aplicativo, que reclama desiludido o seu voto, da dona de casa, que percebeu que as mensagens no “zap” eram mentira. É preciso explicar com todas as letras a essas pessoas o que é comunismo, e que tivemos um governo bem social democrata que tinha políticas públicas voltadas para as minorias.
A conversa deve ser ao pé do ouvido, seja em aulas públicas, em espaços públicos, nas padarias, nas feiras, nos transportes coletivos. É neste mundo das “minúsculas” que precisamos ouvir e dialogar. A conversa tem que ser com os “invisíveis”, aqueles que com título de eleitor nas mãos validam o voto do patrão. Se não conseguirmos sair das universidades, dos consultórios, dos nossos empreendimentos para ouvir e dialogar estaremos fadados às verdades caseiras.
Veja também