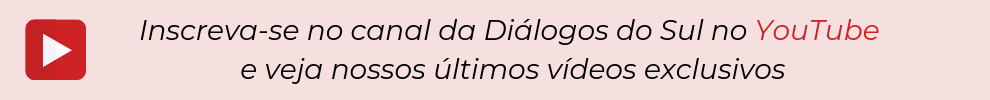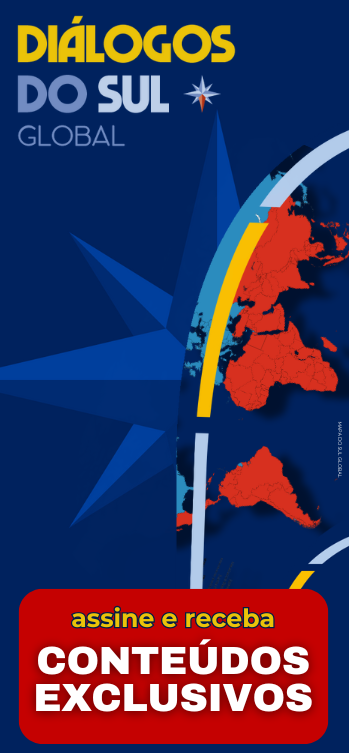Conteúdo da página
ToggleO projeto anticrime do governo federal, que visa enfrentar a corrupção, o crime organizado e crimes violentos, “é demagógico e principalmente irresponsável, pois vai na direção de uma panaceia: insiste nos mesmos problemas de sempre, que são a punição a todo custo, o aumento de penas, a aceleração de processos e, sobretudo, a flexibilização de garantias. É exatamente o que vem se fazendo há muito tempo e isso não funciona”, diz Augusto Jobim, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais e em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica – PUCRS. Entre os pontos críticos do projeto, Jobim menciona as tentativas de “burlar” decisões do Supremo Tribunal Federal – STF com relação à Lei dos Crimes Hediondos, de consolidar a prisão em segunda instância, e a possibilidade de gravar as conversas entre advogados e clientes em presídios.
Na entrevista a seguir, concedida pessoalmente à IHU On-Line, Jobim argumenta que o combate ao atual quadro de violência e aos altos índices de encarceramento no país depende da descriminalização e regulamentação das drogas. “Obviamente, não há solução mágica. Entretanto, existem iniciativas cabíveis, como pensar uma nova política de drogas, e uma política séria de restrição de venda de armas no país, preocupações que poderiam reduzir drasticamente o impacto carcerário e os gritantes índices de violência letal”. Ele defende também que as polícias trabalhem de forma integrada e invistam em inteligência. “Se a vontade do ministro [Moro] é capacitar para persecução, isso não pode significar uma autorização para matar; é preciso desenvolver um trabalho de formação de um modelo novo de polícias, já tentado outras vezes e soterrado pelo presidencialismo de coalizão de outrora”, frisa.
Augusto Jobim também avalia a atuação da Lava Jato no país e condena as delações premiadas, a prisão em segunda instância e a politização da justiça que, segundo ele, é um fenômeno “ainda mais prejudicial porque se utiliza do poder Judiciário como meio para atingir fins políticos”. A marca desse fenômeno no país, assegura, “tem sido a utilização da definição do conceito de ‘corrupção’ de modo arbitrário, aplicado ao bel-prazer, difusamente, já que de fácil aderência e adesão social. Perfeita bandeira conveniente para quem não pretende mudar nada. Naturalizamos violências radicais em favor de uma senha de ocasião”.
Augusto Jobim do Amaral é doutor em Altos Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, Portugal, e doutor, mestre e especialista em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, onde leciona atualmente nos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e em Ciências Criminais. Também realizou pós-doutorado em Filosofia Política pela Università degli Studi di Padova.

Foto: Juliana Borgmann – IHU
Augusto Jobim
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Qual sua avaliação do pacote anticrime do governo federal, que tem como foco o combate a três crimes: crime contra corrupção, crime organizado e crimes violentos?
Augusto Jobim – Em primeiro lugar, é importante frisar que o pacote anticrime não se desloca da tendência que o governo Bolsonaro vem tentando implementar em todas as áreas. Em termos penais, esse reflexo se dá através de um “ultrapunitivismo”. É óbvio que ninguém é a favor do crime, mas esse é um discurso fácil, que acaba capturando um sentimento popular por causa da extrema vulnerabilidade que afeta grande parte da nossa população há algum tempo.
Um dos primeiros artigos do projeto visa aumentar as hipóteses de exclusão de crime, ou seja, uma espécie esdrúxula de “legítima defesa presumida”. A legítima defesa é uma permissão legal dada em alguns casos estritos e, até hoje, ao que se tem notícia, nenhum sistema jurídico do mundo teve a pretensão de fazer um instituto como este, presumido em determinados casos, como seria o caso do projeto dirigido às forças de segurança pública. Em termos brasileiros, essa possibilidade representa um absurdo e a consagração da naturalização do genocídio, tendo em vista o número recorde de mortes cometidas por policiais em serviço no país: são 174 assassinatos por dia e 14 deles são cometidos por policiais. Ou seja, trata-se da polícia que mais mata no mundo, como também a que mais morre. Trágico para ambos os lados, o que bem representa o fato de que criminalizados, vitimizados e policizados são selecionados nos mesmos setores sociais. Então, antes de ser um pacote anticrime, esse é um pacote pró-guerra.
No Brasil, não podemos deixar de lembrar que essas mortes, na maioria, são de jovens, negros e de periferias. Os dados do último Mapa da Violência representavam que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Portanto, dar respaldo que legitime de alguma forma esta realidade, avalizando isso a um plano legislativo, é literalmente institucionalizar as práticas de extermínio. Se a história do Brasil é marcada pelo genocídio de grande parte da população negra, isso ganha ares de programa oficial e acaba convertendo o Estado numa máquina de guerra.
Projeto de apelo populista
Quando Moro concedeu uma entrevista tentando “vender” o pacote anticrime, ele repetiu novamente que esse é um projeto de “apelo popular para medidas menos palatáveis ao público, como a reforma da Previdência”. Então, o pacote anticrime vai complementar outro, que é o pacote da reforma da Previdência. É, sobretudo, uma situação que integra uma guerra econômica e uma guerra policial. É importantíssimo perceber essa conexão.
Por outro lado, por mais retrógrados que fossem os outros governos na história do Brasil, principalmente mantendo uma linha em termos de segurança pública sempre ligada à militarização das polícias e expansão das estratégias de urbanismo militar, nenhum deles teve a coragem — para não dizer falta de vergonha — de dizer de maneira cínica que o projeto anticrime não foi feito para dialogar com professores e com a comunidade acadêmica. E detalhe: ao menos que eu conheça, esse é o primeiro projeto que não apresenta uma justificativa, uma exposição de motivos que lhe dê o mínimo embasamento técnico ou teórico. Além disso, o projeto incide sobre cinco plataformas legislativas de maneira conjunta: altera o Código Penal, o Código de Processo, o Código Eleitoral, a Lei de Execuções Penais e a Lei dos Crimes Hediondos, sendo que há um projeto de Código Penal em tramitação desde quando Sarney era presidente do Senado.
Se fosse um plano que, de fato, visasse a reduzir a criminalidade, se poderia perguntar: Qual é a estratégia de inteligência policial que está envolvida nesse plano, tendo em vista, por exemplo, o número pífio de esclarecimento de homicídios no Brasil ao redor de 6%? Países declaradamente em guerra possuem números melhores.
Uma das iniciativas do projeto anticrime pretende claramente burlar decisões do Supremo Tribunal Federal – STF. Um exemplo é com relação à Lei dos Crimes Hediondos. Desde a edição da Lei, em 1990, tem-se lutado muito para que tenha havido a declaração de inconstitucionalidade do regime integral fechado em 2006 pelo STF, que viola uma série de preceitos constitucionais, como a dignidade do cumprimento individualizado das penas, com a manutenção do sujeito preso como premissa legal sem considerar qualquer regime de progressão de pena amparado pela Constituição Federal – CF. Portanto, não se pode pautar de antemão que o sujeito cumpra antecipadamente um regime de pena integralmente fechado. Em suma, burla legislativa com a repristinação de uma inconstitucionalidade.
Já quanto à tentativa de consolidar a prisão em segunda instância, agora através de uma estratégia simplista de alteração legislativa infraconstitucional, já que tenta alterar diretamente o artigo 5º LVII da CF, além do quorum qualificado necessário no Parlamento, seria escancarar ainda mais o óbvio erro na alteração do posicionamento do STF quando levantada a questão no julgamento do ex-presidente Lula. Lembremos que, ainda assim, a decisão foi apertada, por um voto, ou seja, o Supremo está dividido. Até recentemente estava pautada novamente para ir a julgamento, o que tristemente não ocorrerá, ainda que se deva especular o porquê, por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Na medida em que o Supremo adotou uma posição de compreender a prisão em segunda instância como constitucional, deveria igualmente por técnica processual mínima ter analisado o artigo 283 do Código de Processo Penal, que vai reafirmar a CF, e tê-lo declarado também inconstitucional, mas isso não foi feito. De todo modo, claramente o projeto visa a fazer uma pressão enorme na cúpula do Judiciário — e Moro afirmou isso alguns dias atrás — para que a interpretação constitucional seja alterada pela lei. Tendo em vista a decisão do presidente da Corte em retirar o assunto de maior importância hoje, em termos constitucionais no país, parece que o interesse do ministro da Justiça surtiu efeito. Trata-se de mais uma prática pouco democrática para pressionar e contornar o posicionamento do STF.
Justiça negocial
Outro aspecto bastante problemático é a possibilidade — e isso remonta aos piores regimes da história política mundial em todos os países — de gravação das conversas entre os advogados e seus clientes em presídios. Claro que isso é sugerido com o pretexto populista de enfrentar o crime organizado, mas criminaliza uma função nobríssima, que é a de defensor. O projeto também generaliza — e isso é estarrecedor em sentido técnico, prático e, sobretudo, ético — com as práticas de justiça negocial. O Brasil, de alguma maneira, há que se dizer, vem adotando faz algum tempo tais práticas, ainda que de maneira restrita, principalmente em delitos menores, mas não da direção da assunção antecipada de uma pena privativa de liberdade, sem processo, e em larga escala.
A justiça negocial é uma plataforma que hoje, até mesmo nos EUA, grande propulsor dessas práticas e modelo ovacionado pelo ministro da Justiça, está recuando de modo drástico, porque se viu o resultado de tal modelo: além da natural supressão do direito básico de qualquer um de ter um julgamento, a subversão do próprio sentido do processo penal, como modo de se resguardar do arbítrio do poder de punir estatal, contribuiu drasticamente para o incremento maciço do hiperencarceramento. Imaginamos o que isso pode acarretar em termos nacionais? Os (ir)responsáveis já se puseram a pensar no impacto carcerário que isso provocaria?
Nos EUA, em termos de justiça federal, estudos mais atuais apontam que mais de 99% dos casos são resolvidos via justiça negocial, ou seja, não há um julgamento. Trata-se das práticas de plea bargaining [delação premiada], que é uma barganha alargada. A aplicação disso no Brasil significa que as sentenças poderão ser dadas com a assunção de culpa a partir de uma relação desigual entre acusado e o poder de acusar estatal. Cada vez mais penas, com o menor tempo, eis a ode ao eficientismo punitivista.
Obviamente essa prática vai incorrer naquelas dimensões que os criminólogos e processualistas nunca deixam de afirmar: que essas negociações remontam ao teor das antigas práticas de tortura, no sentido de que a diferença é apenas de grau e não de classe quando se ameaça quebrar os ossos de alguém ou se ameaça com o cumprimento de anos extras de prisão para se obter uma confissão/delação. Sabemos que não precisa jogar o sujeito num pau de arara; basta jogá-lo numa condição em que ou ele aceita uma determinada condição ou terá uma punição alargada. Ou seja, é pegar ou largar, intercâmbio perverso impulsionado pelo Estado, quid pro quo oferecido pelo mesmo órgão persecutório ou julgador que pretende combater a corrupção. Não esqueçamos da profunda relação desse tipo de iniciativa com a mais profunda lógica de mercado.
O projeto do ministro da Justiça é demagógico e principalmente irresponsável, pois vai na direção de uma panaceia: insiste nos mesmos problemas de sempre, que são a punição a todo custo, o aumento de penas, a aceleração de processos e, sobretudo, a flexibilização de garantias. É exatamente o que vem se fazendo há muito tempo e isso não funciona.
Em nada, absolutamente nada há de qualquer iniciativa, por mais tosca que seja, na direção de algum projeto de segurança pública. Sabe-se que, no Brasil, em grande escala, o problema dos modelos de segurança pública passa exatamente por serem puramente modelos reativos: de tragédia em tragédia vamos retrocedendo. Acontece um extermínio e no outro dia o secretário de segurança pública é exonerado porque “não fez nada”, e o novo secretário que assume dirá automaticamente que é preciso colocar mais polícia na rua, polícia nos campi universitários, como se isso fosse dar algum resultado a não ser propagar o pânico social. Isso é nefasto, pois aumenta o medo, que é o pior dos afetos possíveis. Nunca nos ajudou ter medo de alguma coisa e, nesse aspecto, só conseguimos reproduzir mais violência.
Outro ponto polêmico do pacote anticrime é a coleta de perfil genético daqueles que forem condenados por crimes dolosos. Como avalia o uso de bancos genéticos nesses casos?
Isso já é previsto na Lei de Execução Penal (art. 9º A) e profundamente contestado. Quando essa alteração foi feita em 2012, fui extremamente crítico a isso por uma razão muito simples: além do aspecto de violar a proibição constitucional de penas corporais, pois é disso que se trata (efeito automático de uma condenação com a extração compulsória de material genético), não temos nenhum tipo de mínima base segura para resguardar a cadeia de prova. Não precisamos ser profundos especialistas em segurança pública no Brasil para entender a precarização com que trabalha a maior parte das polícias pelo país, sem falar no risco de ignorar a promiscuidade das forças de segurança com o arbítrio. Se temos delegacias ainda hoje sem computador ou Institutos de Perícias sem as mínimas condições de realizar seu trabalho, querer implementar um meio de recolhimento de prova de perfil genético parece, no mínimo, patético. A não ser que estejamos tratando de interesses maiores de laboratórios e empresas internacionais em gerir este enorme negócio, claro, sob o pretexto de “livrar inocentes de injustas condenações”.
Com que garantia da lisura de cadeia de prova isso será feito? Como saber que o material que será recolhido aqui será bem recolhido, armazenado, examinado, levado para o processo de maneira integral e incólume? Não posso acreditar que se pense em recolher perfil genético antes de pensar como será feita essa cadeia de custódia da prova.
Gestão do material genético
Nos EUA há um negócio enorme em torno disso: naturalmente, serão empresas privadas a gerir o material, pois certamente não haverá o interesse do Estado nisso. Essa atividade será transferida para bancos de dados privados. Quem vai gerir isso? Quem controla esses dados? Com que autorização, regulamentação e prestação de contas? É preciso discutir quem vai administrar tudo isso e como será feito esse tipo de recolhimento de material. O sujeito condenado em primeiro grau poderá ter seu material genético coletado? Temos que preservar certa desconfiança, porque exercício de poder demanda que assim atuemos. Em termos concretos, essa medida é mais um balão de ensaio e manobra diversionista com o pretexto de tirar inocentes da cadeia. Assim, tendencialmente se recolherão os dados genéticos da população carcerária inteira; excelente pretexto para a ampliação da rede de controle penal.
A título de exemplo da utilização de dados pessoais pelo sistema de justiça (e nem estou falando de dados genéticos, que implicariam ainda mais complicações), já há algum tempo, nos EUA, existem aplicativos de celular que, através de dados recolhidos do sistema de justiça, possibilitam localizar, dentro de diversos espaços, sujeitos condenados pela justiça. Desde os anos 90, existem em feiras populares o “Outing” de ex-delinquentes sexuais, que podem apontar para a proximidade de algum deles no bairro onde se reside. Perceba-se que quando trabalhamos com dados, especialmente agora genéticos e sua manipulação, a preocupação é infinitamente maior e vai muito além da demagogia de dizer que vamos tirar inocentes da cadeia.
Então o pacote anticrime parte de uma constatação adequada, mas propõe soluções frágeis?
Sim, porque os índices de morte violenta no Brasil não são segredo para ninguém. Mas nenhuma das medidas adotadas terá qualquer impacto nisso se aprovadas. Ao contrário, irá aprofundar este drama. Quando se diz que vamos combater o número de mortes, é preciso saber: mortes de quem, quais pessoas foram mortas, como foram mortas, por que foram mortas? Não existe nenhum tipo de explicação para essas questões.
Se a preocupação é o crime organizado, antes de dar “personalidade jurídica” às facções poderia se preocupar em atentar por que elas surgem. Por que o sistema carcerário está falido há muito tempo e os agentes do Estado, para sobreviver, precisam — e isso é perverso — entrar num acordo com as facções, como acontece nos presídios Brasil afora? Nenhum tipo de facção surge ou se mantém sem a cumplicidade com representantes do Estado. As milícias ou os antigos esquadrões da morte são a prova constante da promiscuidade do poder estatal com as práticas criminosas. Estamos falando de expressões de um mesmo fenômeno.
Historicamente no Brasil sempre se propôs combater ou reduzir a violência com “polícia forte”, entenda-se violenta, com autorização para reprimir a todo custo a criminalidade. Isso é o pior engodo possível, porque na medida em que se autoriza uma polícia, que deveria ser a primeira a resguardar a segurança do cidadão, a ser violenta, autoriza-se automaticamente que se negocie não apenas com a liberdade ou a integridade física num primeiro momento, mas, no instante seguinte, com a própria vida. Isso cria, literalmente, um círculo vicioso, e o produto será um policial corrupto. Violência policial é que gera corrupção. Se o Estado autoriza o policial a fazer o que quiser porque o Estado “banca”, está dizendo implicitamente, ao menos, que ele tem liberdade para matar. E, se ele pode matar, vai tirar dividendos antes de fazê-lo. Isso gera as milícias, que são resultado de uma polícia violenta.
O senhor critica o pacote anticrime porque, na sua avaliação, ele irá intensificar a punição e aumentar a população carcerária. O que seria uma alternativa a esse tipo de punitivismo hoje?
O direito penal entendido como conjunto de agências de criminalização, em especial a lei, é sempre tardio, entra em atividade atrasado, isto é, chega depois que a lesão ocorreu. Então, não é por meio da criação de novos delitos ou do aumento de penas que vamos resolver os índices de violência. Se existem níveis dramáticos de violência relacionados à mortalidade no país, com o registro de mais de 60 mil homicídios por ano, isso também diz respeito à forma como tem se lidado com a comercialização de armas de fogo no Brasil.
Ao contrário do que se imagina, a grande gama de armas de fogo que transitam no Brasil, diferentemente do que se noticia inclusive, é de origem legal e chega ao país de modo regular, e só depois é desviada e vai parar no mercado ilícito. E não há qualquer grande indústria de armamentos em comunidades pobres pelo Brasil, apenas para sermos irônicos. Elas ali chegam de algum modo, e em grande medida desviadas do mercado autorizado no país.
Política criminal de drogas
De outro lado, não se desconhece que o alto índice de mortes violentas no Brasil tem enorme relação com o tráfico de drogas. Seria, portanto, algo fundamental a se pensar na revisão da política criminal de drogas no Brasil de forma radical. As práticas de descriminalização e, sobretudo, de regulamentação de drogas tornadas ilícitas deveriam ser pauta imediata se se quiser, de fato, encarar a redução dos índices de violência, para além dos falsos moralismos, e pensando ainda no impacto carcerário que produz. O crime de tráfico de drogas é um crime de comércio, que se torna violento porque o traficante precisa defender seu ponto de comércio. Portanto, tecnicamente, de modo prático, é um ilícito por vender algo que não é permitido, tornado violento por causa da proibição. Esse tipo de dinâmica de punição não funciona, porque a demanda vai continuar existindo e o impacto carcerário aumentará. A grande massa carcerária hoje é de pequenos traficantes que são pegos com quantidades pequenas de drogas. Isso se conecta diretamente à questão do armamento, que num contexto de proibicionismo os traficantes precisam recorrer para defender seu território, gerando a escalada de mortes que conhecemos.
Alternativas
Obviamente, não há solução mágica. Entretanto, existem iniciativas cabíveis, como pensar uma nova política de drogas, e uma política séria de restrição de venda de armas no país, preocupações que poderiam reduzir drasticamente o impacto carcerário e os gritantes índices de violência letal. Outra questão fundamental é a dignificação da atividade policial, que passaria, ao menos, não só pela desmilitarização das polícias, mas pela inteligência e integração. Se a vontade do ministro [Moro] é capacitar para persecução, isso não pode significar uma autorização para matar; é preciso desenvolver um trabalho de formação de um modelo novo de polícias, já tentado outras vezes e soterrado pelo presidencialismo de coalizão de outrora. Em geral, duas polícias por estado, uma militar e uma civil, que não se comunicam, não têm sequer a mesma base de dados, nem conseguem registrar os delitos de modo padrão, impossibilitam qualquer tipo de diagnóstico mínimo.
Estes três grandes blocos, uma política de controle de armas, uma reforma da política de drogas e a questão das forças de segurança pública que são exércitos funcionando como polícias, como temos tradicionalmente no país, são importantes pontos para construir uma alternativa ao punitivismo. Talvez o problema maior seja forjar uma relação de forças possível para que iniciativas como estas emirjam, tendo em vista a cristalização de um caldo autoritário com que temos de conviver diariamente.
Por que a descriminalização das drogas implicaria a redução dos problemas de violência no Brasil? Segundo informações da imprensa, no primeiro semestre de 2018 houve um aumento dos homicídios no Uruguai por conta de disputas envolvendo o tráfico de drogas: foram registrados 215 casos contra 131 no mesmo período de 2017.
A descriminalização das drogas não implica liberalização. E, por certo, isoladamente não é uma panaceia. Além disso, normalmente, feita de modo fracionado, tem menores impactos e mais facilmente se verificam efeitos rebotes, em que precisam ser verificadas as razões. Falar em descriminalização das drogas é falar em uma regularização rígida. Um belo exemplo é o comércio e venda de tabaco no Brasil. Se existe alguma coisa que se pode dizer satisfatória em modos de gerenciamento na direção da redução do consumo de drogas lícitas no Brasil, foram as políticas com relação ao tabaco. Se, anos atrás, grande parte dos jovens era fumante, hoje tais índices reduziram drasticamente, agregado a um contexto de rejeição social (ainda que em muitos casos exagerada) quase que geral. O representativo disso é que se mudou um modo de vida. Isso foi feito pela proibição? Evidentemente que não. As medidas de regulamentação foram muito mais eficazes: não é permitido vender cigarro para menores de idade, não se pode fazer propaganda em determinados locais e, mesmo na televisão, as embalagens de cigarro passaram a emitir outra mensagem — essas são apenas algumas iniciativas. Do proibicionismo, a experiência mais emblemática foi a “Lei seca” na década de 1920 nos EUA. Qual foi o resultado disso? A criação do crime organizado. O âmbito do proibido sempre vai gerar esse tipo de incremento da ilicitude e a própria correlação com a violência que gera.
A descriminalização é a solução total? Claro que não. As pessoas continuarão morrendo, em índices muito menores, como morrem por causa do consumo de álcool; mas o índice de mortes violentas por causa da proibição, da disputa territorial e pelo comércio de grupos entre si certamente contará com uma significativa redução.
Por que há uma resistência a aprovar a descriminalização e regulamentação das drogas?
Há vários fatores. Um de ordem prática elementar: se o moralismo nestes assuntos sempre deu as cartas em solo brasileiro, hoje em dia a banalização de um discurso de ódio e de mortificação do pensamento ultrapassou estes limites, o que torna, no mínimo, difícil o diálogo sobre pautas como essa. O que de fato precisamos é montar uma nova tentativa de forjar redes de resistência contra o anti-intelectualismo que nos assombra. Neste caso em específico, ninguém é “a favor de drogas” ou está fazendo apologia ao seu uso. Mas não devemos ignorar que pessoas estão morrendo diariamente diante do fracasso de uma política proibicionista reconhecida internacionalmente. Então, o que podemos fazer é pensar em modos de atenuar o problema.
Sob o ponto de vista da representação política, há evidentes resistências. Ou não existe uma bancada da bala que hoje conta com mais de 100 representantes no Congresso e possui o respaldo da indústria de armamentos? Pergunta óbvia: Qual é o interesse para além do recrudescimento do código penal, da redução da maioridade penal e das políticas de segurança pública como revogação do estatuto do desarmamento?
Qual é a possibilidade de a descriminalização das drogas criar um mercado paralelo de venda para atender os consumidores que não querem se identificar para ter acesso às drogas, ou para atender aqueles que querem obter uma droga que não está legalizada ou ainda aqueles que querem uma droga mais barata?
Mas esse cenário não implicaria os níveis de violência que existem hoje. Como disse, não há solução mágica. O que há são maneiras de enfrentar o problema e se perguntar se a proibição vem reduzindo o consumo, produção ou a morte em razão da criminalização das drogas. O exemplo de Portugal talvez possa ajudar a ilustrar. Desde 2000 Portugal faz uma política de regulamentação de drogas e os índices de encarceramento foram reduzidos, o nível de dependência e o nível de mortes também vão na mesma direção, como aponta o “Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência” com sede em Lisboa. Isso não implica dizer que as pessoas não vão continuar morrendo ou que outros mercados ilegais não serão criados, é claro que sim; contudo, com a letalidade nem de perto comparada a que temos hoje, principalmente em termos de população jovem, negra e de espaços vulnerabilizados.
Hoje há uma discussão no país entre aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários às prisões preventivas. Do modo como elas estão acontecendo, avalia que são arbitrárias?
Mesmo que eu possa discutir sua validade em termos político-criminais, pois estaríamos avalizando um instrumento de antecipação de pena através de um meio (o processo penal) que serviria exatamente para verificar se alguém será punido, as prisões preventivas têm previsão legal, todavia em tese de modo muito estrito, como prevê o Código de Processo Penal. Sua banalização é um dado estarrecedor em todo o país. Com dados recentes fornecidos pelos órgãos oficiais (o que tecnicamente sempre implicará alguma defasagem), 40% do contingente de presos no país são sujeitos sem condenação. Se ainda somarmos aqueles “condenados em execução provisória”, eufemismo para presos sem condenação definitiva, somam-se aí mais 25%. Ao total, assim, mais de 65% das pessoas presas contabilizadas no país não têm uma sentença condenatória final contra si. O que, por si, desmente os frágeis discursos de impunidade em que “infinitos recursos mantêm os bandidos em liberdade”. No Brasil, não se espera o processo terminar para prender, ao contrário, cada vez mais se antecipa a punição.
Há estados, como Alagoas, que beiram 80% de seu contingente carcerário nesta condição. A regra básica de que “não há pena sem processo” soa hoje como uma anomalia.
E se somarmos a isso a espetacularização de prisões de políticosque, no mínimo, carecem de algum rigor, o cenário fica ainda mais complicado. A prisão preventiva não pode ser regra nem um instrumento de espetacularização. Prender para investigar apenas demonstra uma tremenda incompetência para que uma adequada investigação leve a uma condenação.
Ultimamente, em termos de megaoperações como a “Lava Jato”, de longa trajetória de arbitrariedades, não raro chanceladas pelos Tribunais Superiores, seria cômico se não fosse trágico. Uma operação que está sendo feita há mais de cinco anos, em que se supõe que um magistrado tenha conhecimento de fatos suficientes para, segundo ele, conduzir à prisão de um investigado, ademais, um investigado que ocupava o maior cargo da República, não o fez antes por quê? Ou ainda, o sabendo, enquanto ele era presidente da República, não enviou as informações ao STF para que tomasse as providências necessárias?
Que outros meios permitiriam a descoberta e a publicização dos casos de corrupção entre o setor público e o privado, senão por meio das delações premiadas e do trabalho feito pela Lava Jato?
Qualquer tipo de cruzada contra a corrupção nunca se demonstrou senão, mais cedo ou mais tarde, parte dela. Vamos olhar isso de trás para frente: os membros da força-tarefa terão que explicar a fundação privada feita com o dinheiro brasileiro da Petrobras, metade dos mais de 853 milhões de dólares, devolvido pelo Departamento de Justiça dos EUA, e que foi suspensa pelo STF no mês passado.
Uma cruzada moral contra a corrupção — como se alguém fosse a favor da corrupção —, irremediavelmente, carrega a hipocrisia daqueles inafetados pelo mal que perseguem. É assim desde a Inquisição: os grandes inquisidores sempre acabaram sendo desmascarados na sua pudica função redentora.
Apenas para ficarmos em termos macroeconômicos, nem sempre percebidos, ela representa a quebra do sistema econômico brasileiro em relação ao que havia. Se houve uma promiscuidade do sistema político com, por exemplo, as empreiteiras, e sem dúvida houve, em nenhum momento da história mundial isso serviu de pretexto para exterminar o futuro das empresas envolvidas em corrupção. Imaginemos se isso tivesse sido feito, depois da Segunda Guerra Mundial, com as empresas alemãs e pelo próprio governo, o que isso não representaria. Mas a Lava Jato implementou sua estratégia por este caminho, desmantelando parte do setor do sistema econômico brasileiro. Sob o pretexto de acabar com a corrupção, a quantidade de dividendos que foram retomados pela Lava Jato, em termos gerais, é ínfima: cerca de um bilhão de reais, segundo os dados da força-tarefa. Sem falar o que se estipula de impacto a menos em empregos, entre 3 e 4 milhões de postos de trabalho desde 2014.
Sem que importe o fato de o Brasil pagar mais de 342 bilhões de reais somente em juros da dívida pública que apenas serve a uma elite rentista, o que gera a pressão permanente para o governo gerar superávits primários para sustentar o pagamento ao setor privado — não esqueçamos a ode à austeridade que conduz agora ao solapamento do serviço público de seguridade social conquistado a duras penas pela CF de 88. Ali, sim, o núcleo da corrupção, se assim quisermos assumir. Isso é a própria corrupção institucionalizada.
Por que o senhor faz essa comparação entre a isenção recebida pelo Itaú e a quantidade de dinheiro que retornou aos cofres públicos por conta da operação Lava Jato?
Simplesmente porque diz respeito ao mesmo sistema político e econômico. Sob o pretexto de combate à corrupção, não se vai à raiz do problema, desvia-se o foco da realidade e ainda, sobretudo, demoniza-se o setor público. O efeito disso estamos sofrendo hoje e ainda sofreremos na pele durante bom tempo pela criação de bodes expiatórios.
O que é nefasto, ademais para o sistema judicial brasileiro, foi a criação de uma esfera do poder Judiciário quase à parte. Na Itália, a Operação “Mãos Limpas”, grande inspiração da Lava Jato, teve seu herói preso, depois de descoberto em esquemas de corrupção. Nada anômalo. Estranho é não atentarmos para o efeito rebote, em que ainda vai demorar anos para recuperarmos as bases legais.
É normal um profissional da justiça investido na posição de julgador se assumir como paladino da justiça e ser vendido em capas de revista como um boxer diante do réu que irá julgar? E seguimos amortecidos pelo fato de o mesmo personagem que teve influência direta no pleito eleitoral retirar da disputa democrática o líder das pesquisas de opinião para o maior cargo da República e depois, tranquilamente, assumir um Ministério do adversário vencedor?
Como o senhor vê a judicialização da política? Muitos argumentam que essa prática já ocorre e é a única saída à ineficiência do legislativo. Outros são completamente contrários. Qual sua posição?
O fenômeno da judicialização da política é um fenômeno bastante debatido pelo menos desde o processo de transição democrática do Brasil. Na década de 80 e 90, demandas fizeram com que o Judiciário se tornasse proativo na consolidação de direitos já consolidados e não realizados. Hoje, o fenômeno é outro, trata-se da politização da justiça, que é o inverso e ainda mais prejudicial, porque se utiliza do poder Judiciário como meio para atingir fins políticos. Esse é o grande problema. Podemos discutir com qualquer jurista qual a dimensão do ativismo judicial em termos de judicialização da política, que para mim sempre teve a pretensão, mesmo que equivocada em alguns casos, de enfrentar a desigualdade. Mas o problema atual é mais profundo. Desloca-se o atual contexto de politização da justiça no Brasil para acabar interferindo no âmago do próprio regime democrático. A marca tem sido a utilização da definição do conceito de “corrupção” de modo arbitrário, aplicado ao bel-prazer, difusamente, já que de fácil aderência e adesão social. Perfeita bandeira conveniente para quem não pretende mudar nada. Naturalizamos violências radicais em favor de uma senha de ocasião.
Anteriormente o senhor fez algumas críticas à delação premiada. Seria possível descobrir e punir crimes como os descobertos pela Lava Jato sem recorrer a esse instrumento de delação?
Sem dúvida seria possível com a capacidade do sistema de investigação à disposição do MPF e da PF. Nunca ambos tiveram tanto poder e estrutura operacional desde a Constituição. Se existe alguém que consegue ter algum poder investigativo, e tem, são esses órgãos. Depender de delação, além de aviltar as mínimas regras éticas de um processo penal, é a maior constatação do fracasso de uma investigação. Este é o grande problema: o Estado avalizar a palavra do suposto suspeito, e quanto mais importante e responsável possa ser este sujeito e o crime por ele praticado, maior sua vantagem, como dissemos. Ou seja, quanto mais elementos puder dispor, mais regalia vai ter.
Mas as condenações são feitas somente com base nas delações? Os delatores não entregam provas?
Se formos analisar a última sentença condenatória dada em fevereiro no caso do ex-presidente da República pela atual juíza da 13ª Vara de Curitiba, houve inclusive a comprovação por exame pericial de cópia do mesmo arquivo de texto da anterior condenação dada pelo atual ministro da Justiça. Se já não fosse uma aberração capaz de anular a decisão, a juíza refere o delator Léo Pinheiro (considerado principal elemento para a condenação de Lula) e José Aldemário Pinheiro Filho como se fossem pessoas distintas! Vale dizer que foi o mesmo depoente que, em suas declarações, inicialmente inocentava o ex-presidente, mas que depois de preso coincidentemente modificou sua versão dos fatos para conseguir viabilizar um acordo de delação premiada. A juíza baseou sua decisão na palavra de um delator de quem ela não sabe nem o nome?
Como vê a discussão sobre prisão em segunda instância? Muitos que defendem esse ponto argumentam que o fim da prisão em segunda instância impede a responsabilização dos crimes.
Esse argumento não procede. Como dissemos anteriormente, 40% das pessoas que estão presas, estão presas sem condenações, então não precisam de prisão em segunda instância. Mas, em termos constitucionais, a Constituição não permite a prisão em segunda instância. A demonstração da fragilidade desse tipo de argumento é representada, como apontamos, pelo açodamento do projeto “anticrime”, estampado na pressa do ministro em aprovar tudo o mais rápido possível.
De todo modo, em termos constitucionais, é proibido e não há qualquer tipo de dúvida: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que diz a carta constitucional. Se não concordamos com isso, temos que mudar a Constituição, mas também não dá para mudar a Constituição e deixar o Código de Processo e as outras normas sem a devida declaração de inconstitucionalidade, se for o caso.
Alguns também argumentam que só no Brasil é assim. Mas esse argumento é equivocado. Alguns ministros do Supremo inclusive mencionaram exemplos de outros países, mas isso não condiz com a realidade, porque países como Portugal e Alemanha têm sistemas jurídicos e recursais diferentes: não se pode dizer que eles funcionam só com duas instâncias, até porque lá existem tribunais de cassação e outros tribunais que não possuem as mesmas competências equivalentes ao Brasil. A comparação é completamente deturpada. Mesmo assim, se fosse apenas o Brasil a manter esta regra, ainda seria uma cláusula pétrea daConstituição da República.
A presunção de inocência é, sobretudo, uma escolha política e o preço da democracia. Não há o melhor dos mundos: ou tratamos todos como inocentes, mesmo que seja ao preço de algumas pessoas que cometeram crimes saírem ilesas, ou tenhamos todos como culpados, com o risco arrasador de termos uma quantidade absurda de inocentes condenados e cumprindo pena. Dependerá saber que tipo de democracia queremos; se, de fato, queremos uma democracia. Democracia significa, inclusive, lamentarmos que algum culpado não seja condenado, exatamente para garantir que os fins não justifiquem os meios. Regimes totalitários são exatamente aqueles infalíveis, pois não têm dúvidas, sempre estão plenos de certezas. No máximo cometerão “excessos”, todos justificáveis, como diz o nosso presidente.
Só como exemplo, entre 2006 e 2014, uma em cada quatro decisões de habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça – STJ modificava algum aspecto das decisões emitidas pelos julgados de segunda instância. E nem falemos daquelas decisões que são mantidas em sede do STJ e modificadas pelo STF, ou quem sabe dos julgamentos que acabam por ser anulados e reformados via recursos especiais e extraordinários pelas Cortes Superiores. Ou seja, em resumo, há uma enorme quantidade de decisões equivocadas e reconhecidas judicialmente.
Imaginemos, por outro lado, que mesmo assim é exceção o número de casos que chegam aos Tribunais Superiores, o que implica uma responsabilidade redobrada em termos judiciais. Há um mito de que os processos ficam andando até chegarem no Supremo. Isso é mentira. Grande parte deles não vai adiante da primeira instância, quiçá chegam na segunda. Nunca esqueçamos que a quantidade absolutamente esmagadora de processos criminais no Brasil, hoje, ainda tramita com defensores ad hoc, ou seja, nomeados apenas para o ato judicial, o que naturalmente afeta o exercício de defesa, entre eles o próprio direito de recorrer ou a efetividade do recurso.
Então, para começo de conversa, não temos uma escalada de recursos como regra. Os recursos acabam em instâncias iniciais e pensar ainda em restringi-los é uma teratologia. Isso não significa dizer que é lógico que uma Suprema Corte julgue mais de 125 mil casos só em 2018, como é o caso do STF, enquanto a Suprema Corte dos EUA julga cerca de 80 por ano. Claro que o sistema de impugnações de decisões está equivocado, mas não será restringindo e fragilizando, por exemplo, o nosso maior remédio constitucional que é o habeas corpus, ou mesmo destruindo uma garantia básica, como a presunção de inocência, que se resolve a situação.