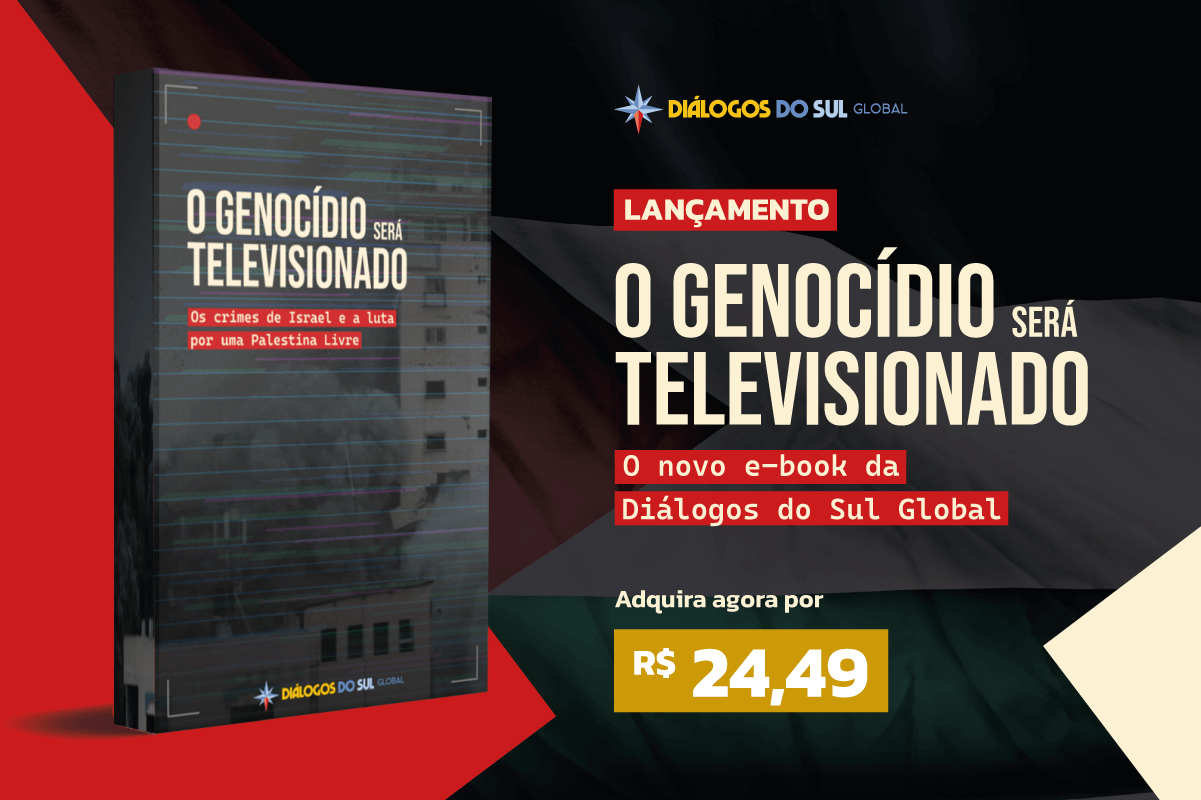Examinar dragões, não domesticá-los ou abominá-los, nem afogá-los em barris de teoria, é tudo em que consiste a antropologia. […] Tranquilizar é a tarefa dos outros, a nossa é inquietar (GEERTZ, 2001, p. 65).
Um pouco no impulso, confesso, nominei um dos pontos do concurso de Livre Docência realizado em outubro de 2018 e aqui condensado: antropologia contemporânea. Minha dificuldade na definição do ponto a ser sorteado era não saber o que incluir em tantos campos de pesquisa que invisto, insisto e advogo. Certa vez, uma amiga pesquisadora de islã, me disse: “precisamos escolher as batalhas que entramos”. Penso que ela me sinalizava algo mais, mas fingi que não entendi o conselho, afinal tenho causas demais por defender e tenho pressa.
O mundo contemporâneo requer muita luta, porque há muito desassossego. O processo colonial foi tão perverso que deixou marcas e silêncios profundos. Não é de se espantar que no Brasil a escravidão existiu até há pouco tempo, e se pensarmos bem, os efeitos dela estão em todos os lugares. Na universidade, por exemplo, é gritante a ausência de negros e mulheres em postos de Direção de Faculdades, o que sinaliza que a gestão administrativa do conhecimento científico está nas mãos de homens brancos, mas também, as bibliografias das disciplinas sugeridas para leitura recheadas dos mesmos europeus e/ou norte-americanos.
Buscando compreender melhor universos diversos, além dos já conhecidos, venho lendo dois intelectuais negros Bell Hooks e Franz Fanon e tenho me fascinado: ela, uma ativista feminista negra, intelectual, que escreve no seu livro: “ensinando como transgredir: a educação como prática da liberdade: … aprendemos desde cedo que nossa devoção aos estudos , à vida do intelecto, era um ato contra hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racial”; ele um psiquiatra, filósofo e ativista pela independência da Argélia, escreve sobre descolonização, e patologização do colonialismo. Se Freud pergunta: o que quer a mulher? Fanon pergunta: “Que quer o homem? Que quer o homem negro? E completa: Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem”. Leia em seu livro “Pele negra, máscaras brancas” (Frantz Fanon – Pele Negra,Máscaras Brancas, Edufba, 1963).
Penso que a antropologia contemporânea requer de nós a coragem de pensarmos a fundo o tema decolonial. Nas palavras de Santos e Meneses (2009, 12) encontramos a seguinte definição para este campo: “é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios epistemológicos que tenta reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo”.
São muitos os autores que percorrem este caminho e a antropologia vem na esteira deste pensamento buscando cada vez mais este diálogo por meio das questões de gênero (feministas), raça e classe.
Joaze Bernardino-Costa & Ramón Grosfoguel escrevem que a “decolonialidade consiste também numa prática de oposição e intervenção, que surgiu no momento em que o primeiro sujeito colonial do sistema mundo moderno/colonial reagiu contra os desígnios imperiais que se iniciou em 1492”. Há, como podemos notar, uma emergência e uma insurgência do movimento decolonial neste debate, prefiro o termo decolonial ao descolonial, por manter na língua inglesa um melhor paralelismo.
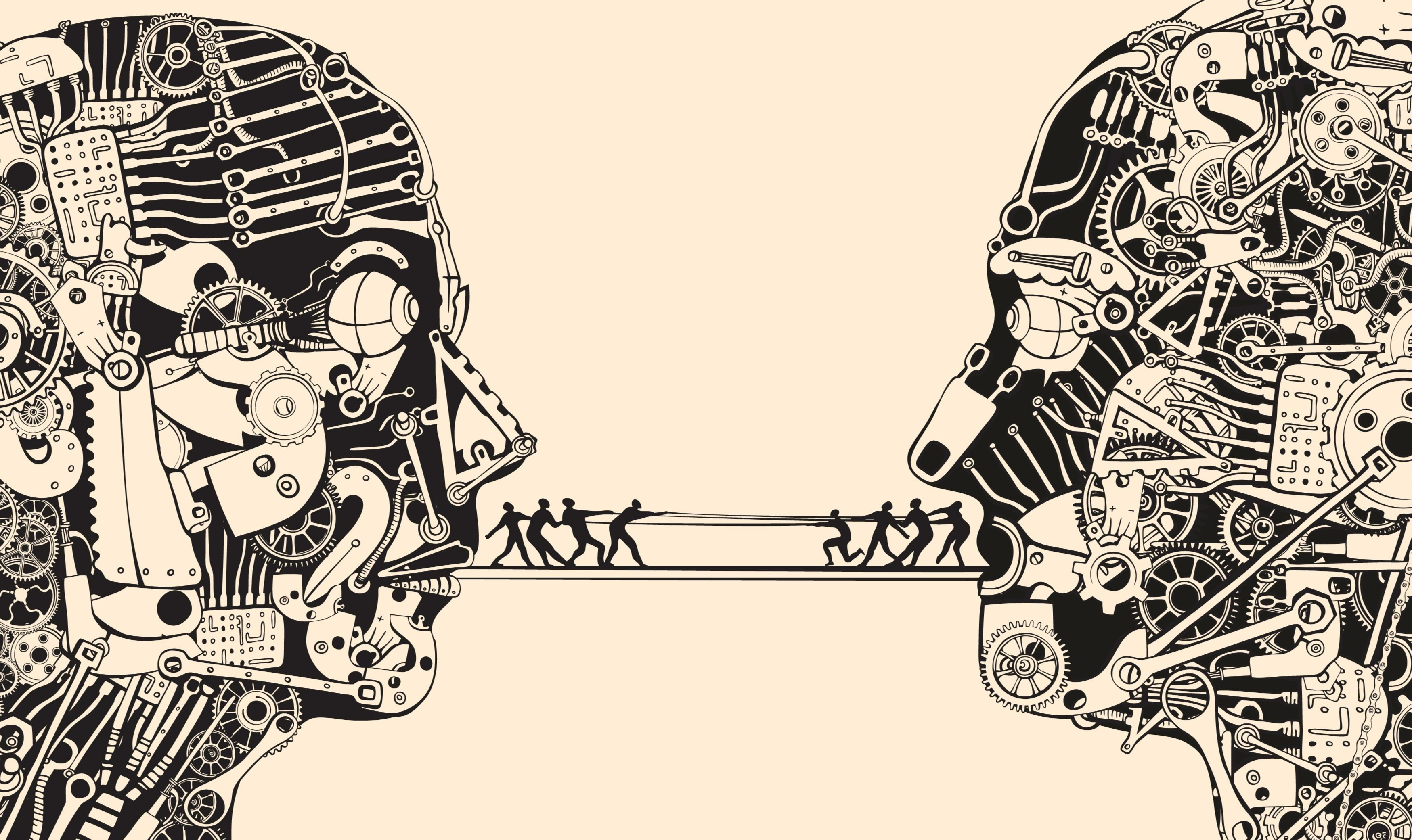
Linkedin Huy Hoang Cao
O mundo contemporâneo requer muita luta. O processo colonial foi tão perverso que deixou marcas e silêncios profundos
Constantemente sou indagada, até mesmo na universidade, sobre o uso do véu, sempre associado como algo que diminui a mulher, a desqualifica, a subjuga. Seriam essas mulheres trajadas com suas vestes religiosas corpos abjetos? Para usar uma terminologia de Judith Butler.
Mulheres muçulmanas estejam de hijab, niqab ou burca serão sempre estigmatizadas. Entretanto, Lila Abu-Lughod nos coloca a pergunta correta: do que as mulheres muçulmanas necessitam ser salvas? Questão esta mobilizada pelo discurso de Laura Bush, primeira dama dos EUA, pós 11 de setembro. Nele, fica claro o entendimento da mesma em relação às muçulmanas que usam burca. Mulheres afegãs nesta concepção deveriam ser salvas pelos americanos.
O discurso salvacionista dos americanos do Norte utilizado para produzir processos de hierarquização que operam a partir de conceitos raciais e temporais é recorrente. Nós mulheres brancas, ocidentalizadas, promotoras dos “direitos humanos” podemos libertá-las. Mas, do que realmente as estamos libertando? Pois como escrevi em 2013[2] “o véu não encobre pensamento”, isto posto, não é a vestimenta que dirá se a mulher é ou não oprimida, subjugada, etc. Limitar mulheres à roupa que vestem é não compreender o universo em que vivem e suas agendas diversas de inserção no campo privado e público.
Um exemplo instigante é quando expresso que mulheres saharauis em Tindouf têm pautas de reivindicação pela autodeterminação do seu território no Sahara Ocidental e essas estão lado a lado dos homens nas questões públicas e privadas, muitos interlocutores me olham com espanto, pois desconhecem esta luta e desconhecem essas mulheres. Somos todos tão colonizados que até as lutas são aquelas que os nossos olhos podem enxergar em um raio bem restrito. Para diminuir a miopia em relação a este tema recomendo assistir ao documento de Renatho Costa e Rodrigo Estrada “Um fio de esperança” https://vimeo.com/269111602, os diretores nos presenteiam com um lindo documento audiovisual sobre a história de luta do povo do Sahara Ocidental por mais de 40 anos por sua autodeterminação de direito, mas ainda não concretizado. A resistência e a paciência deles são exemplos para nossas lutas cotidianas, e sugiro para compreensão dessas mulheres do Sahara, que tanto falo em palestras, o artigo de Sayid Marcos Tenório: “A intensa força das mulheres do deserto”[3]. A luta pela terra é o que não nos falta no Brasil, povos indígenas, quilombolas, moradores de periferias são exemplos que dignificam nosso ativismo cotidiano e a certeza de que mais do que nunca não podemos soltar nossas mãos, quando se trata de contribuir para uma sociedade mais justa. É possível e necessário globalizar nossas lutas e almejar que cada um tenha seu espaço reconhecido e valorizado.
Em sendo assim, a militante, ativista de esquerda franco-argelina, Houria Boudejda, em seu artigo Raça, Classe e Gênero ressalta a importância que a perspectiva decolonial tem em definir um sujeito revolucionário, quer dizer, o sujeito ao redor do qual se construirá o projeto de transformação social. Traz-nos a certeza que nesses tempos só podemos pensar em nome da raça, da classe e do gênero, e se quisermos realmente que as mudanças aconteçam — vamos precisar de todo mundo—, complemento.
Ainda sobre a questão de raça, Sueli Carneiro, em seu artigo “enegrecer o feminismo…” reforça o contraponto ao feminismo branco, dizendo que quando se fala de romper o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, é importante se perguntar de quem se está falando? Pois, segundo a autora, mulheres negras não fazem parte deste contingente de mulheres rainhas de nada, e são sim, retratadas como anti musas, pois o modelo estético é a mulher branca.
Estamos a colonizar o comportamento do outro que submetemos sempre como inferiores, desiguais e não o tratamos dentro dos parâmetros da diferença. Cada vez mais venho concordando com o pensamento de Asma Barlas, quando diz que não se incomoda se a mulheres nativas (muçulmanas) são ou não feministas. Para ela, o feminismo é um movimento histórico, universal e natural e intrínseco ao progresso. Muitas consideram que o islã é feminista na letra e sexista na leitura e, por fim, diz que o feminismo não existe na época da revelação. Ela mesma não se declara feminista e sim muçulmana que cobra seus direitos colocados no século 7.
Como nos assegura Paola Bacchetta, os colonizadores não só impuseram suas próprias noções de gênero e de sexualidade em sujeitos colonizados, mas também exploraram as situações das mulheres e das minorias sociais.
Mas ainda nos cabe uma questão final provocada por Spivak: pode o subalterno falar? O sujeito subalterno na definição de Spivak é aquele pertencente “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante”. Neste registro, incluímos os pobres, as mulheres, os negros. Há diversos exemplos em que esses sujeitos não são ouvidos, e em muitas situações não podem se expressar ou têm sua fala desqualificada. A lista é grande também quando se trata de povos colonizados.
A preconcepção de que “eles não podem representar a si mesmos, eles precisam ser representados”[4] foi e tem sido, sobretudo, desde a Modernidade, o sujeito oculto e onipresente nas ações discursivas e nas investidas colonialistas que delineiam aquilo que Edward Said (1980) denominou de “projetos orientalistas, os quais objetivam a construção e consolidação de uma cultura material.
Ao refletir sobre questões que envolvem o Brasil atual e seu crescente recrudescimento de direitos, além das realidades vividas por povos africanos, palestinos, etc, e todas essas perdas pelo processo de colonialidade, fica a pergunta se é possível termos direitos humanos decoloniais? Penso que isso será possível se os profissionais de direitos humanos estiverem interligados a uma bibliografia decolonial, ou se estiverem dispostos a compreender a historia a contrapelo, como diria Benjamin, precisamos realmente mostrar que além de homens brancos ocidentais, a história do pensamento humano é feita de muitos outros e a antropologia contemporânea tem muito a colaborar com isso. Vários dos autores aqui citados estão totalmente imbricados nesta proposta.
É fato que nosso lema atual “ninguém solta a mão de ninguém”, dá-nos a certeza de que não andamos só, mas, é preciso, sobretudo, que as mulheres possam falar por elas, os negros, os índios, quilombolas possam se auto representar, assim como devemos estar atentos às diversas lutas globais como as dos palestinos e dos saarauis (nativos autóctones do Sahara Ocidental).
Sigamos na inspiração Geertziana: “se quisermos verdades caseiras não saiamos de casa”, pois a nova ordem mundial requer que a luta seja pela libertação de todos. Um ativista não escolhe uma causa, escolhe a Justiça. Se os próximos quatro anos parecem difíceis para alguns brasileiros, é porque esses ainda não conhecem suficientemente a luta pela demarcação de terras indígenas há 500 anos, a luta do povo palestino pelo direito a um Estado soberano há mais de 70 anos, a luta do Sahara Ocidental em ser reconhecido por direito há mais de 40 anos.
Nós resta, enquanto acadêmicos, ativistas, militantes seguir cantando e lutando como no texto de Glauber Rocha e Sérgio Ricardo:
– Se entrega, Corisco!
– Eu não me entrego, não!
Eu não sou passarinho
Pra viver lá na prisão
– Se entrega, Corisco!
– Eu não me entrego, não!
Não me entrego ao tenente
Não me entrego ao capitão
Eu me entrego só na morte
De parabelo na mão
– Se entrega, Corisco!
– Eu não me entrego, não!
(Mais forte são os poderes do povo!)
*Francirosy Campos Barbosa é Antropóloga, Livre Docente no Departamento de Psicologia, FFCLRP/USP, coordenadora do GRACIAS – Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Autora do livro: Performances Islâmicas em São Paulo: entre arabescos, luas e tâmaras. São Paulo, Edições Terceira Via, 2017.
[2] Cf Discursos sobre o uso do véu islâmico.
[3]http://port.pravda.ru/sociedade/incidentes/12-10-2018/46465-mulheres_deserto-0/ acessado em 19/12/18
[4] Citação de Karl Marx, em The Eighteenth Brumaire of Louis Bonapart, citada por E. SAID (1980).