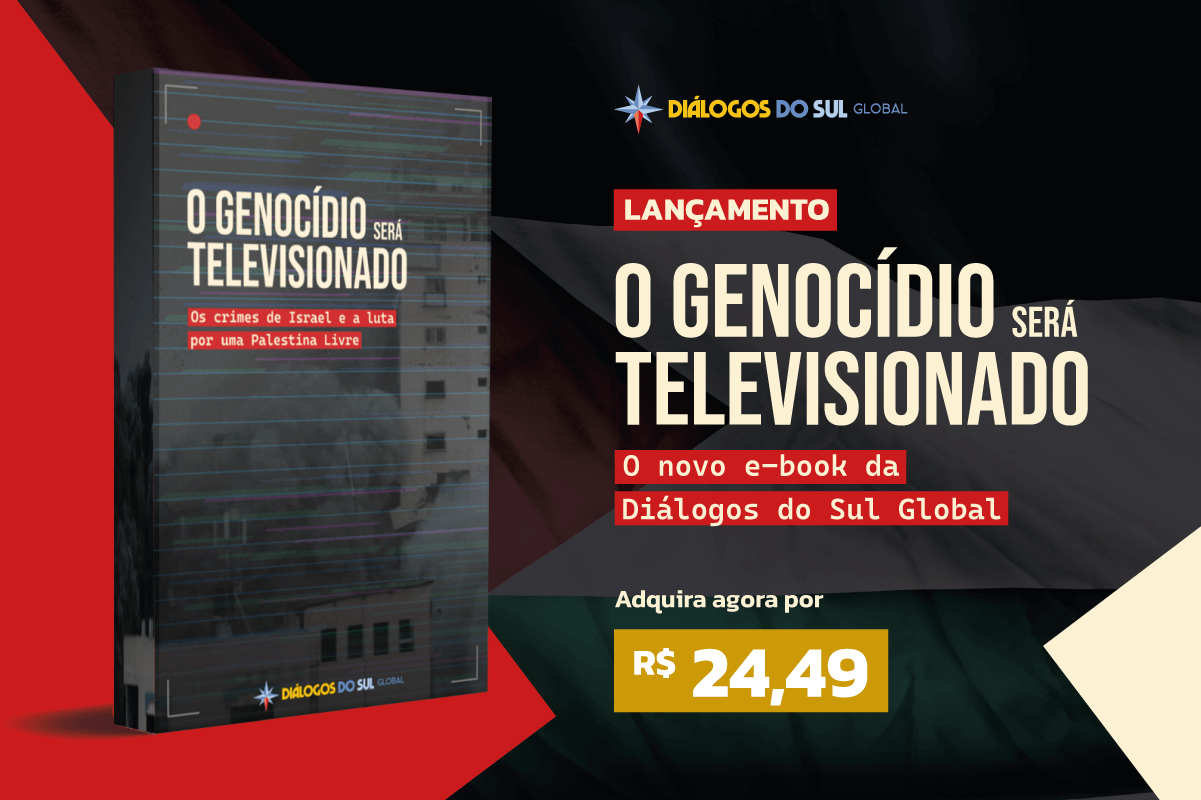Conteúdo da página
ToggleNULL
NULL
Enquanto na Arábia Saudita as mulheres só recentemente foram autorizadas a dirigir automóveis, e, no Irã, uma revolução tolheu boa parte dos direitos femininos, no Líbano, elas podem, inclusive, usar biquíni na praia. O que essas realidades têm em comum? O contraste entre a luta pelos direitos das mulheres no mundo islâmico e o papel delas dentro da religião em países em que os muçulmanos representam mais de 50% da população.
Aline Yumi, Beatriz Lia e Natália Vitória*
“Nós sempre somos vistas como oprimidas e, normalmente, essa concepção vem do fato de nos cobrirmos com a abaya [vestimenta que reveste o corpo da mulher muçulmana, dos pés à cabeça] ou usarmos o hijab [véu utilizado sobre cabelos femininos]”, diz a cineasta saudita Danya Alhamrani.
A questão da vestimenta é uma das que mais chamam a atenção no Ocidente sobre os países árabes e/ou que possuem maioria muçulmana. O sheik libanês Kamal Chahin, que trabalha no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, observa que o uso do lenço é obrigatório para mulheres muçulmanas: “Não se trata de uma questão cultural. O uso da indumentária islâmica é obrigatório desde os 15 anos”. Assim, a mulher deve cobrir o corpo todo, com exceção das mãos e do rosto, e não [a vestimenta] pode ser transparente ou apertada.
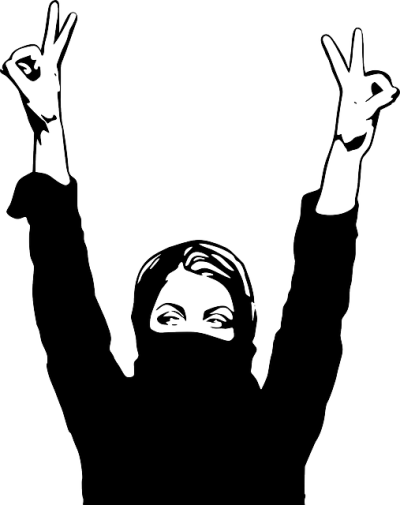 Ele explica que a medida está descrita na Lei da Xaria, que dita como os muçulmanos devem se comportar. No caso da mulher, a utilização de hijabs e abayas é aplicada, segundo ele, para a sua própria proteção e é uma regra anterior à chegada do profeta Maomé [571-632].
Ele explica que a medida está descrita na Lei da Xaria, que dita como os muçulmanos devem se comportar. No caso da mulher, a utilização de hijabs e abayas é aplicada, segundo ele, para a sua própria proteção e é uma regra anterior à chegada do profeta Maomé [571-632].
A lei também descreve que o papel das muçulmanas é o de educar os filhos, cuidando para que se tornem cidadãos de bem no futuro. Nas palavras do sheik, para formar “médicos íntegros, engenheiros sinceros e políticos honestos é necessária a figura de uma mãe”. Ainda que essa seja a visão do mundo islâmico, ele ressalta que a Xaria não impede as mulheres de realizar outras atividades. Assim, o islamismo, ressalta, permite que elas dirijam, trabalhem ou participem da política, quando necessário. “Não cabe ao rei, ou às leis determinar o que elas devem fazer. Esse papel cabe a Deus”.
Assim como no Ocidente as mulheres protagonizaram verdadeiras revoluções ao conquistar o direito ao voto, à pílula anticoncepcional, à participação na política e, em episódios mais recentes, na conscientização contra o assédio e à violência de gênero, no Oriente Médio também há um clamor por mudanças nas estruturas.
Arábia Saudita
Na Arábia Saudita, onde às mulheres era proibido até mesmo dirigir, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, lançou, em abril de 2016, o plano econômico “Saudi Vision 2030”, que alterou algumas leis sauditas. A proposta, de cunho econômico, visa modernizar o país e superar a dependência do petróleo.
“Incentivaremos nossas principais corporações a se expandir além das fronteiras e ocupar seu lugar de direito nos mercados globais”, escreveu bin Salman, em um discurso fixado no site oficial da proposta.
O professor de Relações Internacionais da Universidade Belas Artes de São Paulo Sidney Ferreira Leite observa que a garantia de direitos às mulheres entra nesse cronograma de mudanças, mas embora sejam “reformas importantes, não estão dentro de uma agenda de igualdade de gênero”.
Ainda assim, Leite aponta uma aceleração do processo por conta da internet. Um dos exemplos disso é o uso da hashtag “#MeToo” (“Eu também”, em tradução livre), criada pela atriz estadunidenseAlyssa Milano em 2017 e que deu início a uma campanha contrao assédio em várias partes do mundo.
Dentro do território saudita, o termo foi adaptado para “#MosqueMeToo” (“Na mesquita eu também”) e é utilizado para dar voz às mulheres que sofrem abusos durante a peregrinação para a cidade sagrada de Meca.
#MosqueMeToo : des musulmanes dénoncent le harcèlement et les agressions sexuels lors du pèlerinage à La Mecque https://t.co/MMs5QkXCBI pic.twitter.com/cghw4emgZX
— franceinfo (@franceinfo) 10 de fevereiro de 2018
Além disso, o professor explica que há, no país, um processo de “ocidentalização” que ocorre desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para ele, o príncipe herdeiro adota uma medida de “aproximação” com outros países, principalmente com os EUA.
Já a cineasta Danya Alhamrani considera que com ou sem aproximação, o Ocidente sempre “deixa a desejar” na hora de representar o grupo feminino árabe.
Na tentativa de desmitificar a visão que ela considera equivocada, Alhamrani, junto com sua sócia, Dania Nassief, realizou o documentário “A Silent Revolution: The Journey of Woman in Saudi Arabia”, traduzido do inglês para “Uma revolução silenciosa”, no qual reúnem 25 sauditas que foram pioneiras em suas áreas de atuação para discutir feminismo e seus obstáculos.

“A Silent Revolution” foi premiado em Berlim pelo “Filmfestival Without Borders”, em fevereiro. O mais surpreendente para Alhamrani é que, inicialmente, o documentário focava na audiência internacional, mas o público feminino local também está tendo reações positivas, conta.
“Quando as mulheres sauditas viram, elas se sentiram muito orgulhosas”, revela a cineasta.
Entre as histórias contadas estão a da primeira saudita a escalar o Monte Everest, a participar das Olimpíadas em Londres e a pioneira em criar uma escola para meninas no país. “Pudemos ter um vislumbre e entender um pouco mais sobre a trajetória e os bastidores do que elas passaram para chegar onde estão”, afirmou Alhamrani.
Segundo a cineasta, a nova geração de mulheres do país tem mais oportunidades que as anteriores. Ela também observa que, cada vez mais, a população feminina consegue entrar em universidades e garantir seus diplomas. “A igualdade pode significar muitas coisas para pessoas diferentes” e “a nova geração de mulheres sauditas, definitivamente, está avançando para uma liberdade de escolhas”.
Irã
Do outro lado do Golfo Pérsico, diversas mulheres têm sido presas por protestarem contra o uso obrigatório do hijab. Isso porque após a Revolução Iraniana, em 1979, o país se tornou um Estado Islâmico, ou seja, totalmente regido pela Xaria. Com isso, ficou determinando que todas as mulheres devem cobrir suas cabeças e usar roupas modestas que ocultem, no mínimo, os braços, o colo e os joelhos.
Antes disso, as mulheres tinham o direito de se vestir como quisessem. As capas de revistas femininas no período anterior à Revolução chegavam a revelar as silhuetas de seus corpos. Além disso, via-se a cor de seus cabelos, curtos, longos, encaracolados e enxergava-se a cor de seus olhos.

Em 2014, a jornalista iraniana , atualmente exilada nos Estados Unidos, postou uma foto em suas redes sociais com os cabelos ao vento e despertou o interesse de suas seguidoras que disseram “invejar e admirar a liberdade que ela demonstrava ter”.
“Então, eu disse às minhas fãs que elas poderiam ter seu próprio momento de ‘liberdade furtiva’ no Irã, longe de olhos predadores”, contou Alinejad. Para provar isso, ela tirou uma fotografia em território iraniano sem o lenço, enquanto dirigia.
Esse foi o início do projeto que hoje é conhecido como “MSF” (“My Stealth Freedom”, traduzido livremente como “Minha Liberdade Furtiva”), no qual as iranianas registram seus momentos sem o véu e mandam para o site — que coleta e expõe esse pequeno protesto contra o regime político-teocrático do país.
Entre as hashtags mais populares do “MSF” estão a “White Wednesdays” (“Quartas-feiras Brancas”, em tradução livre), quando mulheres vestem branco para protestar contra as obrigatoriedades de vestimenta tradicional; “My Forbidden Song” (“Minha Canção Proibida”), em oposição à proibição de que um grupo feminino cante sozinho em público; e Walking Unveiled (“Andando Desvendada”), quando elas saem às ruas sem os véus, correndo o risco de serem encontradas por autoridades.
Alinejad diz que não esperava que o projeto pudesse crescer tanto e tão rápido, alcançando até mesmo mídias internacionais. “A popularidade da campanha me fez perceber o quanto as iranianas precisavam que suas vozes fossem ouvidas. Elas precisavam de uma plataforma, que é exatamente o que eu tenho proporcionado”, diz.
A jornalista relata que a iniciativa também contribuiu para a quebra de tabus e maior conscientização, fazendo com que as pessoas encarem a utilização da indumentária muçulmana como algo importante a ser discutido.

Ainda que o projeto de Alinejad tenha sido abraçado pelas mulheres do Irã que lutam contra a obrigatoriedade da vestimenta religiosa, a jornalista passou a receber críticas e, até mesmo, ameaças de morte.
Ela conta que oficiais do governo diziam que “havia questões mais importantes a serem tratadas” do que a imposição da utilização do hijab. Todavia, segundo ela, “se mulheres não podem decidir o que colocar sobre a cabeça, elas nunca poderão escolher o que pensar”.
Alinejad também explica que a relação entre países teocráticos no Oriente Médio é “inegavelmente forte”, ainda mais se eles seguem o mesmo tipo de religião. Por isso, ela aponta que pequenas mudanças em um local ou outro, podem impulsionar revoluções em outros territórios e, consequentemente, mudar a realidade.
“A Arábia Saudita costumava ser comparada ao Irã. Entretanto, com o ritmo veloz das reformas sociais do regime saudita, a pressão para abertura está sendo construída em território iraniano. São avanços promissores que deveriam ser seguidos com cuidado”, alertou.
Segundo o professor de Relações Internacionais Sidney Leite, “é muito provável que se tivermos um movimento mais sistemático em torno de questões de uma agenda feminina e feminista, o Irã tem potencial muito grande, por conta de uma história de força, de mulheres atuando nos movimentos sociais”.
Líbano
Do outro lado, já no Mar Mediterrâneo, a sociedade libanesa apresenta outra realidade para as mulheres. “É quase que um consenso que países como o Líbano e a Síria são mais liberais socialmente”, explica Leite. “O Líbano, por exemplo, aceita que as mulheres usem biquíni na praia e isso já diz muito sobre o país”, acrescenta.

De acordo com o professor, a história neocolonialista do território também afeta a forma de se ver as mulheres. “O Líbano e a Síria sempre tiveram influências da cultura europeia. Na região, as trocas comerciais favoreciam também as trocas culturais”, aponta.
Porém, ainda que o regime libanês seja mais “aberto” que o saudita ou o iraniano, ele ainda possui traços de desigualdade de gênero.
A professora Dima Dabouss, diretora do Instituto de Estudos da Mulher no Mundo Árabe da Lebanese American University aponta as diferenças entre as mulheres e homens libaneses: “por exemplo, elas não podem passar a cidadania para o marido e os filhos estrangeiros e não têm custódia de seus filhos abaixo de uma certa idade. Além disso, é muito difícil mudar efetivamente essas leis familiares, porque elas estão ligadas ao sistema político-confessional”.
Entretanto, para ela, essa problemática pode ter menos a ver com o governo e mais com a sociedade. A especialista explica que alguns homens, e até mesmo mulheres, “são contra a igualdade de gênero, geralmente por questões culturais e religiosas.”
“Elas acreditam que isso vai contra a natureza, Deus e a sociedade, ou a família. Eu acredito que seja porque elas não entendem que muitos conceitos sexistas têm sido difundidos na sociedade, algumas vezes usando a desculpa da crença, para preservar o patriarcado”, diz Dabouss.
* Produzido para a revista Diálogos do Sul em parceria por alunos da U. P. Mackenzie.
**Edição: Vanessa Martina Silva