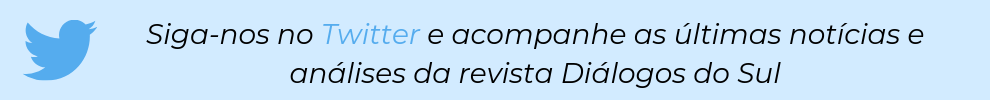O que guardam entre si, em semelhanças ou diferenças, dois fatos recentes envolvendo vidas paralelas que não chegaram a conviver, mas se uniram nos ensinamentos deixados pela vida e, também, pela morte?
Refiro-me, por um lado, à vida e morte do rabino Henry Sobel e, por outro, à tragédia da favela de Paraisópolis. Diferentes entre si, ambos os acontecimentos se unem num mesmo cordão umbilical – a violência policial que distorce a realidade e interpreta a truculência e a morte como “guardiãs” do poder.
Sobel foi o guia espiritual de uma comunidade religiosa. Os adolescentes mortos em Paraisópolis talvez nada pensassem sobre espiritualidade, queriam apenas se divertir num “baile funk”, em que o corpo se exacerba e até raciocinar é estranho. Nas atividades da vida real eram quase antagônicos.

Agência Brasil
O rabino Henry Sobel, que faleceu em 22 de novembro de 2019 por complicações associadas a um câncer.Continua após o anúncio
Nascido em Portugal, numa família perseguida pelo atroz antissemitismo, o rabino Sobel tornou-se cidadão dos Estados Unidos. Lá penetrou na essência do judaísmo ao entender que os ritos religiosos são, apenas, uma expressão das verdades espirituais da humanidade. Aqui, adotou o Brasil como pátria. Foi o oposto de um apátrida. Teve muitas pátrias ao ter o mundo dentro de si e, assim, foi um educador.
O educador Sobel nasceu da prática de vida do rabino e se revelou naquele episódio perverso de tortura e assassinato, na prisão, do jornalista Vladimir Herzog, nos tempos da ditadura, em São Paulo. Numa época dominada pelo medo, em pleno auge funesto do “Ato 5”, um ato do rabino Sobel desafiou a ditadura e escancarou a mentira do “suicídio” de Herzog, montada na chamada Operação Bandeirantes para encobrir a morte sob tortura.
No rito judaico, os suicidas são enterrados na área externa do cemitério, nunca junto aos demais mortos. O rabino da Congregação Israelita Paulista, porém, negou-se a sepultar Herzog na área dos suicidas e desmontou a farsa que encobria o assassinato. Dias depois, ao lado do arcebispo Paulo Evaristo Arns e do pastor metodista James Wright, participou de um culto ecumênico, na lotadíssima Catedral da Sé, em memória de Herzog e repúdio à tortura.
Daí em diante, naquele 1975, o País, amordaçado e acovardado, passou a recuperar a lucidez e a coragem que, anos depois, desembocaram na “abertura” do governo Geisel e, por fim, na redemocratização. O gesto do rabino foi o ponto de partida que refez a coragem e a altivez extraviadas entre os brasileiros a partir do golpe de 1964. Passamos, outra vez, a exercer a coragem que desafia a mais daninha das mentiras – aquela que o poder político propaga como “verdade absoluta”.
Sobel reeducou-nos. Levou-nos a raciocinar sobre tudo o que o poder (seja civil ou militar, político ou financeiro) nos impinge como indiscutível. Por isso, foi um educador.
Mas, e os meninos mortos na favela, cuja denominação “Paraisópolis” é, em si, um ultraje ao significado das palavras?
A grande lição que fica é a visão do medo da polícia, que persiste em toda a sociedade, mesmo na democracia, que assegura direitos a todos. A simples chegada da Polícia Militar à favela na madrugada provocou pânico exatamente por se conhecerem os métodos policiais. Primeiro disparam e só depois vão averiguar.
Para que o pânico se multiplicasse não seria preciso sequer que (como mostraram as câmeras) um policial desse porretadas a esmo em cada um dos que buscavam escapar pelas vielas e becos em outro infernópolis. Bastou a chegada da polícia para que os assistentes ao baile percebessem que eram vítimas potenciais só por serem pessoas. Os tiros na rua e as bombas de gás (também mostrados na TV) apenas ampliavam a insegurança.
Não estamos nos anos da prepotência do Ato 5. Até o milênio é outro. Mas teremos esquecido o que aprendemos com o gesto do rabino Sobel? Ou as marcas da ditadura no aparelho repressor do Estado foram tão profundas que continuam na prática e são usuais até hoje?
Na tragédia de Paraisópolis há, ainda, outro ingrediente perverso: a brutalidade policial alimentou-se da vingança. Tempos antes, um policial fora morto na favela, transformando a repressão em favor da ordem em odiosa vingança a esmo. A população local virou vítima coletiva preferencial.
Essa situação é comum em São Paulo e em todo o Brasil. O restabelecimento da ordem passa a plano inferior e surge a vingança. Num país onde nenhum juiz pode aplicar a pena de morte, a polícia mata por ímpeto quase “natural” e com impunidade. Os “rigorosos inquéritos” raramente responsabilizam e penalizam a ação policial.
Agora, a pretendida “exclusão de ilicitude”, proposta pelo governo federal, é apenas pomposa denominação jurídica que dá salvo-conduto para matar. É o elogio da morte, como se a vida tivesse o desprezo da lei.
Pode-se inverter a função do Estado e transformá-lo em algoz, em vez de protetor natural da vida?
A violência exige ir às causas profundas do horror. Combater as consequências jamais extirpará o crime, seja qual for. Na sociedade atual, tudo é violento, a começar pelo que chamam de “música” e apenas habitua nossos neurônios ao ruído. Os jogos eletrônicos ou os programas infantis no YouTube e similares são uma sucessão de atos grosseiros, que preparam as crianças para uma vida rude de disputa, sem solidariedade ou gestos de amor.
Extraviam-se até o amor e a beleza do erotismo, dando hierarquia à perversão, com a mesma “naturalidade” com que a cobiça e nosso estilo de vida destroem o meio ambiente e levam o planeta à catástrofe.
O horror das Paraisópolis de cada dia é uma ironia brutal a mostrar que até no paraíso se pode sofrer.
*Flávio Tavares é escritor e professor aposentado da UNB, colaborador da Diáologos do Sul
Veja também