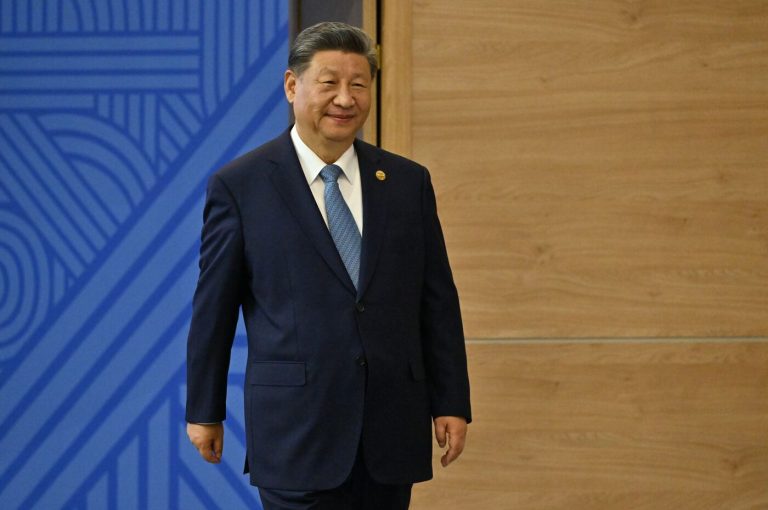NULL
NULL
Randy Saborit Mora *
Embora não seja a primeira nem a última mulher jornalista que diga que seguirá sua vocação, apesar das ameaças suscitadas por seu trabalho, a coragem é um traço que se respira ao conversar com a chileno-guatemalteca Carolina Vásquez Araya.
Sua voz doce e cadenciada contrasta com a coragem contida nesta frase: “As ameaças afinal de contas só conseguem reforçar uma posição, porque se alguém está te ameaçando é porque se sente ameaçado, e, se se sente assim, é porque você está no bom caminho, e se está no bom caminho como vai deixar o jornalismo?”.
“Isto é, você tem que insistir, quem te ameaça é um covarde”, enfatiza, sem perder o fio, a diretora de revistas e suplementos do jornal guatemalteco Prensa Libre.
A arguta colunista de hoje desencavou, em entrevista exclusiva para Prensa Latina algumas de suas lembranças da infância no Chile e confessou que ter tido um pai jornalista “foi uma escola que me permitiu ter uma experiência interessantíssima em meios de comunicação”.
“Vivi praticamente dentro das salas de redação durante toda a minha infância. Conheci pessoas muito interessantes, em uma época em que se exercia um jornalismo livre no Chile. Era um país democrático, estava em uma transição interessante, de muita discussão.”, evoca.
- Você exerceu o jornalismo na Guatemala. Pensou alguma vez: “já não há mais jornalismo, isto não me leva por um bom caminho”? Sentiu tal impotência?
“Não, eu nasci jornalista. Não creio que possa deixar de ser jornalista, assim como não posso deixar de ter os olhos da cor que tenho. É impossível renegar uma vocação. Acho que para ser jornalista é preciso ter vocação, embora não seja indispensável, mas quando se tem, é impossível fazer outra coisa”.
- Quer ser jornalista mesmo quando recebe uma correspondência com ameaça de morte?
“Ainda assim. De fato isso aconteceu e continuo aqui, mas o caso é que quando a gente sente que tem uma missão a cumprir, embora seja arrogante dizer que se tem uma missão, não sei, mas pelo menos o que faço tem sentido para mim, e talvez para mais alguém.”
- Foi o que aconteceu em outubro de 2012, quando foi ameaçada, há dois anos…
“Sim, assim foi. Aquilo foi esquisito: acho que se sentiram vulneráveis em sua impunidade – um grupo de tráfico de crianças que, segundo entendi, de acord com as investigações, continua operando com muito poder na costa sul da Guatemala e alguém, pelo visto também com muito poder, os fez parar com as ameaças”.
- Tudo que aprendeu no jornalismo, pôde levar para a docência?
“Não”.
- Gostaria de tentar?
“Eventualmente sim, seria interessante, mas tenho estado tão concentrada em meu trabalho de edição que realmente não me sobra muito tempo. O fato de ser colunista também me ocupa bastante, pois não é só sentar e escrever, há todo o processo de pesquisa, de informação, de leitura”.
- Que lembranças tem do 11 de setembro de 1973?
“A lembrança é que tive que arrastar-me em meu apartamento, situado em frente a um ministério, onde havia gente encerrada, que não quis sair ou não conseguiu escapar antes do toque de queda. Diante do edifício onde eu morava atacavam as pessoas com morteiros e armas de alto poder.
“Foi um momento bastante crítico porque quando consegui sair com minha filha ainda pequena, tivemos que caminhar, cruzar Santiago do Chile a pé em meio a uma tensão terrível. Todo o mundo vagava buscando um refúgio diferente de sua casa. Era um medo pavoroso das invasões das forças armadas.
“Finalmente, saí pouco tempo depois do Chile, mas essa etapa foi crítica porque no ínterim fui me inteirando de que meus amigos estavam presos no estádio nacional, e muita gente sofreu muitos ataques.
“No Chile muita gente pertencia a partidos políticos de esquerda, centro e direita, o que era perfeitamente legítimo. De repente, no dia 11 de setembro de 1973, a militância foi declarada ilegal e os carabineros detinham as pessoas na rua, perguntavam se pertenciam a um partido político, e se mostravam o carnê do partido comunista, prendiam e torturavam, enviando-os a um lugar afastado da cidade. O choque psicológico, a ruptura emocional que isso causou na população foi precisamente um dos fatores que a debilitou profundamente”.
- Em determinada ocasião falei com uma chilena sobre história e me surpreendeu uma opinião dela. Disse que seu presidente era Augusto Pinochet. Por que você acha que disse isso?
“Eu a entendo, porque a intervenção dos Estados Unidos no Chile foi tão eficaz que causou essa ruptura antes do Golpe de Estado. Por exemplo, para uma dona de casa era impensável ter que fazer fila para comprar pão. Tinham financiado toda a cadeia de transporte. O país estava desabastecido, mas alguns empresários tinham as adegas cheias, e estavam acumulando e esperando o Golpe; e a população pagou as consequências. Muita gente, inclusive de esquerda, dizia: ‘ah não, isso tem que mudar, é preciso que venha alguém e nos salve deste caos porque não vamos poder sobreviver em um sistema como este'”.
- Foi por acaso, vir para a Guatemala?
“Cheguei mais ou menos por acaso. Vim por um organismo internacional em um momento crítico, em dezembro de 1973, e não saí de meu país devido ao Golpe de Estado, e sim porque já existia um contrato”.
- E pôde percorrer o país?
“Quando cheguei, vim com meu marido e minha filha. Nossa prioridade foi conhecer o país, e nos dedicamos a percorrê-lo”.
- Alguma imagem que a tenha impactado especialmente?
“Naquela época eu estava casada com um economista, que veio para cá precisamente para ver o desenvolvimento agrícola da região do altiplano, e uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi essa fratura, essa multiplicidade de divisões que fazia com que cada família tivesse um pedacinho que não era nem sequer suficiente para sobreviver, não era autossustentável, e menos ia ser no futuro, quando os filhos tivessem cinco famílias. Creio que esse diagnóstico, daquela época, foi o que aconteceu. Era impossível que subsistissem, e daí vem também a emigração”.
- Um dos acontecimentos difíceis que você teve que viver na Guatemala foi a queima e assalto à embaixada da Espanha. Trinta e quatro anos depois está havendo um processo. Qual é a sua leitura do tempo transcorrido para que de alguma maneira se possa fazer justiça?
“É a mesma coisa que com o caso por genocídio (contra os ex-militares Efraín Ríos Montt e José Rodríguez). Não importa o tempo transcorrido, as vítimas devem receber o tratamento e a justiça que merecem. Isso é o que sustenta um Estado democrático e de direito.
- Acredita que neste caso ocorra um desenlace semelhante ao do processo por genocídio, que se desenvolveu até o final, mas depois a Corte de Constitucionalidade anulou a sentença?
“Tudo depende do tribunal, de como se desenvolva o debate. Espero que chegue até o final e que haja uma condenação, porque todos sabemos que foi um massacre. Espero que seja um exemplo de boa administração de justiça. Hoje o país necessita de uma mensagem de que as coisas vão por um bom caminho”.
* Do correspondente de Prensa Latina na Guatemala para Diálogos do Sul – Tradução de Ana Corbisier