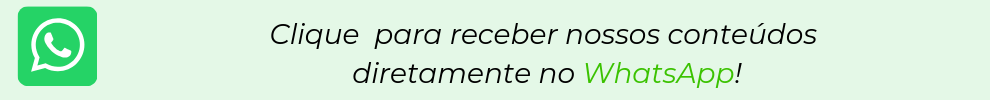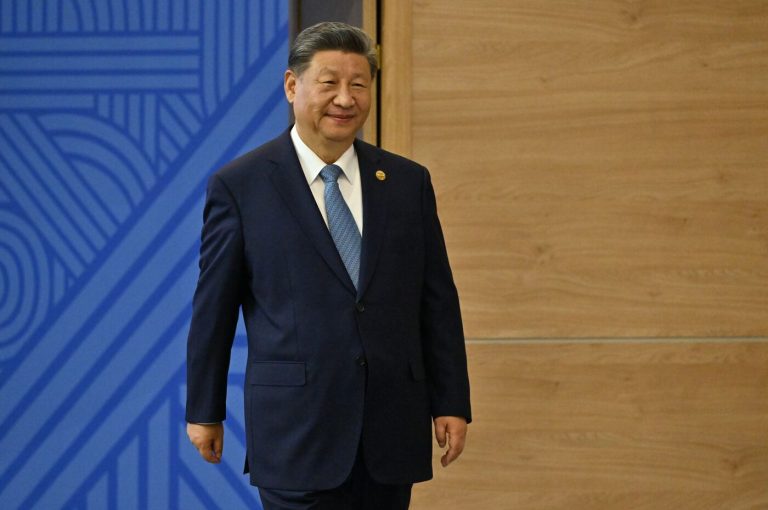Não há como não seguir a trilha da chamada “conspiração”, que culminou com a ruptura institucional e a mudança do governo brasileiro. E nossa hipótese preliminar é que a história desta conspiração começou na primeira década do século XXI, durante o “mandarinato” do vice-presidente americano, Dick Cheney, apesar de que ela tenha adquirido uma outra direção e velocidade a partir da posse de Donald Trump, e da formulação da sua nova “estratégia de segurança nacional”, em dezembro de 2017.
É comum falar de “teoria da conspiração”, toda vez que alguém revela ou denuncia práticas ou articulações políticas “irregulares”, ocultas do grande público e que só são conhecidas pelos insiders, ou pelas pessoas mais bem informadas. E quase sempre que se usa essa expressão é com o objetivo de desqualificar a denúncia que foi feita ou a própria pessoa que tornou público o que era para ficar escondido, na sombra ou no esquecimento da história. Mas de fato, em termos mais rigorosos, não existe nenhuma “teoria da conspiração”.
O que existem são “teorias do poder” e “conspiração” é apenas uma das práticas mais comuns e necessárias de quem participa da luta política diária pelo próprio poder. Essa distinção conceitual é muito importante para quem se proponha analisar a conjuntura política nacional ou internacional, sem receio de ser acusado de “conspiracionista”. Esse é um ponto de partida fundamental para a pesquisa que estamos nos propondo fazer sobre qual tenha sido o verdadeiro papel do governo norte-americano no Golpe de Estado de 2015/2016 e na eleição do capitão Bolsonaro, em 2018. Neste caso, não há como não seguir a trilha da chamada “conspiração”, que culminou com a ruptura institucional e a mudança do governo brasileiro. E nossa hipótese preliminar é que a história dessa conspiração começou na primeira década do século XXI – durante o “mandarinato” do vice-presidente americano, Dick Cheney -, apesar de ela ter adquirido uma outra direção e velocidade a partir da posse de Donald Trump e da formulação da sua nova “estratégia de segurança nacional”, em dezembro de 2017.
No início houve surpresa, mas hoje todos já entenderam que essa nova estratégia abandonou os antigos parâmetros ideológicos e morais da política externa dos Estados Unidos – de defesa da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento econômico -, e assumiu, de forma explícita, o projeto de construção de um império militar global, com a fragmentação e multiplicação dos conflitos e a utilização de várias formas de intervenção externa nos países que se transformam em alvos dos norte-americanos. Seja através da manipulação inconsciente dos eleitores e da vontade política dessas sociedades; seja através de novas formas “constitucionais” de golpes de Estado; seja através de sanções econômicas cada vez mais extensas e letais, capazes de paralisar e destruir a economia nacional dos países atingidos; seja, finalmente, através das chamadas “guerras híbridas” que visam destruir a vontade política do adversário, utilizando-se da informação mais do que da força, das sanções mais do que dos bombardeios e da desmoralização intelectual dos opositores mais do que da tortura.
Desse ponto de vista é interessante acompanhar e evolução dessas propostas nos próprios documentos americanos, nos quais são definidos os objetivos estratégicos do país e as suas principais formas de ação. Assim, por exemplo, no “Manual de Treinamento das Forças Especiais Americanas Preparadas para Guerras Não-Convencionais”, publicado pelo Pentágono em 2010, já está dito explicitamente que “o objetivo dos EUA nesse tipo de guerra é explorar as vulnerabilidades políticas, militares, econômicas e psicológicas de potências hostis, desenvolvendo e apoiando forças internas de resistência para atingir os objetivos estratégicos dos Estados Unidos.”
Com o reconhecimento de que “em um futuro não muito distante, as forças dos EUA se engajarão predominantemente em operações de guerra irregulares”. Uma orientação que foi explicitada, de maneira ainda mais clara, no documento no qual se define, pela primeira vez, a nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA do governo de Donald Trump, em dezembro de 2017. Ali se pode ler, com todas as letras, que o “combate à corrupção” deve ter lugar central na desestabilização dos governos dos países que sejam “competidores” ou “inimigos” dos Estados Unidos. Uma proposta que foi detalhada no novo documento sobre a Estratégia de Defesa Nacional dos EUA, publicado em 2018, em que se pode ler “uma nova modalidade de conflito não armado tem tido presença cada vez mais intensa no cenário internacional, com o uso de práticas econômicas predatórias, rebeliões sociais, cyber-ataques, fake news, métodos anticorrupção”.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Justiça, Sergio Moro
É importante destacar que nenhum desses documentos deixa a menor dúvida de que todas essas novas formas de “guerra não convencional” devem ser utilizadas – prioritariamente – contra os Estados e as empresas que desafiem ou ameacem os objetivos estratégicos dos EUA.
Agora neste ponto da nossa pesquisa cabe formular a pergunta fundamental: quando foi – na história recente – que o Brasil entrou no radar dessas novas normas de segurança e defesa dos EUA? E aqui não há dúvida de que cabem muitos fatos e decisões que foram tomadas pelo Brasil, sobretudo depois de 2003, como foi o caso da sua política externa soberana, da sua liderança autônoma do processo de integração sul-americano, ou mesmo, da participação no bloco econômico do BRICS, liderado pela China. Mas, não há a menor dúvida de que a descoberta das reservas de petróleo do pré-sal, em 2006, foi o momento decisivo em que o Brasil mudou de posição na agenda geopolítica dos Estados Unidos.
Basta ler o Blueprint for a Secure Energy Future, publicado em 2011 pelo governo de Barack Obama, para ver que naquele momento o Brasil já ocupava posição de destaque em 3 das 7 prioridades estratégicas da política energética norte-americana: (i) como uma fonte de experiência para a produção de biocombustíveis; (ii) como um parceiro fundamental para a exploração e produção de petróleo em águas profundas; e (iii) como um território estratégico para a prospecção de Atlântico Sul.
A partir daí, não é difícil de rastrear e conectar alguns acontecimentos, sobretudo a partir do momento em que o governo brasileiro promulgou, em 2003, sua nova política de proteção aos produtores nacionais de equipamentos, com relação aos antigos fornecedores estrangeiros da Petrobras, como era o caso, por exemplo, da empresa norte-americana Halliburton, a maior empresa mundial em serviços em campos de petróleo e uma das principais fornecedores internacionais das sondas e plataformas marítimas e que havia sido dirigida, até os anos 2000, pelo mesmo Dick Cheney que viria a ser o vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos, entre 2001 e 2009.
A Odebrecht, a OAS e outras grandes empresas brasileiras entram nessa história, a partir de 2003, exatamente no lugar dessas grandes fornecedoras internacionais que perderam seu lugar no mercado brasileiro. Cabendo lembrar aqui o início da complexa negociação entre a Halliburton e a Petrobrás, em torno à compra e entrega das plataformas P 43 e P 48, envolvendo 2,5 bilhões de dólares, começou na gestão de Dick Cheney e se estendeu até 2003/4, com a participação do gerente de serviços da Petrobrás, na época, Pedro José Barusco, que depois se transformaria no primeiro delator conhecido da Operação Lava-Jato.
Nesse ponto, aliás, seria sempre muito bom lembrar a famosa tese de Fernand Braudel, o maior historiador econômico do século XX, de que “o capitalismo é o antimercado”, ou seja, um sistema econômico que acumula riqueza através da conquista e preservação de monopólios, utilizando-se de todo e qualquer meio que esteja ao seu alcance. Ou ainda, traduzindo em miúdos o argumento de Braudel: o capitalismo não é uma organização ética nem religiosa e não tem nenhum compromisso com qualquer tipo de moral privada ou pública que não seja a da multiplicação dos lucros e a da expansão contínua dos seus mercados. E isso é que se pode observar, mais do que em qualquer outro lugar no mundo selvagem da indústria mundial do petróleo, desde o início de sua exploração comercial do petróleo, desde a descoberta do seu primeiro poço pelo “coronel” E. L. Drake, na Pensilvânia, em 1859.
Agora voltando ao eixo central da nossa pesquisa e do nosso argumento é bom lembrar que Dick Cheney – que vinha do mundo do petróleo e teve papel decisivo como vice-presidente de George W. Bush -, foi quem concebeu e iniciou a chamada “guerra ao terrorismo”, conseguindo o consentimento do Congresso Americano para iniciar novas guerras, mesmo sem aprovação prévia do parlamento. E, o que é mais importante, para nossos efeitos, conseguiu aprovar o direito de acesso a todas as operações financeiras do sistema bancário mundial, praticamente sem restrições, incluindo o velho segredo bancário suíço e o sistema e pagamento europeus, o SWIFT.
Por isso, aliás, não é absurdo pensar que tenha sido por esse caminho que o Departamento de Justiça norte-americano tenha tido acesso às informações financeiras que depois foram repassadas às autoridades locais dos países que os Estados Unidos se propuseram a desestabilizar com campanhas seletivas “contra a corrupção”. No caso brasileiro, pelo menos, foi depois desses acontecimentos que ocorreu o assalto e o furto de informações geológicas sigilosas e estratégicas da Petrobras, no ano de 2008, exatamente dois anos depois da descoberta das reservas petrolíferas do pré-sal brasileiro, no mesmo ano em que os EUA reativaram sua IV Frota Naval de monitoramento do Atlântico Sul. E foi no ano seguinte, em 2009, que começou o intercâmbio entre o Departamento de Justiça dos EUA e integrantes do Judiciário, do MP e da PF brasileira para tratar de temas ligados à lavagem de dinheiro e “combate à corrupção”, num encontro que resultou na iniciativa de cooperação denominada Bridge Project, da qual participou o então juiz Sergio Moro.
Mais à frente, em 2010, a Chevron negociou sigilosamente, com um dos candidatos à eleição presidencial brasileira, mudanças no marco regulatório do pré-sal, numa “conspiração” que veio à tona com os vazamentos da Wikileaks e que acabou se transformando num projeto apresentado e aprovado pelo Senado brasileiro. E três anos depois, em 2013, soube-se que a presidência da República, ministros de Estado e dirigentes da Petrobras vinham sendo alvo, há muito tempo, de grampo e espionagem, como revelaram as denúncias de Edward Snowden. No mesmo ano em que a embaixadora dos EUA que acompanhou o golpe de Estado do Paraguai contra o presidente Fernando Lugo foi deslocada para a embaixada do Brasil. E foi exatamente depois dessa mudança diplomática, no ano de 2014, que começou a Operação Lava Jato, que tomou a instigante decisão de investigar as propinas pagas aos diretores da Petrobrás, exatamente a partir de 2003, deixando fora portanto os antigos fornecedores internacionais, no momento exato em que concluíam as negociações da empresa com a Halliburton, em torno da entrega das plataformas P43 e P48.
Se todos estes dados estiverem corretamente conectados e nossa hipótese for verossímil, não é de estranhar que depois de cinco anos do início da “Operação Lava-Jato”, os vazamentos divulgados pelo site The Intercept Brasil, dando notícias da parcialidade dos procuradores e do principal juiz envolvido nessa operação, tenham provocado uma reação repentina e extemporânea dos principais acusados dessa história que se homiziaram, praticamente, nos Estados Unidos.
 Arte: Daniel Kondo
Arte: Daniel Kondo
Provavelmente, em busca das instruções e informações que lhe permitissem sair das cordas e voltar a fazer com seus novos acusadores o que sempre fizeram no passado, utilizando-se de informações repassadas para destruir seus adversários políticos. Entretanto, o pânico do ex-juiz e seu despreparo para enfrentar a nova situação fizeram-no comportar-se de forma atabalhoada, pedindo licença ministerial e viajando uma segunda vez para os Estados Unidos e com isso tornou público o seu lugar na cadeia de comando de uma operação que tudo indica que possa ter sido a única operação de intervenção internacional bem-sucedida – até agora – da dupla John Bolton e Mike Pompeu, os dois “homens-bomba” que comandam a política externa do governo de Donald Trump. Uma operação tutelada pelos norte-americanos e avalizada pelos militares brasileiros.
Por isso, se nossa hipótese estiver correta, não há a menor possibilidade de que as pessoas envolvidas nesse escândalo sejam denunciadas e julgadas com imparcialidade porque todos os envolvidos sempre tiveram pleno conhecimento e sempre aprovaram as práticas ilegais do ex-juiz e de seu “procurador-assistente”, práticas que foram decisivas para a instalação do capitão Bolsonaro na Presidência da República. O único que lhes incomoda neste momento é o fato de que sua “conspiração” tenha se tornado pública e que todos tenham entendido quem é o verdadeiro poder que está por trás dos chamados “Beatos de Curitiba”.
*José Luís Fiori é Professor titular do Programa de Pós-graduação em Economia Política Internacional (IE/UFRJ); pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (INEEP); e William Nozaki é Professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (INEEP).
Veja também