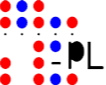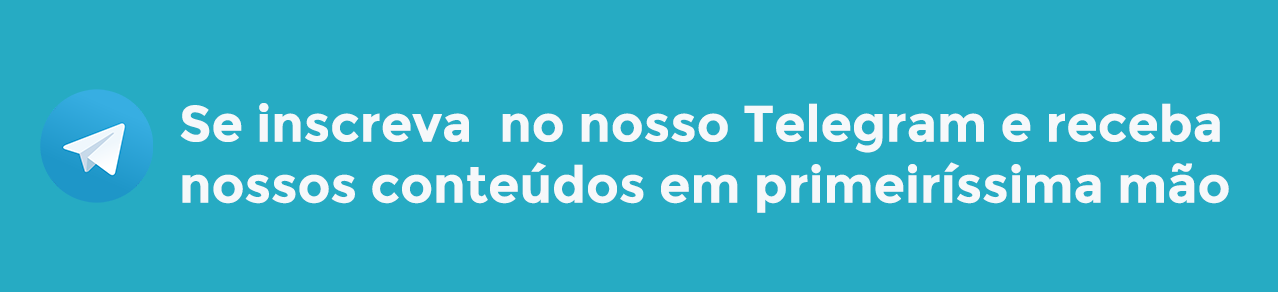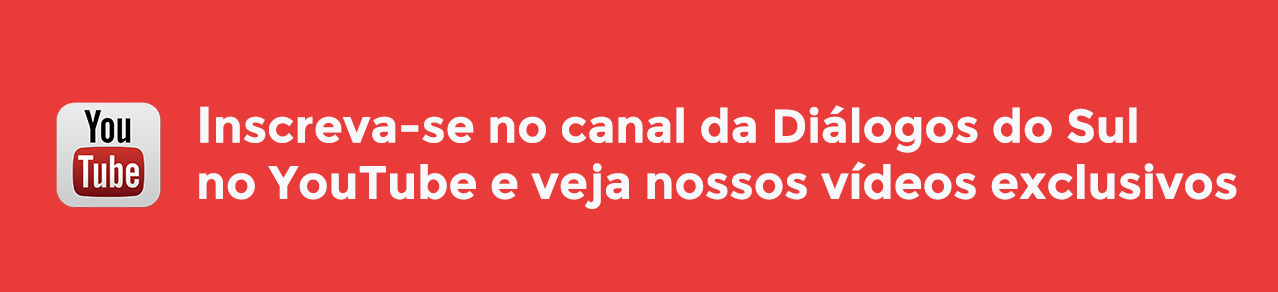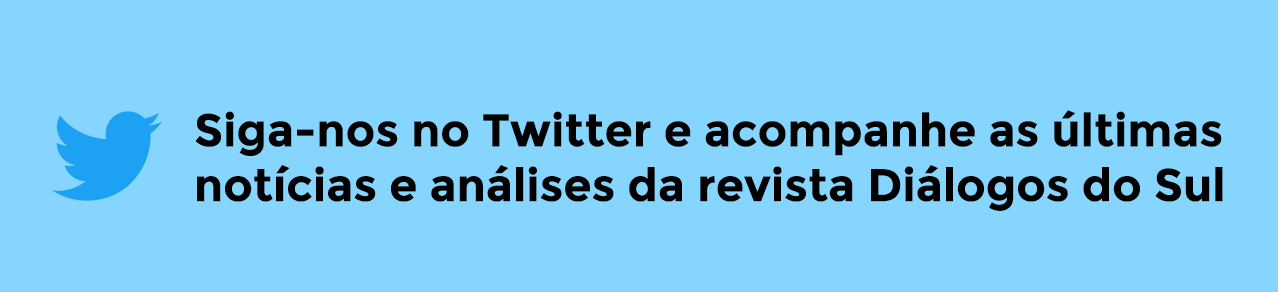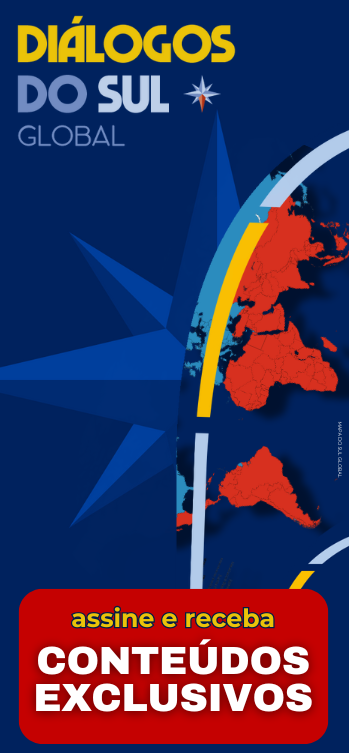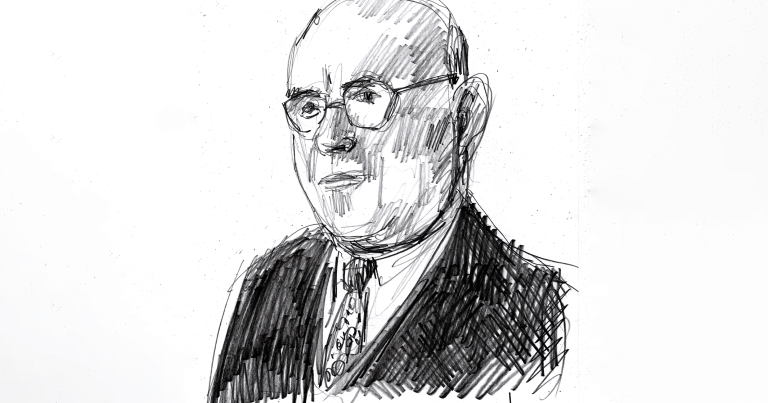Conteúdo da página
ToggleEsta publicação é parte de uma série de três artigos. Leia também:
– O Socialismo é a única saída, mas como? | Pt 1: Olhar o passado para construir o futuro
– O Socialismo é a única saída, mas como? | Pt 3: Movimentos sociais X revoluções coloridas
* * *
Hoje, visto o enorme poder dos atuais capitais, as formas de luta talvez já não possam ser as utilizadas décadas atrás. Que fazer então? É aí que emerge a reflexão sobre aquilo que nos motiva: qual é o instrumento de mudança hoje?
Toda esta primeira consideração talvez não acrescente nada novo, mas nos situa no ponto de partida para tentar saber por onde temos que ir. Em outros termos, a pergunta continua sendo a mesma que fazia Lenin há mais de um século, em 1902: que fazer?
Assista na TV Diálogos do Sul
É mais fácil dizer o que não fazer do que propor questões concretas, do que indicar com clareza “o que fazer?” Em outras palavras: é mais fácil destruir do que construir. Mas sabido isso, e assumindo que não nos é nada fácil marcar um caminho seguro (pelo contrario, é tremendamente difícil!) optamos por adotar esta metodologia: digamos, pelo menos em princípio, por onde não devemos ir. Isso já limita um pouco o panorama, e nos diz o que não temos que fazer. O que seguramente poderá nos ajudar a ir delineando o que sim, queremos, e o que concretamente podemos fazer.

Foto: Abenteuer Albanien/Unsplash
A contradição fundamental do sistema continua sendo o choque irreconciliável das classes em confronto: trabalhadores e capitalistas.
Sabemos que hoje não é pertinente:
1- Impulsionar a luta armada. Pelo menos, não neste momento. As condições nacionais de todos os países e internacionais tornam impossível levantar esta proposta atualmente. O movimento armado zapatista no México conseguiu muito em suas “zonas liberadas”, mas o capital global o deixou ali, encerrado em um espaço limitado; não funciona como modelo seguro para replicar.
O esgotamento da opção armada, a resposta absolutamente desmedida de que foi objeto por parte do Estado burguês em sua estratégia contrainsurgente, o descrédito e o medo que deixaram estas lutas no grosso das populações tornam impossível, na atual conjuntura, voltar a propor esta opção, ou aprofundá-la com possibilidade de êxito nos territórios onde ainda permanece ativa (grupos na Colômbia, Índia, Indonésia, Filipinas, Mali, Etiópia).
A questão técnica, isto é: a enorme diferença de poder que se estabeleceu entre as forças regulares de qualquer Estado e as forças insurgentes, sem minimizá-las absolutamente, não é necessariamente o principal obstáculo para propor esta saída. Os ideais, está provado, podem ser mais efetivos que o mais impressionante dispositivo técnico, que as mais poderosas forças armadas. A arma mais importante, levando as coisas ao extremo, é a ideologia (daí a importância vital de desenvolver a luta ideológica como parte de uma estratégia revolucionária).
Assista na TV Diálogos do Sul
De todo modo, chegado o momento, essa diferença de potencial bélico hoje é tão grande que seria necessário propor novas formas de luta. Sem cair em romantismos de vitória, devemos ter claro que hoje o sistema global se armou de tal maneira que só pode ser destruído com mísseis nucleares. E, claro, este não é o caminho, porque assim nos destruímos todos como humanidade. Portanto, será necessário inventar outros novos.
Por exemplo: podemos chegar a adotar seriamente como uma opção que desestabilize o sistema uma “guerrilha informática”, os hackers? Talvez isso não sirva como proposta de transformação, e deva pensar-se em outras opções, como guerra popular prolongada com uma vanguarda armada. Mas, é possível hoje enfrentar drones, inteligência artificial, satélites geoestacionários, armas químicas, bacteriológicas e nucleares de poder desmedido com alguns fuzis de assalto? Pode dispor o campo popular, ou alguma organização de esquerda, de todo esse potencial?
Certo é que hoje, dada a história recente, a luta armada não é vista como uma via possível. O custo pago foi demasiadamente alto. Depois de tantos milhares e milhares de mortos, foi pouco o que se conseguiu, e seria preciso pensar muito se este caminho vale a pena novamente. Os movimentos armados de décadas atrás, em numerosos países se transformaram em partidos políticos no quadro da institucionalidade capitalista. O resultado nunca foi uma revolução socialista. Isto não significa negar a possibilidade da luta armada. Mas é preciso situá-la corretamente, e hoje não parece haver muito espaço para ela.
2- Participar como partido político buscando a presidência em eleições gerais. Sem descartar completamente a opção da via eleitoral, a proposta revolucionária não passa por ocupar a administração do Estado capitalista.
A experiência mundial demonstrou uma infinidade de vezes – em geral de maneira trágica – que tomar o governo não é, de modo algum, tomar o poder. Os fatores de poder podem admitir, no máximo, que um governo com verniz social-democrata realize algumas mudanças não substanciais na estrutura. Mudanças cosméticas, que não afetam em profundidade as reais relações de força; se se quer ir mais longe, ao não contar com todo o poder real (as forças armadas, o aparelho de Estado em seu conjunto, ou em todo caso a mobilização popular efetiva que representa um movimento de massas sendo quem na verdade insufla a energia transformadora), ao não ter se produzido uma mudança nas correlações de forças reais na sociedade, as possibilidades de mudança efetiva são nulas a partir do aparelho de Estado. Mudar algo superficial para que nada mude na base é puro gatopardismo. Talvez possa ser útil, só como um momento da luta revolucionária, optar por ocupar poderes locais (prefeituras, por exemplo) ou alguns lugares no Poder Legislativo, para fazer oposição, para organizar, para constituir uma referência alternativa. Mas em todo caso não se pode esquecer nunca que estas instâncias da institucionalidade capitalista são muito limitadas: não foram feitas para a democracia genuina, de base, revolucionária. São, afinal, instrumentos de dominação de classe, por isso não podemos ter o objetivo de trabalhar nelas com a “ingenuidade” de acreditar poder transformar algo com instrumentos destinados a não mudar nada.
A democracia burguesa no máximo pode mudar a administração da vez, não mais. E, chegado o momento, até podem permitir-se mudanças “politicamente corretas”, apresentadas como grandes transformações (mulheres ocupando cargos na estrutura de governos burgueses, inclusive presidentas, ou um primeiro mandatário afrodescendente como o ex presidente dos Estados Unidos que, obviamente, não modificou o visceral racismo supremacista branco deste país); mudanças, todos elas, que não passam de uma maquillage superficial, que não questionam nada de fundo.
Por onde ir então?
Dado que estas são ideias preliminares e não se pretende ou, sendo honestos, não se está em condições com este simples texto, de deixar estabelecido um claro e detalhado programa de ação com metas a longo prazo e tarefas específicas, podemos nos permitir uma espécie de chuva de ideias para tentar ir traçando uma rota possível.
Poderia indicar-se um mapa do que, sim, é pertinente:
1- Atitude autocrítica. É necessário, antes de mais nada, ter uma atitude autocrítica com relação a nossa ação, a nossa história como esquerda. A atual situação – bastante caótica – de todo o campo popular e das forças de esquerda em nível mundial não permite ver um triunfo revolucionário próximo; muito pelo contrário, evidencia um panorama preocupante, para não dizer desolador.
Embora a estrutura das sociedades não tenha mudado nada depois dos anos da Guerra Fria e das terrivelmente quentes guerras que sofreram os territórios onde se mediam por delegação as superpotências (algo assim como o que está acontecendo agora na Ucrânia), o ideário socialista parecia estar neste momento “em retirada” – ou bastante recuado pelo menos. Isso, sem dúvida, deve-se basicamente ao ataque furioso, sem piedade e sem quartel realizado pela direita nestes últimos anos.
Além da ofensiva militar (com mortos a granel para defender o sistema, supostamente: “a democracia e a liberdade”), os planos chamados neoliberais (eufemismo para dizer capitalismo selvagem sem anestesia) desarmaram muito a organização popular e golpearam muito duramente a esquerda.
O atual estado de silêncio revolucionário – valha o neologismo – deve-se fundamentalmente a este avanço. Mas o recuo que agora se vive pode/ deve ser uma oportunidade para perguntar-nos autocriticamente o que podemos ter estado fazendo errado, ou de que flanco descuidamos para ter sofrido esta derrota.
Se se quiser dizer de outro modo: enquanto pensamos na reorganização para a luta, temos a extraordinária ocasião de rever autocriticamente muitas de nossas ações passadas no amplo espectro das esquerdas. De pronto, é hora de repensar sem preconceitos coisas que algumas décadas atrás podíamos dar quase por verdades acabadas, ou que não entravam no campo da reflexão, por serem consideradas “intranscendentes”.
Aí cabe, por exemplo, a cultura patriarcal-autoritária que continua nos modelando (todo o mundo, além dos gêneros a que consideramos pertencer), da que derivam condutas que devemos rever. O eterno fragmentar-se da esquerda pode ter a ver com lutas por poder? O machismo, as práticas racistas, o adultocentrismo, o vanguardismo, são todas condutas que marcaram (continuam marcando?) a esquerda, e que é necessário desemascarar. A burocracia, o facilismo, o oportunismo, o culto à personalidade e o caciquismo marcaram muitos processos no campo popular, gerando um clima que a direita aproveita para criticar e desautorizar.
Se nos descobrimos com todas essas características, a tarefa urgente é, no mínimo, aceitá-las e não negá-las. E na sequência, buscar alternativas. Só com genuina atitude autocrítica podem ser construidas reais alternativas de mudança; só revendo os erros do passado pode-se olhar produtivamente o futuro.
2- Longo prazo (visão estratégica) e não só conjuntura. Se pensamos seriamente na transformação revolucionária da sociedade (a nacional ou a global?), a iniciativa tem que ser de longo fôlego.
Ainda que para muitas esquerdas, isso que se chama “trotskismo” possa ser questionável, e ainda correndo o risco de sermos considerados “heréticos” por esta ortodoxia autoritária mal entendida que dizíamos deve ser submetida a crítica, talvez seja preciso pensar o processo de “revolução permanente”, tal como pedia o revolucionário russo Leon Trotsky. Nesse sentido, a transformação que nos propomos não pode ser concebida, nem se esgota, em termos de ações conjunturais. Daí que a estratégia eleitoral, tal como se disse mais acima, não pode ser nem remotamente o fio condutor desta reflexão. Deve pensar-se em uma iniciativa de acumulação de forças, portanto, com uma estrutura permanente, sólida, durável.
O que é conjuntural, sem dúvida, poderá ocupar um lugar importante, na medida em que obriga a dar respostas concretas e pontuais, imprescindíveis seguramente na estratéia de acumulação de forças. Mas de nenhum modo será possível pôr todos os esforços na resposta reativa a situações emergentes. Se a meta é a transformação revolucionária da estrutura social, o que é conjuntural é apenas um momento desta luta. Cada ação pontual deverá ser pensada em função deste projeto estratégico.
3- Luta de classes no centro do processo. Se nos situamos como consequentes marxistas revolucionários, o centro de todo nosso atuar será dado pela luta de classes como verdadeiro motor da história e das relações na sociedade. Isso não explica tudo, claro (há também uma infinidade de variáveis subjetivas em jogo, e outro interjogo de micropoderes em ação: as outras contradições que apontávamos: iniquidade de gênero, discriminação étnica e sexual, catástrofe ambiental fruto da produção febril do capital, monopólios, imperialismo, circuitos financeiros que terminam manejando o globo terrestre, narcoatividade como um campo que obtem crescente poder), mas a dinâmica que dá conta de como as sociedades se estruturam passa pelo lugar que se ocupa em relação aos meios de produção, do que decorre o caráter de possuidor (explorador) ou despossuido (explorado).
A partir desta arquitetura elementar, desta contradição primeira e fundamental, é que podemos nos propor outras contradições complementares, que se retroalimentam entre si (o racismo, por exemplo, é uma justificativa para a exploração econômica). Desta maneira devem entrar na análise as contradições de gênero, as étnicas, o tema do meio ambiente, como elementos de similar transcendência que se entrelaçam e interagem com a contradição de classe.
Nesse sentido vale mostrar com um exemplo concreto a que nos referimos: hoje, em muitos países latino-americanos são uma fonte de mobilização muito importante todos aqueles movimentos que se opõem ao auge da indústria extrativista predatória, associada ao capital transnacional e que agem com o beneplácito do Estado nacional. Talvez sem uma proposta classista, revolucionária em sentido estrito (pelo menos como foi concebida pelo marxismo clássico), estes movimentos constituem uma clara afronta aos interesses do grande capital transnacional e aos setores hegemônicos locais.
Nesse sentido, funcionam como uma alternativa, uma chama que continua viva, que arde, e que eventualmente pode crescer e acender mais chamas. De fato, no informe “Tendências Globais 2020- Cartografia do futuro global”, do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, dedicado a estudar os cenários futuros de ameaça à segurança nacional deste país, pode-se ler:
“No começo do século XXI, há grupos indígenas radicais na maioria dos países latino-americanos, que em 2020 poderão ter crescido exponencialmente e obtido a adesão da maioria dos povos indígenas (…) Esses grupos poderão estabelecer relações com grupos terroristas internacionais e grupos antiglobalização (…) que poderão pôr em questão as políticas econômicas das lideranças latino-americanas de origem europeia. (…) As tensões se manifestarão em uma área desde o México pela região do Amazonas”.
Para enfrentar esta suposta ameaça que afetaria a governabilidade da região pondo em risco a hegemonia continental de Washington e questionando assim seus interesses, o governo estadunidense tem já estabelecida a correspondente estratégia contrainsurgente, a “Guerra de Rede Social” (guerra de quarta geração, guerra midiático-psicológica onde o inimigo não é um exército combatente e sim a totalidade da população civil), tal como décadas atrás o fez contra a Teologia da Libertação e os movimentos insurgentes que se expandiram por toda a Ámérica Latina.
Hoje, como diz o português Boaventura Sousa Santos referindo-se ao caso colombiano em particular e latino-americano em geral, “a verdadeira ameaça não são as FARC. São as forças progressistas e, em especial, os movimentos indígenas e camponeses. A maior ameaça [para a estratégia hegemônica dos Estados Unidos, para o capitalismo como sistema] provem daqueles que invocam direitos ancestrais sobre os territórios onde se encontram estes recursos [biodiversidade, água doce, petróleo, riquezas minerais estratégicas], ou seja, dos povos indígenas”.
A contradição fundamental do sistema continua sendo o choque irreconciliável das classes em confronto, trabalhadores e capitalistas. Esta contradição – que não terminou, que continua sendo o motor da história, além das outras contradições sem dúvida muito importantes que mencionamos: assimetrias de gênero, discriminação étnica, adultocentrismo, homofobia etc. – põe como atores principais do cenário revolucionário os trabalhadores, em qualquer de suas formas: proletariado industrial urbano, proletariado agrícola, trabalhadores classe média da esfera dos serviços, intelectuais, pessoal qualificado e gerencial da iniciativa privada, subocupados e desocupados vários (que são, basicamente, trabalhadores em situação de não-trabalho), camponeses sem terra.
Certo é que, com a derrota histórica deste round da longa luta do campo popular, e com o retrocesso que, como trabalhadores, sofremos em nível mundial com o capitalismo selvagem destes anos (precarização das condições gerais de trabalho, perda de conquistas históricas, retrocesso na organização sindical, terceirização etc. etc.), os trabalhadores estamos desorganizados, talvez desmoralizados, sem uma proposta classista clara que mobilize. (Daí que as ONGs serviram às potências para continuar dividindo o protesto social).
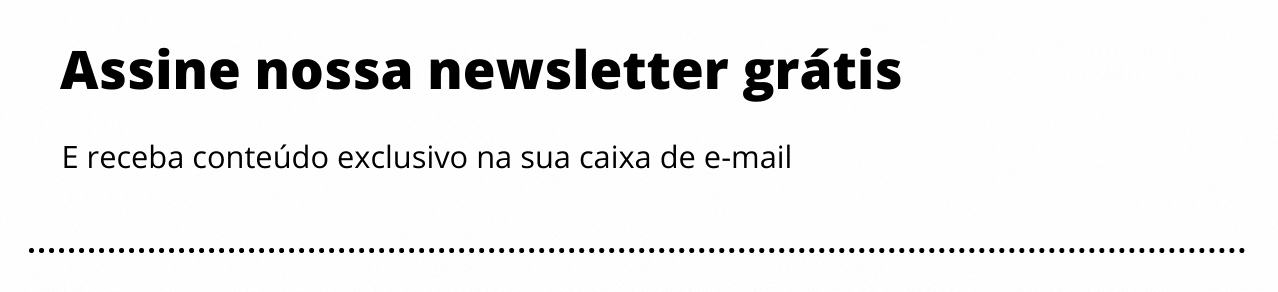 Por isso não se vê a luta de classes como o fogo que atiça as reivindicações atuais; pelo contrário, dada a forma que adquiriu o capitalismo atual, ter um posto de trabalho já pode ser considerado um luxo que deve ser preservado. Nesse sentido, estes movimentos camponeses- indígenas que reivindicam seus territórios são uma fonte de vitalidade revolucionária sumamente importante. A potencialidade deste descontentamento que em diversos países da região latino-americana se expressa em toda a mobilização popular anti-indústria extrativista (mineração a céu aberto, hidrelétricas, monocultivos para a agroexportação) pode mostrar um caminho. A questão não é chegar a estes movimentos para “indicar-lhes por onde ir” e sim caminhar junto com eles.
Por isso não se vê a luta de classes como o fogo que atiça as reivindicações atuais; pelo contrário, dada a forma que adquiriu o capitalismo atual, ter um posto de trabalho já pode ser considerado um luxo que deve ser preservado. Nesse sentido, estes movimentos camponeses- indígenas que reivindicam seus territórios são uma fonte de vitalidade revolucionária sumamente importante. A potencialidade deste descontentamento que em diversos países da região latino-americana se expressa em toda a mobilização popular anti-indústria extrativista (mineração a céu aberto, hidrelétricas, monocultivos para a agroexportação) pode mostrar um caminho. A questão não é chegar a estes movimentos para “indicar-lhes por onde ir” e sim caminhar junto com eles.
Somando-se a isso, e para mostrar que o ponto central de toda a ação revolucionária continua sendo a luta de classes, não se pode perder de vista a chama acesa que pode significar a “Declaração de Quito” com a qual encerrou-se o encontro continental “500 Anos de Resistência Indígena”, que aconteceu em julho de 1990, absolutamente válida hoje, preparatória da contra-cúpula de celebrações realizadas em função do “encontro” (ou choque?) de dois mundos em 1492:
“Os povos indígenas, além de nossos problemas específicos, temos problemas em comum com outras classes e setores populares tais como a pobreza, a marginalização, a discriminação, a opressão e a exploração, tudo isso fruto do domínio neocolonial do imperialismo e das classes dominantes de cada país”. (Segue)
Marcelo Colussi | Catedrático universitário, politólogo e articulista argentino.
(Tomado de Firmas Selectas)
Tradução: Ana Corbisier
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Assista na TV Diálogos do Sul
Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.
A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.
Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:
-
PIX CNPJ: 58.726.829/0001-56
- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui
- Boleto: acesse aqui
- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui
- Transferência bancária
Nova Sociedade
Banco Itaú
Agência – 0713
Conta Corrente – 24192-5
CNPJ: 58726829/0001-56 - Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br
- Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui
- Acompanhe nossas redes sociais:
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram