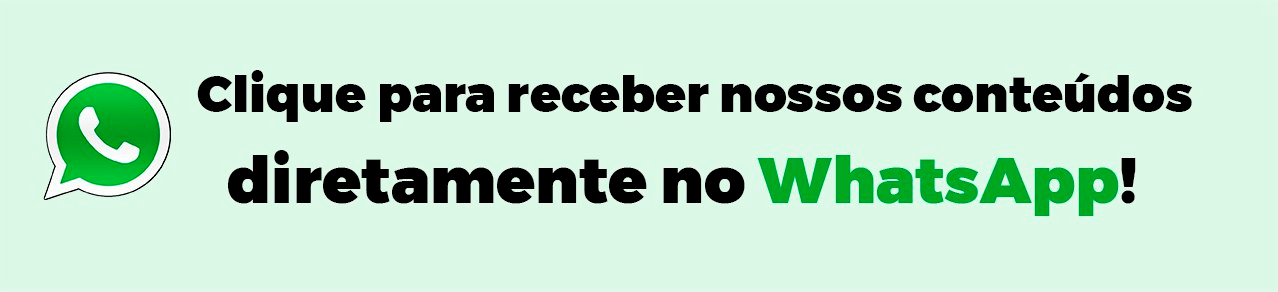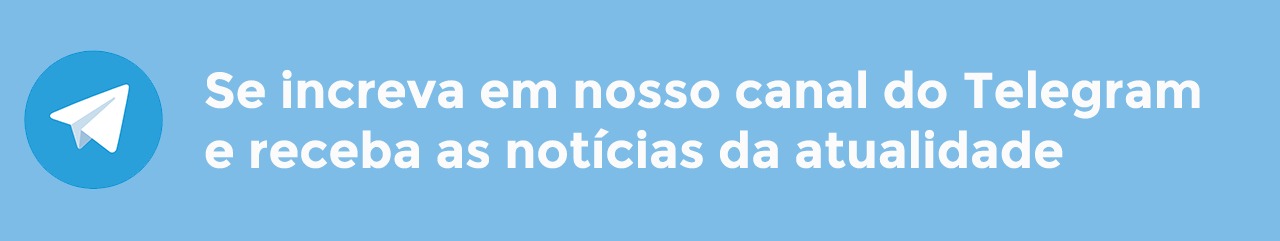A chave para compreender a resposta de segurança da China aos EUA, rápida e certeira, está ligada a duas palavras que não aparecem nos documentos formais de política dos EUA, mas cuja presença silenciosa, mesmo assim, permeia e colore o texto da Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2022 (ing. 2022 National Defence Authorisation Act, NDAA)
O termo ‘contenção’ nunca aparece; tampouco aparece a palavra ‘cerco’. No entanto, como o professor Michael Klare escreve, a Lei
“fornece um plano detalhado para cercar a China com uma rede potencialmente sufocante de bases norte-americanas, forças militares e estados parceiros cada vez mais militarizados. O objetivo é permitir que Washington bloqueie os militares chineses dentro de seu próprio território; e potencialmente paralise a economia chinesa, em qualquer crise futura”.
Até agora, faltava à colcha de retalhos anterior das medidas dos EUA sobre a China algum plano abrangente para conter a ascensão da China e, assim, para garantir a supremacia permanente dos EUA na região do Indo-Pacífico:
“Os autores da Lei NDAA deste ano”, no entanto, “estavam notavelmente focados nessa deficiência, e várias disposições do projeto são projetadas para fornecer exatamente esse plano mestre”.
Entre aquelas disposições há várias medidas destinadas a incorporar Taiwan ao sistema de defesa dos EUA que visa a cercar a China. E a exigência de que se elabore “grande estratégia” abrangente, para conter a China “em todas as frentes”.
Uma medida ‘ao estilo do Congresso’ que há na Lei NDAA de 2022 fornece orientação abrangente sobre essas iniciativas díspares, estipulando uma cadeia ininterrupta de ‘estados sentinelas’ armados pelos EUA – que se estende do Japão e da Coréia do Sul no norte do Pacífico até Austrália, Filipinas, Tailândia e Cingapura no sul, e até a Índia no flanco leste da China – destinada a cercar e conter a República Popular. Bastante sinistramente, Taiwan também está incluída na rede projetada anti-China.
Nesse sentido, a medida defende uma coordenação militar mais estreita entre os ‘dois países’ e a venda de sistemas de armas cada vez mais sofisticados para Taiwan, juntamente com a tecnologia para fabricar alguns deles.
“E aqui está a nova realidade dos anos Biden”, escreve Klare: “[Taiwan] está agora sendo convertido em ‘estado’ aliado militar de fato dos EUA. Dificilmente poderia haver ataque mais direto aos interesses fundamentais declarados da China: a imposição de que, mais cedo ou mais tarde, a ilha concorde com se unir pacificamente ao continente; ou enfrentará ação militar”.
Nada há de novo, até aí. A noção de que a China deva ser ‘contida’ remonta ao ‘pivô’ de Obama para a Ásia (e a momento ainda anterior). Mas foi durante o governo Trump que o pretexto de Taiwan começou a ser seriamente intensificado. Pompeo subiu a aposta, ao aprovar visitas de altos funcionários dos EUA a Taipei.
De diferente, sim, agora, é que o governo Biden não apenas não reverteu as políticas de Trump-Pompeo, como também, além delas, abraçou a agenda de Pompeo pró cerco, e abraçou-a com fúria.
É o que se vê sublinhado numa disposição na Lei, que determina que deixe de ser válido o acordo dos EUA de 1982, que visava a reduzir a qualidade e quantidade de transferências de armas, dos EUA para Taiwan, dado o “comportamento cada vez mais coercitivo e agressivo” da China em relação à ilha.
O ponto aqui é que, para todos os efeitos, ‘cerco’ e ‘contenção’ tornaram-se a política externa padrão de Biden. A tentativa de cimentar essa meta doutrina está sendo operada ‘via a Rússia’ (como o passo inicial). A adesão essencial da Europa faz as vezes de item ‘cenográfico’ decisivo, para operar a contenção física e o cerco da Rússia.

The White House/Wikimedia Commons
Para todos os efeitos, ‘cerco’ e ‘contenção’ tornaram-se a política externa padrão de Biden
A UE está sob intensa pressão de Washington para se comprometer com sanções – o ‘modo’ financeiro de cerco –, ao tempo em que as autoridades da UE negociam o que seria considerado sua “linha vermelha”. Mas em novembro passado Jake Sullivan deixou bem clara a nova doutrina e também o que espera da Europa, quando disse:
“Queremos que os termos do sistema [internacional] sejam favoráveis aos interesses e valores norte-americanos. Trata-se de obter disposição favorável, pela qual EUA e seus aliados podem moldar as regras internacionais de percurso para os tipos de questões que fundamentalmente virão a ser importantes para o povo [dos EUA] (…)”.
Mas a ameaça feita por Biden, de sanções severas e sem precedentes, gerou um aviso que partiu de fonte completamente inesperada – tanto o Tesouro dos EUA quanto o Departamento de Estado alertaram Blinken de que as sanções previstas prejudicariam aliados dos EUA (ou seja, os europeus), mais do que prejudicariam a Rússia, e que a imposição de tais sanções poderia até desencadear uma crise econômica global contraproducente, que afetaria tanto o consumidor norte-americano quanto o europeu, pelo aumento dos preços da energia – chutando para cima, com força, as taxas de inflação já recordes dos EUA.
Em suma, a Europa também pode vir a ter de enfrentar uma guerra de insurgência liderada pelos EUA travada em território europeu, espalhando-se por outros estados; que pode dar origem a nova geração de ‘jihadistas’ radicais e expandir-se pela Europa. E também pode começar uma nova onda de armamento sofisticado (como aconteceu na sequência da guerra afegã) em mãos de grupos de oposição, como os mísseis Stinger vendidos para ninguém sabe quem (e que na sequência tiveram de ser recomprados ‘deles’).
Em coluna provavelmente plantada, o NY Times relata que:
Durante anos, as autoridades norte-americanas tatearam com extremo cuidado em torno da questão de quanto apoio militar fornecer à Ucrânia, por medo de provocar a Rússia.
Agora, no que seria uma grande reviravolta, altos funcionários do governo Biden avisam que os EUA podem apoiar uma insurgência ucraniana, caso Putin invada a Ucrânia.
Mas ainda está em discussão o modo como os EUA, que acabaram de sair de duas décadas de guerra no Afeganistão, poderiam encaminhar-se na direção de financiar e apoiar outra insurgência, nem bem saídos da anterior.
‘Biden não determinou o modo como os EUA podem armar insurgentes na Ucrânia; ou quem conduziria a guerra de guerrilha contra a ocupação militar russa. Tampouco está claro qual pode ser o próximo passo da Rússia (…) Mas funcionários do governo Biden já começaram a sinalizar para a Rússia [que a própria Rússia eventualmente] acharia proibitivamente caros, em termos de perdas militares, os custos de uma invasão (…).
“Se Putin invadir a Ucrânia com grande força militar (…) E se acontecer de a ação converter-se em insurgência ucraniana, Putin perceberá que, depois de combater em várias insurgências durante duas décadas, sabemos como armá-las, treiná-las e energizá-las” – disse James Stavridis, almirante de quatro estrelas aposentado da Marinha, que foi comandante aliado supremo da OTAN.
Essa conversa nos EUA, de uma insurgência montada via Ucrânia, adquiriu traços de frenesi. A discussão resvalou para a resposta neurótica, à medida que o mainstream dos EUA derrete ante qualquer sugestão de liquidar a causa da democracia e dos valores liberais.
Veja aqui a reação, quando o convidado de Tucker Carlson disse:
“O mundo está à beira de um abismo. Em breve poderemos ver o pior combate na Europa desde a Segunda Guerra Mundial – matando milhares de pessoas e aumentando a probabilidade de guerra nuclear. Não precisava ser assim”.
É como se todos os muitos fracassos do governo Biden estivessem sendo canalizados e ‘remidos’ pela fraca expiação chamada “salvar a Ucrânia”.
Naturalmente, não é o fim do projeto dos EUA. Com ‘contenção’ e ‘nossa democracia’ tão presentes na vanguarda do pensamento liberal de Washington, uma vez que a Rússia tenha sido reduzida a miniatura, e a China esteja notificada, a subsequente contenção e cerco do Irã pareceria conclusão precipitada.
Especialmente com o projeto de cerco contra a China já em andamento. E não se limita ao Indo-Pacífico.
Desenrola-se, mesmo hoje, no Oriente Médio, como tentativa de dupla contenção – do Irã e da China. O recente ataque de drones aos Emirados Árabes Unidos (reivindicado pelos houthis) não está desconectado da luta maior luta desses estados-alvo, com vistas a romper o cerco dos EUA.
Componente-chave para o comércio global nos próximos anos será a Rota da Seda Marítima da China – rota de navegação que inevitavelmente gira em torno do Chifre da África e seu ponto de estrangulamento no Estreito de Bab al-Mandab, na costa do Iêmen. O Iêmen, portanto, torna-se nodo-chave a ser controlado pelos EUA, se os norte-americanos quiserem acumular capacidade para ‘conter’ a China e negar-lhe sua ‘Rota da Seda Marítima’.
Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos representam a contrapartida estratégica do Oriente Médio, ‘equivalente’ a ‘Taiwan’ no Pacífico, tornando-se a âncora geográfica dos portos e ilhas ‘sentinelas’ com vista para o Oceano Índico, o Mar Arábico, o Mar Vermelho, o Chifre da África e o estreito de Bab al-Mandab – todos atualmente controlados pelos Emirados Árabes Unidos.
O significado estratégico reforçado dos Emirados Árabes Unidos para Israel e os EUA deriva quase totalmente do fato de terem usado descaradamente a guerra do Iêmen como oportunidade para estabelecer papel superdimensionado para si próprios – ao assumirem a ‘guarda’ do estreito que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden.
Ibrahim Al-Amine comentou no jornal libanês pró-Resistência Al-Akhbar (do qual é editor), “a [recente] decisão norte-americana de forçar os Emirados Árabes Unidos a reconsiderar sua “estratégia de sair da guerra” no Iêmen:
“O novo desenvolvimento consistiu de importante modificação nas decisões americano-britânicas manifesta na decisão estratégica de evitar a queda de Marib. Os norte-americanos, assim, intervieram diretamente na batalha. Quem quer que considere os detalhes (…) perceberá que é movimento dos mais profundos e mais perigosos, em termos das impressões digitais israelenses (…). A natureza do trabalho de inteligência não se assemelha em nada ao trabalho das forças agressoras nos últimos anos (…). Na presente situação de guerra, a batalha exige homens em campo. Daí a decisão dos EUA de forçar os Emirados Árabes Unidos a reconsiderar sua “estratégia de saída” da guerra (…)”.
Assim, o porto de Aden, o estreito de Bab al-Mandab e a ilha de Socotra enquadram-se perfeitamente num componente vital do crescimento da Guerra Fria entre China e EUA: o aliado árabe que pode controlar esse estreito essencial dará aos EUA influência com a qual poderia comprometer a Rota da Seda Marítima da China – daí o apoio dos EUA ao conflito em curso no Iêmen.
E daí o ataque de drones dos houthis aos Emirados Árabes Unidos, sinalizando que os houthis não têm intenção de entregar ponto-chave tão vital. Os houthis estão impondo uma escolha amarga aos Emirados Árabes Unidos: ou ter suas cidades atacadas, ou ceder o ativo estratégico de Bab al-Mandab e seus arredores. Irã e China estarão acompanhando de perto essa iniciativa de ‘quebra’.
Reconhecendo que as políticas estabelecidas na Lei NDAA de 2022 representam ameaça fundamental à segurança da China e ao seu desejo de ampliar o próprio papel no cenário internacional, o Congresso também orientou o presidente a apresentar alguma ‘grande estratégia’ sobre as relações EUA-China nos próximos nove meses, e a preparar um inventário das capacidades econômicas, diplomáticas e militares de que os EUA precisarão, para impedir a ascensão daqueles países.
Andrew Bacevich, historiador militar dos EUA, escreve que, entre os mandarins da política externa da atual Washington, as “esferas de influência” tornaram-se anátemas. Conforme interpretada hoje, no entanto, a própria frase cheira a rendição para ‘apaziguar’: a frase carrega, na visão da classe que cuida da política externa no Departamento de Estado, um cheiro de rendição, na luta pela liberdade e pela democracia, pecado que altos funcionários dos EUA abominam.
É o que se vê muito evidente no discurso acalorado dos EUA de hoje.
Há uma década, Hillary Clinton declarou categoricamente que “os EUA não reconhecem esferas de influência”. Mais recentemente, o secretário Blinken afirmou o seguinte: “Não aceitamos o princípio das esferas de influência (…)”. O próprio conceito de esferas de influência “deveria ter sido aposentado após a Segunda Guerra Mundial”.
Claro! É óbvio, ora essa! Ninguém pode, ao mesmo tempo (i) cercar um país com barricadas dentro do próprio território dele, para posteriormente aproveitar o ‘espaço’ obtido, para sufocar a economia daquele país em crise futura e, ao mesmo tempo, (ii) aceitar que Rússia e China definam suas próprias linhas vermelhas.
Linhas vermelhas são formuladas precisamente para combater a ‘contenção’ e para combater a intimidação mediante cerco militar.
O que a NDAA faz (talvez inadvertidamente) é expor precisamente o modo como as situações russa e chinesa são reflexos intercalados das ameaças que cada país enfrenta.
A ‘guerra’ para quebrar o projeto de contenção & cerco já está em andamento.
Alastair Crooke, británico, fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut.
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
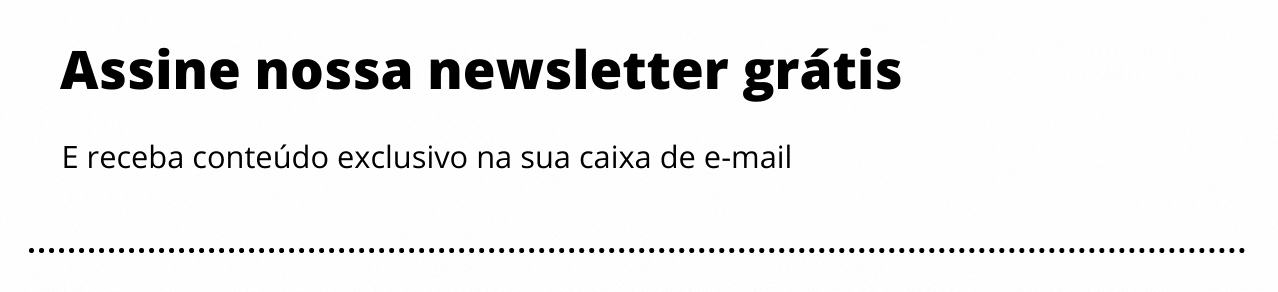
Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.
A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.
Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:
- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui
- Boleto: acesse aqui
- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui
- Transferência bancária
Nova Sociedade
Banco Itaú
Agência – 0713
Conta Corrente – 24192-5
CNPJ: 58726829/0001-56
Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br - Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui
- Acompanhe nossas redes sociais:
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram