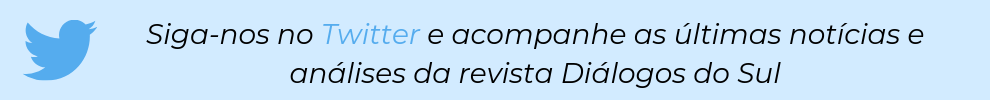Conteúdo da página
ToggleLele, como era chamado pelos amigos, completaria 96 anos em outubro. Nasceu em uma casa de madeira do bairro da Lapa, numa São Paulo ainda cortada por córregos onde se pescava, num Brasil sob estado de sítio.
 Raphael Martinelli, aos 4 anos, com o irmão Angelin. Lapa, 1928. (Foto: Arquivo pessoal / Livro Estações de Ferro) Filho de um lar e de um bairro operário, Raphael Martinelli começou a trabalhar aos doze anos, como entregador de pão. O garoto logo converteu-se em operário em uma fabriqueta de tintas, em assistente em uma vidraria e, de novo, em operário em uma fábrica de aço. Até que, aos dezesseis anos, passou à ferrovia, na São Paulo Railway, que também empregava seu pai e irmãos. É por influência deles – dos irmãos – que Martinelli se tornou comunista. É nessa vida – a dos trilhos – que vira um dos mais importantes líderes sindicais do Brasil e oficialmente se torna militante do PCB (à época Partido Comunista do Brasil).
Raphael Martinelli, aos 4 anos, com o irmão Angelin. Lapa, 1928. (Foto: Arquivo pessoal / Livro Estações de Ferro) Filho de um lar e de um bairro operário, Raphael Martinelli começou a trabalhar aos doze anos, como entregador de pão. O garoto logo converteu-se em operário em uma fabriqueta de tintas, em assistente em uma vidraria e, de novo, em operário em uma fábrica de aço. Até que, aos dezesseis anos, passou à ferrovia, na São Paulo Railway, que também empregava seu pai e irmãos. É por influência deles – dos irmãos – que Martinelli se tornou comunista. É nessa vida – a dos trilhos – que vira um dos mais importantes líderes sindicais do Brasil e oficialmente se torna militante do PCB (à época Partido Comunista do Brasil).
Mas a guerra veio e, com ela, a convocação. Serviu no 2º Batalhão de Saúde, no Cambuci, em um Exército feito de soldados convocados dos bairros operários, onde prevalecia um forte sentimento anti americanista. Lele conta que um tenente costumava colocá-lo junto de outros companheiros que lutavam boxe em um caminhão para “caçar” marinheiros norte-americanos e os soldados da Força Pública de Ademar de Barros.
“A gente lotava um caminhão. Naquele tempo, os navios americanos atracavam em Santos e os fuzileiros navais vinham para São Paulo. Levantavam os vestidos das mulheres, coisas assim – abusavam mesmo! -, eram canalhas os americanos, pensavam que aqui era quintal deles, essa é a verdade! Aqui no Jardim da Luz, principalmente. Então a ordem que nós recebíamos era: ‘Se avistar um de branco, pode bater!’ Os americanos vêm vestidos de branco… eram muito grandões pra gente enfrentar, eu confesso que era duro pra gente derrubar. Eu passava umas rasteiras neles, tava tudo bêbado, e a gente batia”, rememorou em sua biografia, Estações de Ferro, escrita por Roberto Gicello Bastos.

Foto: Fabiana Avanço / Revista Opera
Filho de um lar e de um bairro operário, Raphael Martinelli começou a trabalhar aos doze anos, como entregador de pão.
O sindicalista
Em uma época em que prevaleciam os sindicatos oficiais, controlados pelo Estado e pelo peleguismo, o PCB adotou a tática de criar células sindicais, comissões de fábricas e sindicatos paralelos. No final dos anos 50, Martinelli participava ativamente desses esforços. Em 1952, foi eleita a chapa dos comunistas para o Sindicato dos Ferroviários da Santos-Jundiaí – com o nome de Lele para tesoureiro. No entanto, frente a perseguições e atestados ideológicos, somente um ano depois a posse da nova diretoria ocorreria.
O grupo de Martinelli mal tomara posse no sindicato e já estava em meio a uma greve. Em 18 de março de 1953, 60 mil pessoas formaram a passeata “Panela Vazia”, que saiu da Praça da Sé em direção ao palácio dos Campos Elísios, sede do governo paulista. Era só o começo: têxteis, gráficos, metalúrgicos, vidraceiros, marceneiros, trabalhadores da construção civil e ferroviários se uniam e lançavam a “Greve dos 300 mil” em São Paulo, que parou o Estado durante três semanas. A greve não só foi vitoriosa em seus objetivos econômicos imediatos – os grevistas conquistaram aumento salarial de 32% – como também serviu para criar firmes laços de solidariedade entre as categorias e decretar que a era do sindicalismo oficial estava acabando.
 Martinelli é homenageado na Associação dos Trabalhadores da Noroeste do Brasil, em Bauru, na virada do ano de 1963. (Foto: Arquivo pessoal / Livro Estações de Ferro)
Martinelli é homenageado na Associação dos Trabalhadores da Noroeste do Brasil, em Bauru, na virada do ano de 1963. (Foto: Arquivo pessoal / Livro Estações de Ferro)
Mas os avanços da classe operária eram, como sempre foram no Brasil, prelúdio para golpes. Getúlio Vargas havia voltado ao governo em 1951 por meio de eleições, agora em um Brasil muito mais urbanizado e industrial do que o de seu primeiro governo, embora ainda majoritariamente rural. Consciente disso, ele apostara nos sindicatos a sustentação de seu governo. Na ponta de lança desse movimento estava seu ministro do Trabalho, João Goulart, que manteve firmes relações com os sindicatos e, inclusive, com os comunistas. A proposta de Goulart de aumento de 100% do salário-mínimo foi a gota d’água nos cristais da classe média, da elite e dos militares. O ministro caiu, mas a medida continou. “Deixarei o Ministério do Trabalho. Mas os trabalhadores podem ficar tranquilos, porque prosseguirei na luta ao lado deles, mudando apenas de trincheira. Agora terei muito mais liberdade de ação”, declarou em fevereiro ao jornal Última Hora. O cerco ia se fechando em torno de Getúlio, até que no dia 5 de agosto de 1954 seu governo seria posto à prova pelo atentado da Rua Tonelero. Vargas teria dito: “Esta bala não era dirigida a Lacerda, mas a mim”.
Quer fora ou não, seu governo sangrava aos baldes com o atentado. Quinze dias depois, com as Forças Armadas em seu encalço, Vargas corrigia a trajetória da bala, atirando contra o próprio peito. Assumiu Café Filho, com um ministério pendendo à direita, já com a presença de militares como o coronel Napoleão de Alencastro Guimarães, no Ministério do Trabalho, o almirante Amorim do Vale, para a Marinha, e o brigadeiro Eduardo Gomes, para a Aeronáutica – dois notórios antigetulistas.
No ano seguinte, em 1955, veio a eleição presidencial. Venceu-a Juscelino Kubitschek, com João Goulart como vice. “Como se sabe, quando se quer dar um golpe ‘clássico’, a primeira coisa a se fazer é prender os dirigentes sindicais, isso é fato. E no dia 11 de novembro, uma quinta-feira, eu fui até o centro da cidade, aqui em São Paulo, num local onde se centralizavam todas as atividades sindicais, ali a gente se reunia e já tínhamos informações, um tanto desencontradas, mas bastantes pertinentes, de que pairava no ar uma atmosfera golpista”, contou Martinelli a seu biógrafo. A pressão era fomentada por Carlos Luz, que assumira a presidência havia poucos dias, depois de Café Filho se afastar por motivos de saúde. Sua expectativa era impedir a posse de Juscelino. “Foi todo mundo para o Dops. E ficamos lá até o sábado de manhã […] Aí, no mesmo dia, o marechal Lott deu o contragolpe e só na saída da cadeia é que soubemos da tentativa de golpe”.
Nas urnas, nas lutas
Juscelino foi empossado em janeiro de 1956. Martinelli, no sindicato, passou ao Conselho Fiscal. Com o avanço da economia e a industrialização sob Juscelino – entre 1956 e 1960, a taxa média de crescimento foi de 8,1%, e a participação da indústria no PIB passou de 20,44% para 25,6% – avançavam também os comunistas no meio sindical. Ferroviários, estivadores, portuários, marítimos e marinheiros foram algumas das categorias cujos sindicatos passaram à influência do Partido Comunista.
Em 1958, o PCB dá a Martinelli a tarefa de se candidatar a deputado federal (pelo PTB, já que o Partido Comunista seguia ilegal). Após uma longa batalha para ter seu nome como candidato, depois de chegar ao Tribunal Regional Eleitoral a notícia de que Martinelli era um “notório comunista”, Lele fez-se candidato. Recebeu oficialmente 9.112 votos, e não se elegeu. Atribuiu a derrota a fraudes – em muitas zonas eleitorais seus votos foram contados como nulos – e à política do Partido de dar preferência, em vários pontos do Estado, a candidatos ligados ao ex-governador e então prefeito Ademar de Barros.
Apesar da derrota, no ano seguinte Lele assume a direção da Federação Nacional dos Ferroviários, representando 22 ferrovias federais e quatro ferrovias paulistas. Muda-se com a família para o Rio de Janeiro, e começa um longo trabalho Brasil afora. Primeiro, conquista novas escolas profissionais para as ferrovias – com a possibilidade, até então inédita, de mulheres ingressarem nos cursos. Fez avançar também melhores condições de trabalho no sul do Brasil. E, no nordeste, organizou os trabalhadores e criou novos sindicatos. No Ceará, fez greve e conseguiu destituir os militares da direção da Companhia Ferroviária. Assistiu ao 1º de Maio em Moscou.
Mas se Kubitschek avançava a economia e a industrialização, era às custas do endividamento externo e de alta inflação. Aos militares, salários corrigidos. Aos civis, corroídos.
De volta ao Brasil, o ano de 1960 anunciava a hora de arregaçar as mangas e parar as ferrovias. Martinelli percorreu Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro preparando o movimento paredista. No dia 8 de novembro, estava lançada a Greve da Paridade, com a reivindicação de uma tabela única de correção salarial para civis e militares, e participação de cerca de 400 mil trabalhadores. Duramente reprimida pelas polícias e pelas Forças Armadas, considerada ilegal pelo Governo, a greve terminou vitoriosa, em uma reunião entre sindicalistas – dentre eles, Lele – e o presidente da República.
A força dos grevistas serviu para criar o Pacto de Unidade e Ação (PUA), uma estrutura suprassindical capaz de manter a unidade conseguida na Greve da Paridade.
Jânio e Jango
Para o brasilianista Thomas Skidmore, Jânio despertava a imagem do antipolítico, do “amador honesto, que oferecia a possibilidade de uma transformação radical em relação aos detentores do antigo estilo, os quais se apegavam aos hábitos pré-1930, e não podiam se adaptar às necessidades de um Brasil urbano e moderno”. Para Afonso Arinos, era “a UDN (União Democrática Nacional) de porre”.
Seja como for, com o “varre varre, vassourinha”, Quadros venceu as eleições e foi empossado em janeiro de 1961. E para Martinelli, que esteve com o presidente várias vezes e conseguira atenção para algumas demandas ferroviárias, “os intelectuais sempre o viram pelo lado da condenação nua e crua da renúncia; não têm uma visão mais aprofundada do que ele fez enquanto presidente.” De acordo com ele, também em entrevista a seu biógrafo, “[Jânio] não era um cara de direita; Jânio era extravagante, tomava cachaça e comia sanduíche de mortadela com o povo, mandou acabar com a briga de galo, proibiu as mulheres e andar de minissaia – já se viu!? – e quis acabar com o lança-perfume. Essas coisas. Mas era um presidente que assustou a direita conservadora, não só respondendo positivamente às demandas dos trabalhadores e recebendo sindicalistas, mas, principalmente, quando condecorou Chê e Fidel. Para os militares, foi a gota d’água. A panela de pressão começou a apitar!”
Em meio ao apitar da panela, Jânio renuncia, no dia 25 de agosto de 1961. O vapor – de forças ocultas? – embaralha a vista do povo, perplexo pelo ato. A despeito de todas as dúvidas, das perguntas sem resposta, do embaçado nas lentes dos óculos, já no dia seguinte os ferroviários desencadeiam um movimento grevista “em defesa do regime e da legalidade” – sendo os primeiros os trabalhadores da Leopoldina. Eram tempos em que o sindicalismo se adiantava como força popular em meio às crises, ainda que imprevisíveis, caóticas e desordenadas, e se constituía como uma própria variável de poder, não como mero observador ou “força de reserva”. A greve se espalha e “as lideranças organizadas a partir deste Comando Geral de Greve estão criando, diante de um fato político imprevisível, o núcleo diretor daquilo que seria a grande dor de cabeça da direita nacional nos próximos 30 meses: o Comando Geral dos Trabalhadores, ou simplesmente o CGT”, de acordo com Roberto Gicello Bastos.
Ao comunicar sua renúncia ao seus ministros militares, todos reiteraram seu apoio a Jânio. O general Odílio Denys teria dito: “Diga o que é preciso para Vossa Excelência continuar. Nós o faremos.” E Jânio teria aconselhado os três: “Formem uma junta”.
Palavras ditas ou não, fato é que foi o que fizeram. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume a presidência, e envia ao Congresso Nacional um comunicado em que os três ministros manifestam a “inconveniência” do regresso ao País do vice-presidente João Goulart, que legitimamente deveria ocupar a cadeira abandonada por Jânio. O movimento paredista e a Campanha da Legalidade tocada no Rio Grande do Sul por Leonel Brizola garantem a Jango sua posse. Mas com uma condição: o parlamentarismo.
7×0… no Chile
A despeito de conceder ao parlamentarismo em troca da posse, no governo João Goulart os trabalhadores organizados avançam. Em julho de 1962, com a renúncia de Tancredo Neves ao cargo de primeiro ministro, o conservador Auro de Moura Andrade é escolhido pelo Congresso. No dia 5, manifestos grevistas são lançados pelos trabalhadores da Leopoldina e pelos bancários da Guanabara. A ameaça de greve surte efeito: Auro renuncia. Jango pediu ao sindicalistas a suspensão dos preparativos de greve, mas, dando prova da consciência de sua força naquele Brasil, as greves seguem, sob argumentos sindicais de que “seria de grande importância naqueles momentos demonstrar a união dos trabalhadores em torno dos objetivos ‘democrático nacionalistas’ e sua força enquanto classe para defesa desses objetivos”, segundo Lucília Delgado. A greve, de caráter político, tem alto índice de adesão.
1963 é um ano de viagens. Por solicitação de Jango, Martinelli vai ao Chile com um grupo de ferroviários de todo o Brasil, convertidos em time de futebol, para uma partida por ocasião do Dia Nacional do Chile. Na primeira partida, após uma longa e cansativa viagem em um avião-cargueiro da FAB, o time ferroviário-brasileiro toma de 7×0. No dia seguinte, depois de participar de compromissos oficiais representando João Goulart, o técnico Martinelli mexe na sua escalação, e melhora o resultado: 2×2.
No mês seguinte, Martinelli parte para a União Soviética, para prestigiar o XIII Congresso dos Sindicatos da URSS, junto de uma comitiva do CGT. Na volta, passaria ainda pela Hungria e Itália. Acompanha os trabalhos, conhece o país, e se encontra com Leonid Brejnev. Era tarefa dada por Luís Carlos Prestes pessoalmente, em seu apartamento em Copacabana: encontrar-se com Brejnev e comunicar que o VI Congresso do partido não se realizaria na data prevista, além de outros informes. Passadas as informações, o homem que um ano depois assumiria o comando da URSS disparou: “Camarada Martinelli, quando vocês farão a revolução no Brasil?”
Surpreendido, Martinelli fez uma avaliação pessoal em que se distanciava do otimismo: “Se continuarmos a tratar as questões políticas como estamos tratando atualmente, acredito que a revolução brasileira vai custar a acontecer […] [os norte americanos] estão mais atentos do que nunca às atividades da esquerda no continente. Então, por isso, camarada, eu particularmente não acredito muito em revolução no curto ou no médio prazo.” De fato, ela não viria.
O golpe
Apesar da boataria, no dia 31 de março de 1964, Martinelli fez tudo como sempre. Tomou banho, café, despediu-se de filhos e da mulher e saiu de sua casa no Méier, no Rio de Janeiro, para uma reunião da Federação Nacional dos Estivadores, no Centro. O encontro na sala cheia de sindicalistas não durou mais do que meia hora, e foi interrompido por visitantes inconvenientes: policiais civis e militares, que deram voz de prisão a todos. Em meio a bombas de gás no sétimo andar do prédio, os dirigentes conseguiram abrir caminho em meio à confusão e ocupar a tesouraria. Empurraram um cofre, bloqueando a porta, agora alvo de coronhadas e ameaças. O comandante Mello Bastos, aviador civil, oficial da reserva da Aeronáutica e membro do CGT, liga para o Ministro da Aeronáutica, que manda um comandante militar e liberta os sindicalistas. Livre, Lele pôde ver a Leopoldina parada pela notícia de sua própria prisão; imagem que confirma o que sempre se falou sobre ele, e o que ele mesmo sempre disse: “Se me prenderem, a ferrovia para”.
Com Demisthóclides Baptista, o “Baptistinha”, foi direto à Rádio Nacional. Recebido nos estúdios pelo ator, jornalista, músico e membro do PCB, Mário Lago, discursaram nos microfones e logo foram embora. “Se nós tivéssemos ficado meia hora a mais na Rádio Nacional, teríamos caído, inclusive prenderam o Mário”, rememora. Junto de Geraldo Rodrigues dos Santos, o Geraldão, e de Roberto Morena, passaram a buscar refúgio. O conseguiram no bairro de Quintino Bocaiuva, de onde foram à casa de Luís Carlos Prestes, em Copacabana. “Fomos a Prestes, para saber qual era o caminho. Chegamos lá e não tinha caminho nenhum. Ficamos decepcionados”, contou em entrevista em 2012.
A confiança de muitos, apesar dos boatos, em boa parte era motivada por um fato que também hoje deve nos servir de lição: um chamado “esquema militar” dentro do Exército, apontado como capaz de frear qualquer tentativa golpista. Diz Martinelli: “Se até o nosso líder, o ‘Velho’, que dizia ter as informações mais seguras, garantiu na Associação Brasileira de Imprensa, dias antes de os tanques serem colocados nas ruas, que ‘se os golpistas tentarem alguma coisa, teriam suas cabeças cortadas’, e se o próprio Jango acreditava incondicionalmente em seu ‘esquema militar’, por que esquentar a cabeça?”.
O número de oficiais que faziam parte das alas de esquerda e nacionalista do Exército, de acordo com alguns relatórios posteriores, seria de 300, em uma instituição com 10 mil oficiais com patentes de tenente a general. De fato, precisamente um general considerado legalista, que falava em “democracia” e “observância das leis” em comunicados e fazia comparações entre o fascismo e o comunismo, foi uma figura fundamental do golpe: Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército nomeado por Jango um ano antes.
“Jango, Prestes, Brizola, e todos que estavam no movimento sabiam que uma quartelada não era algo impossível. A direita estava falando grosso. Os últimos dias não tinham sido fáceis. O que ocorria é que acreditávamos que eles não vingariam numa possível quebra da legalidade. Ou pelo menos queríamos acreditar nisso”, confessou Lele. “Depois de tantos anos, temos de fazer a autocrítica e reconhecer que o que tínhamos mesmo não passava de um conjunto de bravatas em torno da ideia do ‘esquema militar.’” De acordo com o membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, Antônio Guedes, citado pelo jornalista Luís Mir em A Revolução Impossível, o partido já tinha traçado um plano político-militar, que incluía a criação de fabriquetas de armas e aparelhos secretos, que no entanto jamais saíram do papel.
O tempo não concedia licença à falta de preparo. Escondido num aparelho, Martinelli pôde testemunhar pela TV o Ministro do Trabalho e da Previdência Social recém-empossado, Arnaldo Lopes Süssekind, chamá-lo de “perigoso espião a serviço da União Soviética” em rede nacional, apresentando como provas o discurso que fizera em Moscou em 1963.
O Ato Institucional nº 1, publicado oito dias após o golpe, veio acompanhado de uma lista de 100 cidadãos que a partir dali tinham seus direitos políticos suspendidos. Martinelli, na linha 36 da lista, a compartilhava com nomes como Prestes, Jango, Jânio, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro e Brizola. Talvez por toda essa visibilidade, o partido decidiu que Lele devia partir para a militância clandestina no Rio Grande do Sul. “Não aceitei nada, não quis ir para o exterior, e a minha posição era voltar para a minha base, em São Paulo”, contou.
O nascimento da ALN
Martinelli passou a coordenar a volta de sua família para São Paulo. Não sem antes reservar ao companheiro que o havia hospedado no bairro de Quintino algum dinheiro do CGT para que alugasse um outro apartamento capaz de servir de refúgio a clandestinos mineiros.
De acordo com Roberto Gicello Bastos, “os brasileiros que entraram para as listas de cassados políticos passaram a uma categoria de cidadãos que Martinelli chama de mortos-vivos. Juridicamente, para efeito de pagamento de pensão às famílias dos ‘derrotados’, estes foram abrigados na mesma categoria dos falecidos. Isso em termos de renda significava o pagamento de 50 por cento do salário bruto do finado. Um engenho jurídico-administrativo genuinamente nacional.”
Assim, para manter a família, o já clandestino e politicamente cassado Martinelli passa a trabalhar com o irmão, criando galinhas e coelhos em um sítio. Na nova atividade ficou dois anos, e depois foi trabalhar como raspador em uma empresa da capital. Na cidade grande, retomou imediatamente o contato com os ferroviários, e passou a lidar com o “esgoto sindical” do regime militar.
É neste contexto que passa a preparar um grupo dentro do Partido Comunista para tomar o Comitê Estadual. E chama um velho amigo: Carlos Marighella. “Para nós, cooptar Marighella para São Paulo foi uma conquista. Ele era realmente um líder e tinha suas posições bem definidas com relação ao Partido. A representação que ele tinha era de base e foi fundamental para eleger os delegados que tomariam o Comitê Estadual. De modo que ele representava melhor que ninguém o Partido em São Paulo”, disse Lele.
Assim nasce a chamada “Ala Marighella”, embrião do Agrupamento Comunista de São Paulo. De acordo com a professora Edileuza Pimenta de Lima, é em abril deste ano de 1967 que “verificou-se o rompimento definitivo entre Prestes e Marighella no que concerne às formas de enfrentamento da ditadura”. A ruptura ocorreu numa pequena fazenda na região de Campinas, onde o Comitê Estadual do Partido em São Paulo se reuniu e se inclinou às propostas do baiano. “O Comitê Central, então, convocou uma conferência, digamos, na surdina. É óbvio que nossos delegados não chegariam jamais ao local do encontro, que foi realizado para nós não irmos de jeito nenhum. Previamente, a direção do Partido certificou-se de quem era favorável e de quem era contra o continuísmo, e emitiu as senhas convocatórias informando o lugar e o dia da conferência somente para aqueles que eram voto certo de concordância com sua ‘linha pacífica’ de atuação política”, rememora o velho ferroviário.
No VI Congresso do Partido, realizado em dezembro, os membros paulistas eleitos que se alinhavam a Marighella, dentre eles Cícero Vianna, Câmara Ferreira, Rolando Fratti, Nestor Veras e João Adolfo Castro Costa Pinto, foram substituídos por outros quadros. Depois do envio de militantes a Cuba em setembro e a visita de Marighella à ilha, em março de 1968 uma reunião do Agrupamento Comunista de São Paulo na casa do ex-deputado do PSB Jéthero de Faria Cardoso faz nascer a Ação Libertadora Nacional.
O trem pagador
No dia 14 de junho de 1960, na Estrada de Ferro da Central do Brasil, na altura do município de Japeri, no Rio de Janeiro, um grupo assaltou o trem de pagamentos da ferrovia e levou para casa 27,6 milhões de cruzeiros (cerca de 7,5 milhões de reais em valor atual). A operação, planejada como filme, de fato foi às telas do cinema em 1962.
Uma outra ação digna de Hollywood ocorreu em 1963, mas na Inglaterra. No dia 8 de agosto, um grupo de 17 assaltantes tomou de um trem, na ponte Bridego, no condado de Buckinghamshire, 2,6 milhões de libras esterlinas.
Talvez a tomada de Grande Otelo interpretando Cachaça no filme de 1962, em que declarava que “quando morre uma criança na favela todo mundo devia cantar; é menos um pra se criar nessa miséria!” ainda estivesse fresca na memória dos membros da recém-nascida Ação Libertadora Nacional quando começaram a planejar seu próprio assalto aos vagões. Tempos em que juntas se dispõem a censurar filmes e peças anunciam a necessidade de espetáculos reais. “Fizemos todo o estudo da ferrovia, de como era o pagamento, como o trem saía, como parava, fizemos o levantamento completo e entregamos para o grupo que ia fazer o serviço”, contou Martinelli à professora Edileuza Pimenta de Lima em 2006. A ALN precisava de 1,7 milhões de cruzeiros novos (21 milhões em valores atuais) para gastos de todo tipo, dentre os quais montar a estrutura para a guerrilha no campo, objetivo primordial da organização. Dois planos para a expropriação que lançaria a organização foram traçados, mas abortados perto da hora da ação.
E então enfim o comprometimento dos revolucionários, a quem é permitido tardar, mas nunca falhar, cravou-se: às 6h50 do dia 10 de agosto de 1968, Marquito (Marco Antônio Braz de Carvalho), Jonas (Virgílio Gomes da Silva) e Leonardo da Silva Rocha, armados de metralhadoras e revólveres, embarcam no trem na Estação da Luz. Às 7h03, o trem para na Estação da Lapa. Sobem mais dois revolucionários. Viajando a 70km/hora, a alavanca do breque do trem é acionada. Os guerrilheiros rendem os vigilantes e, em menos de dez minutos, carregam 108 mil cruzeiros novos em um fusca, que parte em disparada para a casa de Ulisses Guariba, professor de filosofia da USP.
“O revólver era lindo”, diz Martinelli sobre um ferro que emprestou para um dos membros do Grupo Tático Armado (GTA) fazer a ação. “Nunca mais voltou pras minhas mãos, cheguei mesmo a reconhecê-lo, pela TV, sobre uma mesa com apreensões de armas feitas pelas forças da repressão”.
As quedas
O ano de 1968 passou como um furacão. Enquanto a ALN se lançava às grandes ações, explodiam no mundo todo revoltas estudantis. A Ofensiva do Tet era lançada no Vietnã, e no Brasil o assassinato de Edson Luís de Lima Souto, em março, levou 50 mil pessoas às ruas. Em junho o caldo entornou numa sexta-feira, no Rio de Janeiro, quando durante dez horas o povo lutou contra a polícia nas ruas. O saldo foi de ao menos 23 pessoas baleadas, quatro mortas, 35 soldados feridos, seis intoxicados, 15 pessoas espancadas e mais de mil manifestantes encaminhados ao Dops ao final da batalha. Uma semana depois fazia-se a Passeata dos 100 Mil, e em agosto a Universidade de Brasília (UnB) era invadida no mesmo dia em que, em São Paulo, estudantes da Faculdade de Filosofia da USP se enfrentavam com grupos de direita da Universidade Mackenzie, no que ficou marcado como “Batalha da Maria Antônia”. Na cidade de Ibiúna, no fim do ano, agentes do Dops e 400 soldados da Força Pública invadiram a fazenda onde se realizava clandestinamente o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, prendendo entre 750 a 1500 pessoas. Arrematou-se esse ano costurado por zigue-zagues no dia 13 de dezembro, com a assinatura do Ato Institucional Número 5, o AI-5.
Se 1968 fora um tanto caótico, com idas e vindas, repressões e revoltas, vitórias e derrotas, 1969 nascia embalado na fria mão de um Leviatã. Nas organizações de luta armada, guerrilheiro após guerrilheiro caía, era preso, torturado, morto. Logo em janeiro, Marquito, da ALN, foi executado em sua casa em São Paulo, sem chance de reação. A odiosa Operação Bandeirante (Oban), gigante máquina de matar na qual se centralizava diversos órgãos repressores, financiada por banqueiros e empresários, era inaugurada em julho. Para o general quatro estrelas Silvyo Frota, “o grande objetivo da Operação Bandeirante consistia na prisão de Marighella”. Entre setembro e outubro, treze aparelhos da ALN foram desativados e mais de 20 militantes foram presos. E então veio o dia 4 de novembro.
“Tudo o que se passa na alameda Casa Branca – entre a rua Tatuí e a alameda Lorena – tem o dedo da polícia. Falsos casais de namorados passeiam pelas calçadas ou trocam beijos em carros estacionados enquanto policiais disfarçados de populares leem jornais distraídos na porta dos bares. Ao todo estão mobilizadas 150 pessoas e sete carros, incluindo uma caminhonete recheada de policiais escondidos na carroçaria. Até o pipoqueiro, que manobra seu carrinho envidraçado na calçada, é, na verdade, um investigador disfarçado”. Foi assim que João Roberto Laque descreveu em seu “Pedro e os lobos” a operação para dar fim a Marighella, o procurado número 1 nas listas da repressão.
Os responsáveis pela operação tinham na alma tal vigor assassino que, no meio do pesado tiroteio para assassinar o guerrilheiro baiano, que morreu sem disparar nenhum tiro, acabam atingindo a coxa do delegado Rubens Cardoso Tucunduva, e matando a investigadora Stela Borges Morato e o protético Friedrich Adolf Rohmann, que por acaso passava com seu carro pela alameda no momento do tiroteio.
Martinelli relembra do dia: “Eu soube da morte do Mariga pelo rádio. O mais horrível de tudo é a forma como eles apresentavam o homem. Uma propaganda do assassinato, como se tivessem ganho um jogo de Copa do Mundo.” De fato, era assim que muitos comemoravam. Fleury e seus capangas desceram do Dops, no Largo General Osório, para beber e comemorar o feito. Bêbados, foram à carceragem para zombar dos presos, que responderam cantando a Internacional e, no caso dos padres aprisionados, cantos gregorianos. “Pouco depois eu me reuni com os companheiros da ferrovia e ficamos a questionar qual segurança que ele [Marighella] dispunha na hora. Ninguém dava cobertura? […] A partir de então, nós da ferrovia nos responsabilizamos pela segurança do Câmara [Ferreira], o ‘Toledo’, que substituiu o Mariga”, rememora Lele.
A trágica morte do dia 4 de novembro marcaria Martinelli para sempre. Nos 50 anos da morte de Marighella, Lele fez um longo discurso, e declarou: “O revolucionário tem que ter disciplina. Eu sou culpado disso… o Marighella estar morto, sou culpado também. Porque a organização revolucionária tinha que ter nossos quadros aqui. Ele [Marighella] marcou ponto com fulano, nós teríamos que estar na esquina, fazendo levantamento. Com ‘metranca’, mesmo, para enfrentar os filhos da puta. Olha o que aconteceu! Dispersamos a vigilância e a segurança, e eles mataram ele tranquilamente. Isso é um erro!”
 Raphael Martinelli discursa no ponto onde caiu Carlos Marighella, 50 anos depois. (Foto: Pedro Marin / Revista Opera)
Raphael Martinelli discursa no ponto onde caiu Carlos Marighella, 50 anos depois. (Foto: Pedro Marin / Revista Opera)
Às três da tarde do dia 1 de abril de 1970, aniversário de quatro anos do golpe, a Operação Oban parou na rua dos Andradas, 570. Carros cantando pneus levavam uma fauna de gorilas, armados de pistolas e metralhadoras. O alvo era um homem baixo, que vinha de boina e óculos. Rende-se. Era Martinelli.
Dops, Oban e Tiradentes
“Fui preso por ‘infringir a Lei de Segurança Nacional, por subversão e comunismo’”, conta. Foi recebido pelo capitão Benone Albernaz, verdugo conhecido por sua criatividade e sadismo na aplicação das torturas. Em suas mãos, Lele sofreu doze dias, com porradas de soco-inglês nas costelas que o quebraram inteiro, choques elétricos em todos os órgãos, cadeira do dragão, dentes trincados, pau de arara e simulação de fuzilamento. Nos primeiros dias, sob tortura, falou somente sobre a cooperativa sindical que dirigia. A ideia era tentar descobrir, antes de tudo, o que os torturadores sabiam sobre ele. Foi abrindo informações pouco a pouco, tendo cuidado para não entregar algum companheiro.
Transferido ao Dops, era a hora do encontro de Martinelli com o infâme torturador Sérgio Paranhos Fleury. No prédio de tijolinhos vermelhos, voltou a sofrer os métodos da Oban, agora acrescidos de pauladas na cabeça e na planta dos pés. Testemunhou, da sala ao lado, as torturas contra o militante trotskysta Olavo Hanssen. “[Um médico preso] chegou, olhou o estado do Hanssen e disse que o rapaz precisava ir para um hospital, se ele ficasse ali ia morrer rapidamente”, rememorou Lele. Mas somente horas depois Hanssen seria transferido “para um hospital”. Acabou sendo “encontrado” morto perto do Hospital Geral do Exército.
Depois de se assegurar de que todos os envolvidos no Assalto ao Trem Pagador estavam ou fora do país ou mortos, Lele passou a “abrir” informações sobre a ação. Com isso, ganhou confiança dos torturadores – que usou para livrar companheiros. Um jovem ligado à ALN, por exemplo, foi liberado depois de Martinelli relatar aos meganhas que “é só um estudante, não é merda nenhuma”. O deputado Jéthero de Faria Cardoso também foi livrado pelas gamelas.
Depois de ser torturado por um mês inteiro, entre o Dops e a Oban, Martinelli foi transferido para o Presídio Tiradentes. “Entre o Tiradentes e o Dops era quase semiliberdade. Não tinha tortura”, conta. Mas no Tiradentes estavam também presos comum que, logo com a chegada de um guerrilheiro, se dedicavam a tentar aprender os métodos de expropriação da guerrilha. “Imagine doutrinar um cara que passou a juventude traficando, extorquindo e matando? Mas a gente até que tentava botar alguma coisa na cabeça deles”, confessa Lele. De acordo com João Roberto Laque, “essa grande concentração de intelectuais entre os detentos gera uma espécie de universidade carcerária. Nos cursos são ministradas aulas de Geografia, Português, Matemática, Física e outras disciplinas […]”. Os presos políticos também denunciaram as ações do “esquadrão da morte” que operava contra presos comuns. As denúncias foram levadas ao advogado Hélio Bicudo.
No dia 7 de dezembro, militantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) dirigidos por Theodoro de Oliveira e Carlos Lamarca prepararam um presente de natal para os militantes que, diferente deles, estavam presos. Naquele dia, o embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher foi sequestrado, em uma ação que durou 30 segundos. As negociações entre os guerrilheiros e o governo duraram 40 dias, e terminaram com um acordo: 70 presos seriam libertados e embarcados em um avião rumo ao Chile.
Nos primeiros dias de 1971, Martinelli é levado de volta ao Dops. Completamente nu, lhe tiram fotos de todos os ângulos, para mostrar que no Brasil “não há tortura”. À sua frente senta-se Fleury, que lhe dá para assinar uma declaração de arrependimento por todos os seus crimes contra o Brasil. Lele responde que “não estava arrependido de nada, que havia feito o que fez para libertar o país da ditadura instaurada em 64 e faria tudo novamente para levar o país de volta à democracia”. Martinelli era da convicção de que o exílio devia ser direito dos mais debilitados pelas torturas. “Eu não vou assinar isto! Assinando isto eu estou reconhecendo algo que não reconheço: que meu país é uma merda, que nada aqui presta e que por isso sou banido. […] Não posso sair assim do país onde nasci e que amo, este é o melhor país do mundo.” O delegado argumentou que, se não assinasse, “ia ficar mal pros meus e pros seus”. Martinelli emendou: “Os meus sabem o que fazer”.
O vôo Varig saiu da Base Aérea do Galeão às 0h02 da manhã do dia 14 de janeiro. No Chile, os 70 foram recebidos por Carabineros e por uma faixa estendida que dizia: “Marighella Presente”. Mas Martinelli ficou. Sua filha Rosa rememora aqueles tempos em que, aos nove anos, ia visitar o pai na prisão:
– Quando for embora, vai parar lá na Av. Tiradentes, sabe qual é? – perguntava Lele.
– Sei. Essa que fica em volta do prédio… – respondia a menina.
– Então, vai contar três andares, debaixo para cima e olhar na janelinha da direita. Vou acenar pra você, com uma toalha branca. Vai imaginar um pássaro, que vai voar até seus ombros… e o levará sempre junto pra onde quiser.
– Já sei porque tá aqui pai, e nem preciso crescer tanto. Está preso porque sonha bonito. Eles quiseram trancar suas palavras assim. Mas isso não é roubo? Tenho um pai passarinho poeta preso – mas não conta pra ninguém!
– O quê?
– Que ele tem asas.
Liberdade
Em meados de 1972, Martinelli foi transferido para o Hipódromo da Mooca. Ali não ficaria muito tempo. Em 10 de agosto de 1973, Lele ganha a liberdade, mas a essa altura a ALN já foi quase completamente debelada. Aos 51 anos, o antigo dirigente sindical, agora ex-presidiário, tem de buscar emprego. Consegue-o na cooperativa em que trabalhava, mas com salário achatado. Logo consegue emprego como relações públicas em uma empresa de transportes de carga. Cursa Direito e, aos 55 anos, em 1979, cola grau. Passa a militar como advogado, já num Brasil sob abertura política “lenta e gradual”. Envolve-se na luta por anistia e no processo de formação do Partido dos Trabalhadores.
Teve papel de destaque também na formação do Fórum dos ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, o qual presidiu, e na abertura, no antigo prédio do Dops, do Memorial da Resistência.
Lele faria 96 anos em outubro. Mas faleceu no dia 16 de fevereiro, deixando ao povo brasileiro a perda de um de seus mais aguerridos lutadores. Alguns meses antes de seu falecimento, o visitei, junto de André Ortega, em sua casa na Lapa, em São Paulo. Com o pequeno corpo cansado por 95 anos de batalhas e abatido por dois tipos de câncer, moveu-se lentamente para sentar na poltrona. Começamos falando de boxe, ao que ergueu a guarda e desferiu alguns socos no ar, movimentando os quadris, sentados, como um Muhammad Ali. “O boxe é muito bom. Ele é delicado. Parece uma coisa bruta, mas é uma coisa delicada”, nos disse. Mais do que a história de lutas, a partida de Raphael Martinelli nos deixa um exemplo para o presente e o futuro: só pode ter asas quem mantiver a guarda alta.
Pedro Marin é editor-chefe e fundador da Revista Opera.
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Veja também