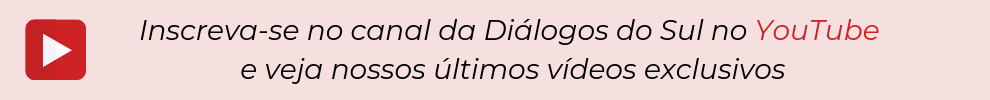Laços entre juristas e a gente do ouro e da moeda -a banca- são antigos, formam pilares históricos do capitalismo e constituem um elemento que lhe é consubstancial.
Quando o Brasil foi ocupado, as três Américas (então designadas “Novo Mundo”) eram territórios onde a lei era feita pelos poderosos, os senhores da guerra. Foi de armas em punho que os colonizadores organizaram a base jurídica dos territórios conquistados, valendo-se de tratados internacionais. Leis e marcos jurídicos eram promulgados em salões da nobreza após conquistas e, eventualmente, carnificinas, como foi o caso no Peru e no México. As terras do Brasil já haviam sido repartidas entre Portugal e Espanha antes da ocupação oficial em 1500, com a interveniência da autoridade papal (como pode ser lido no Tratado de Tordesilhas, de 1494).
Na verdade, a leitura atenta da história do Brasil e dos enfrentamentos imperiais da época evidenciam que nosso país foi um território altamente disputado. Além de Portugal e Espanha, também França e Holanda quiseram apropriar-se das terras do Brasil nos primeiros séculos após a “descoberta”. Apenas no século 18 um novo tratado, de Methueen (1703), definiu a situação de poder e posse e favoreceu Portugal, embora sob guarda e “proteção” dos britânicos. Este acordo também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos.
Antes de Methueen, o Tratado de Haia impusera a Portugal pesada indenização em favor da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, no valor de 4 milhões de cruzados[1], para compensar a perda da colônia nordestina. Isto porque na história dos invasores havia um “Brasil holandês”, chamado de Nova Holanda, tida por sua colônia em terras do Nordeste entre a Bahia e o Maranhão. Os holandeses haviam ocupado militarmente aquela região no período em que Portugal ficou subordinado à Espanha (1580-1640). Na Wikipédia, pode-se ler:
“…com o fim da Primeira Guerra Anglo-Neerlandesa, a República Holandesa exige a colônia de volta em maio de 1654. Portugal não cede (…). Por este motivo é assinado um tratado de paz em 6 de agosto de 1661 na Haia pelo qual a Nova Holanda foi vendida a Portugal por oito milhões de florins (equivalente a aproximadamente 4,5 toneladas de ouro). Portugal cedeu o Ceilão (atual Sri Lanka) e as Malabar à República Holandesa e concedeu privilégios sobre o comércio açucareiro. Em troca, a República Holandesa reconheceu a total soberania portuguesa sobre o Brasil e Angola”.
Na visão do historiador pernambucano Cabral de Melo, “sem a restauração portuguesa, não teria provavelmente havido a restauração pernambucana ou ela poderia ter ocorrido sob a proteção de outra monarquia…”. Teríamos outros desdobramentos que comprometeriam a unidade territorial e ficaríamos sujeitos à ocupação por outras potências da época — talvez a Inglaterra, explica o historiador. Afirma enfim que “a reconquista da independência de Portugal é um episódio tão crucial para a história brasileira quanto para a própria história lusitana” (idem, p. 11).
Com estas revelações, recentes, sobre o conteúdo do Tratado de Haia, outras luzes podem ser dirigidas para a questão da descoberta do ouro brasileiro. Segundo o professor Lucas Figueiredo, em 1661, Lisboa “se viu obrigada a fechar um pacto com a Holanda e a pagar a descomunal fortuna de 4 milhões de cruzados…A dívida era impagável.”[2] Além da dívida, Portugal enfrentava problemas de preços e quantidades exportáveis de dois produtos braseiros: açúcar e pau-brasil.

Tantos problemas financeiros levaram o rei de Portugal a escrever cartas pessoais, firmadas com sua “real assinatura, para sertanistas broncos de São Paulo” pedindo “que ajudassem Agostinho Barbalho de Bezerra, o recém nomeado governador das Minas de Paranaguá e da Serra das Esmeraldas… a cumprir a missão que lhe dera: o descobrimento e entabulamento das minas. … [autorizando-o] a buscar informação até mesmo com criminosos fugitivos.” (idem, p.87)
Perdoem em meu nome o tal crime que tiver cometido, recomendou [o rei D. Afonso VI] a Agostinho. (idem)
Outra ocasião, histórica, em que ficou clara uma aliança entre juristas luso-brasileiros e investidores estrangeiros foi por ocasião de processo movido pelo Visconde de Mauá contra os acionistas da ferrovia Santos-Jundiaí, a “Inglesa”, a fim de recuperar valiosas somas a que julgava ter pleno direito e que haviam sido transferidas por seu banco a contratantes de obras daquela ferrovia. Ao explicar as razões de sua falência, em 1875, Mauá destaca a presença de tribunais brasileiros que não protegiam os direitos de propriedade, daí o não recebimento, por seu banco, das quantias adiantadas à [ferrovia] Santos-Jundiaí[3].
Em sua autobiografia, Mauá denuncia o que considera falhas do Poder Judiciário e sua responsabilidade na falência a que foi injustamente submetido em 1875:
“A terceira causa (lamento profundamente ter de enumerá-la) assenta em algumas decisões injustas dos tribunais do meu país, sem dúvida por equivocadas apreciações. (…) O Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos fulminou essa sentença por injustiça notória, e nulidade manifesta, e submetida a novo julgamento na Bahia, em conformidade da jurisprudência do Brasil, a decisão foi ali empatada, pois a parte contrária[4] esgotou o último esforço para vencer, sem poder eu jamais atinar com a causa de semelhante capricho; o fato é que o único voto de desempate, do presidente do tribunal da Bahia, anulou o voto unânime do Supremo Tribunal de Justiça, e o Banco Mauá perdeu a causa! Será sensato este regime judiciário?[5] (p.261).
Seu bisneto, Cláudio Ganns, prefaciador da autobiografia, explica que esta não foi a única vez em que Mauá se manifestou escandalizado contra as decisões da justiça. Já na questão Moura Ferreira, contrariando a Nabuco de Araújo, Mauá, da tribuna da Câmara, agrediu violenta e diretamente os magistrados do Tribunal do Comércio, nomeados por Nabuco e decidindo no pleito a favor deste. (…) (idem, nota 204, p.267-268).
O caso mais ruidoso, e valioso, contudo, foi relativo à E.F. Santos & Jundiaí Railway, ocasião em que Mauá acusou de má fé os responsáveis por esta companhia inglesa, e da realização de contratos fraudulentos com os empreiteiros, também ingleses. Por sua intervenção, ao que tudo indica, em um tribunal de segunda instância, em São Paulo, aceitou a monstruosa doutrina, de não poderem ser julgados no Brasil fatos ocorridos no Brasil…, questão que já fora julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça, onde obteve decisão contrária, e a favor de Mauá! (idem, p.265-266).
Exemplos como aqueles que acabamos de enunciar, atestando falhas graves dos tribunais brasileiros, não devem faltar nos Anais do Poder Judiciário. Se aprofundássemos mais nossa própria história, a História do Brasil, e citássemos menos os autores estrangeiros, talvez pudéssemos estar mais preparados para as desventuras que nos perseguem através de tribunais e de representantes de um poder judiciário sob controle de centros imperiais. Encontraríamos exemplo de aplicação da teoria do domínio do fato, nos idos de 1841, inaugurando o Segundo Reinado!
*Colaboradora da revista virtual Diálogos do Sul
Referências:
[1] CABRAL DE MELO, Evaldo. O negócio do Brasil. SP: Ed. Schwarcz Ltda, 2011 (p.222 e seguintes) e FIGUEIREDO, Lucas. Boa Ventura !…
[2] FIGUEIREDO Lucas. Boa ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810). RJ/SP : Ed. Record, 2011
[3] JURUA, Ceci. Irineu Evangelista de Sousa, barão e visconde de Mauá. Defensor do nacionalismo econômico, do Oiapoque ao Chuí. Rio de Janeiro: Ed. Jardim Objeto, 2013
Astley Wilson & Co (provavelmente associados do grupo Wilson & Sons, que continua operando fortemente no Brasil)
[4] Astley Wilson & Co (provavelmente associados do grupo Wilson & Sons, que continua operando fortemente no Brasil)
[5] Visconde de Mauá. AUTOBIOGRAFIA. Edições do Senado Federal, 2011