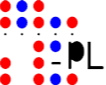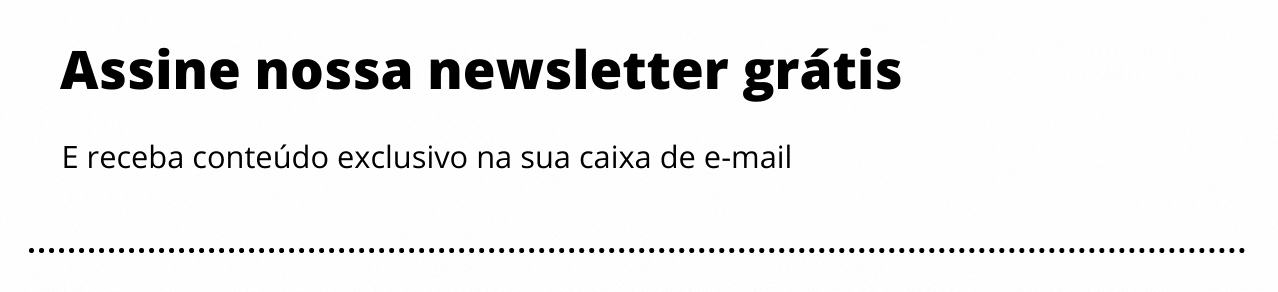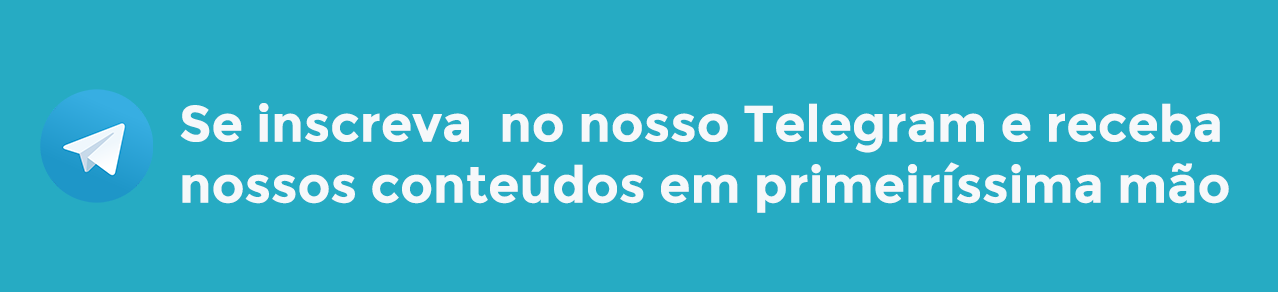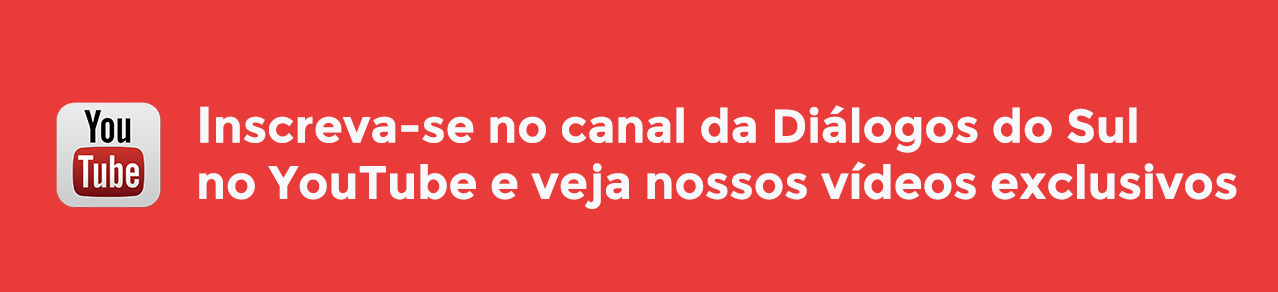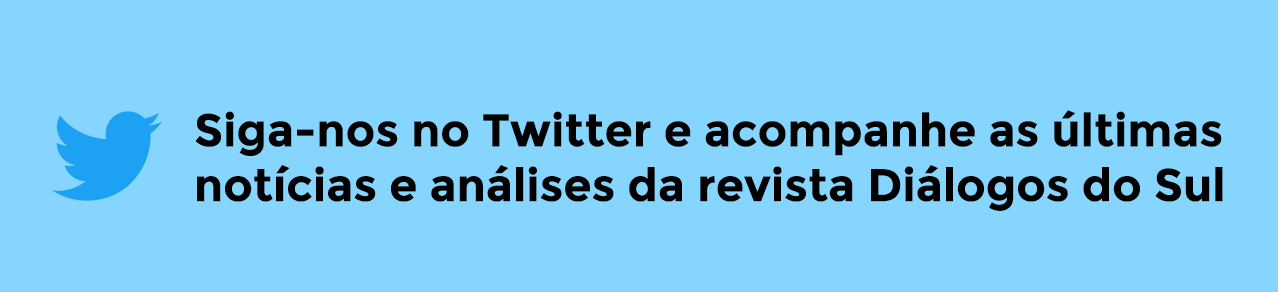Conteúdo da página
Toggle* Atualizado em 17/02/2023 às 12h25.
Como tudo ou quase tudo, que não é a mesma coisa mas é igual, transcorreu esta conversa em meio aos acasos do trabalho e da amizade.
Noel: É bem conhecida sua relação e a influência recebida de Yeyé (Haydée Santamaría Cuadrado, combatente do Moncada e fundadora em 1959 da Casa de las Américas). Ela teve algo a ver com a organização da viagem, em 1969, com pescadores da Frota Cubana? Como essa aventura o marcou?
Silvio Rodríguez: Haydée Santamaría não teve nada a ver com minha viagem de barco. Tive a sorte de conhecê-la a poucos meses de terminar meu serviço militar, quando estava estreando como trovador. A ela devo a compreensão da Revolução que ainda me acompanha e, mais ainda, a dos grandes acontecimentos.
Ela me fez ver que a História, com maiúsculas, é escrita por pessoas. E que todo o mundo, por mais humilde que seja, tem a oportunidade de assaltar um Moncada em sua vida.
Em setembro de 1969 eu já integrava a planilha do ICAIC, mas o Grupo de Experimentação Sonora não tinha começado a funcionar. Enquanto eu estava nesse compasso de espera, Alberto Rodríguez Arufe, secretário de Cultura da UJC, me disse que tinha sido aprovada minha petição para entrar em um barco de pescadores e que podia viajar quando quisesse.
Uns dias depois, Armando Quesada, em nome da UJC nacional, me acompanhou à Frota Cubana de Pesca para apresentar-me a seus dirigentes. Embora pareça insólito, não participei da reunião, porque me deixaram de fora.
Assista na TV Diálogos do Sul
Meia hora depois a porta se abriu e Quesada e um dirigente da Frota, ambos sorridentes, me deram suas mãos e me anunciaram que meu barco era o motopesqueiro Praia Girón e que ia para a Groenlândia, pescar bacalhau.
Não sei do que falaram na reunião, mas alguma razão tiveram para não me quererem ali. O que eu queria era subir em meu barco, cantar para os pescadores que passavam até um ano sem tocar em terra, sacrificando-se para buscar divisas, e ver algo do mundo. Muito melhor se navegasse pelas gélidas águas do norte, onde poderia conviver com baleias e focas, como Jack London.
Depois de várias saídas em falso, o Praia Girón deixou o porto na tarde de 20 de setembro de 1969. Eu estava louco para vê-lo sair pela boca do Morro, mas só fundeamos, no meio da baía.
Na manhã seguinte soubemos que nosso roteiro tinha mudado e que agora faríamos três campanhas de pesca entre Cabo Verde e o Senegal. Foi uma frustração que os mistérios do continente negro diluíram. Já não seria Jack London, e sim (Ernest) Hemingway, ou (Joseph) Conrad, sobretudo se por alguma sorte passássemos pelo Kaap die Goeie Hoop (Cabo da Boa Esperança em afrikaner) e entrássemos no Índico.
“Fazer canções têm uma considerável implicação política”, diz Silvio Rodríguez
Quatro meses depois, em Las Palmas, vendo baixar a tripulação do barco em que estava, fiquei sabendo que o único que não tinha passaporte era eu. No entanto, Gregorio Ortega, o mordomo do Oceano Pacífico, me infiltrou em terra sem documentos, pelo menos por um momento. Foi a primeira vez que pus o pé em um lugar que não era Cuba.
O Praia Girón tinha dois capitães, dois mestres de pesca, dois chefes de máquinas. Para cada coisa havia um russo e um cubano. Nunca vi o capitão russo . Nem mesmo cruzei com ele na ponte ou no convés, para onde eu subia para aprender a baixar estrelas. Era preciso levar tudo para o camarote: a densidade dos cardumes, o estado do tempo, as comunicações. Dizem que nem comia com os oficiais.
Durante muito tempo vivi convencido de que era a encarnação do capitão Ahab (Moby Dick, de Herman Melville). Eu o imaginava deprimido, por saber que já não íamos para o norte, para a zona baleeira. Mas mais me convenci quando começou a má sorte.
Nos primeiros dias, as redes subiam cheias de sapatos, latas mofadas e caranguejos. Depois o mar foi ficando pouco a pouco bravo e uma noite se desencadeou uma grande tormenta. Em meio ao pandemônio, toda a nave ouviu o capitão cantar. Era uma voz de baixo profundo, como um órgão siberiano da igreja ortodoxa. Já não tive dúvidas de que Ahab estava ajustando contas com seu destino e, aproveitando, fodendo o nosso.
No camarote de proa, ao lado do meu, vivia um pai de santo que não aguentou mais e começou a invocar o panteão yoruba. Por um lado se ouvia o baixo russo e pelo outro a melodiosa voz do orixá. Eram duas forças titânicas em pugna, lutando pelo domínio da nave.
Logo o mar brilhou esverdeado, iluminando o camarote. Não me atrevi a ir ver o que era; preferi pensar em vagalumes. A voz do russo foi se enfraquecendo e o Pai de Santo continuou com o vaivém sincopado de Iemanjá.
Inacreditável: de manhã o Atlântico estava como um prato e pescamos uma rede de 60 toneladas. Os três operários da manobra se chamavam Juan. Desde então nossa sorte mudou e logo terminamos a primeira campanha. Jamais voltamos a saber da ortodoxia russa e por fim Alexis, que assim se chamava o capitão cubano, assumiu o comando da nave.

Algo importante daquela viagem eu vi em águas namibias, perto da baía de Walvis. Tínhamos uma barcaça que ia levar para terra um infartado. De nossa coberta lançaram um cabo que um marinheiro negro não conseguiu apanhar.
Por esse erro casual, recebeu um monte de reprimendas. Foram dadas pelo único branco que ia a bordo da chalupa, impecavelmente vestido com sua mesma cor leitosa. Ver com meus olhos uma humilhação desse calibre, me abalou. Os vikings cubanos se indignaram e não houve maneira daquele oficial subir a bordo.
Outra lição do mar foi que às vezes não se pode avançar até onde se deseja, e sim até onde mandam as leis da física. Quando a maré é forte demais, um barco não pode mostrar o lado (os costados) durante muito tempo.
Certa vez recebemos um SOS, um apelo que as leis internacionais não permitem ignorar, muito menos a condição humana. Se tivéssemos tido bom tempo, teríamos demorado umas três horas para chegar às coordenadas de onde fora emitido o sinal de socorro.
Cuba precisa de solução criativa para superar bloqueio, afirma músico Silvio Rodríguez
Mas estávamos no meio de uma ventania e chegamos no dia seguinte, quando o barco já tinha desaparecido. Afortunadamente outros, melhor posicionados, também tinham acudido e resgataram a tripulação.
Em 28 de janeiro de 1970, havia poucos veículos circulando por Cuba. Naquela época dava para passar vários minutos sem ver passar um carro. Os que entramos pela garganta da baía naquela noite, a bordo do navio mãe Oceano Pacífico, não vimos automóveis, não vimos luzes, não vimos gente. Mas sabíamos que aquela penumbra palpitante estava viva e nos esperando.

Prensa Latina
Silvio foi condecorado, com reconhecimentos de primeiro nível pelas Forças Armadas Revolucionárias
Vietnã
Você escreveu desde 1968 temas sobre a luta infatigável do heróico povo vietnamita (…três mil pássaros negros deixaram de voar, três mil descansem, nunca em paz…) até 1974 (…mãe, no teu dia, teus garotos varrem minas em Haiphong…). O que representou para você a luta do povo vietnamita?
O Vietnã foi uma guerra, mas também uma paisagem da humanidade. Por isso chegou a tornar-se um símbolo. O que se via era um acúmulo monstruoso de engenho tecnológico, descarregado contra a dignidade humana. Com o Vietnã aprendemos a relatividade do frágil. Houve fotos que resumiram tudo, como aquela do invasor imenso, submetido pela pequena combatente.
O Vietnã foi uma enxurrada de verdade, uma definição. Lembro que um dos primeiros programas de TV, “Enquanto tanto”, foi dedicado a sua gente. Eu tinha convidado Pablo Milanés, que tinha uma canção sobre o Vietnã de que eu gostava muito, aquela que dizia “eu vi o sangue de uma criança brotar”.
Anunciei o programa na semana anterior e, quando chegou o dia, o ICRT não nos deixou. Por isso disse ao vivo que nosso convidado não fora por razões alheias à nossa vontade. Naquela época também escrevi e cantei um par de canções em uma peça de teatro universitário, chamada “Vietnã por exemplo”, escrita por Víctor Casaus. Nicola estava compondo “Pela vida”, Martín Rojas “Conto para uma criança”, e eu “Sob o arco do sol” e “O rei das flores”.
Os poetas faziam poemas para o povo vietnamita. A dança imitava a dor da Indochina. O cinema… Santiago Álvarez foi o grande cantor do Vietnã, se é que houve um entre cubanos. E aquelas, suas obras de defesa, acabaram sendo obras primas.
O Vietnã foi o espírito de uma época, parte essencial de nossa identidade, nós, que vivemos os anos 60. Depois o Che recomendou à Tricontinental: “Criar dois, três, muitos Vietnãs…”. E espíritos maiores, como Leo Brouwer e Luigi Nono, fizeram arte de suas palavras.
Angola
Angola, 1976: primeira missão internacionalista de muitos meses. Profunda amizade com Arides Estévez (Comandante da Contra Inteligência Militar) que caiu em combate (…se caio no caminho, façam cantar meu fuzil, porque ele não deve morrer…).
Houve outros chefes cubanos que ali mesmo, naquele cenário, exigiam de você que só se dedicasse a tocar violão e você se incomodou e não cumpriu. Fale-nos de Arides, como surgiu essa amizade e o que disse a seus filhos, anos depois em Cuba, quando o general de divisão da CIM, Félix Baranda Columbié, lhe proporcionou um encontro com eles e você se negou terminantemente a levar a violão?
Conheci Arides Estévez na cidadezinha costeira de Landana, em Cabinda, em 1976. Cabinda era uma província onde havia muitas emboscadas. Ninguém sabia que arma ia ter que usar a qualquer momento.
Por isso concordamos em usar uma prática combativa múltipla que se fez em um 8 de março, na qual atirava-se com pistolas, fuzis, RPG-7, granadas ofensivas e defensivas, e por último tinha-se que dirigir um enorme caminhão soviético, Gaz-66, de manejo muito especial pela posição do câmbio e dos pontos das velocidades.
Arides era muito hábil disparando com a Makarov de 20 tiros, a arma curta que sempre carregava. Ele se ofereceu para ensinar-me a usá-la, dizendo-me que dominá-la não era tão difícil quanto parecia.
Eu tinha tentado atirar com aquela pistola, mas em rajada não pude acertar nem um único alvo. Mas ele os abatia com uma destreza assombrosa. Ao ver minha frustração prometeu me ajudar, para me dar ânimo.
Não tive tempo de continuar com suas lições, porque ficamos ali só uma semana e depois seguimos para outras unidades. Aproximadamente um mês depois, quando já estávamos em outra província, o afável e jovem Arides Estévez caiu em uma mina e morreu, junto com outros companheiros.
Anos mais tarde, tive a oportunidade de conhecer seus filhos e de falar-lhes daquele breve encontro com seu pai, de quem me lembro sobretudo como uma excelente pessoa.
Nicarágua
Segunda missão internacionalista: Nicarágua, 1980. Você chegou com uma canção quase improvisada que é um hino à solidariedade armada de Cuba, inclusive antes do triunfo do FSLN, questão de que ainda hoje muito pouco se fala (…te diz um irmão que sangrou contigo, te diz um cubano…).
A primeira coisa que interessava, ainda sem tirar o pó da estrada, era ensinar a gente a disparar com a lupara (espingarda recortada de alto poder de fogo); enquanto isso outros que te acompanham não demonstram o mesmo interesse e só querem saber os pormenores do lugar escolhido para cantarem. Foi em Manágua também que começaram seus vínculos com os guerrilheiros de El Salvador, como o poeta Roque Dalton?
Conheci Roque Dalton em 1968, em Havana, muito antes de que se tornasse guerrilheiro e fosse assassinado em El Salvador. Ele foi apresentador de vários programas dos que fazíamos então na Casa das Américas e chegamos a ter uma amizade bastante próxima.
José Martí é mais do que o pai de Cuba, é o herói da libertação de toda América Latina
Os vínculos que tive mais tarde com os guerrilheiros salvadorenhos foram por meio de Aída, a viúva de Roque. Em sua casa conheci a comandante Ana María, morta tempos depois em inexplicável luta fratricida.
Roque Dalton foi meu amigo. Aqueles que mataram Roque estão perfeitamente identificados. Sua família iniciou um movimento para exigir de seus assassinos que explicassem as circunstâncias de sua morte.
A família não queria vingança, só uma explicação e saber onde estavam seus restos, para render-lhes a homenagem que nunca lhe puderam prestar. Em apoio a esta demanda escrevi umas modestas mas sentidas linhas.
Vicente Feliú e eu fomos à fronteira com Honduras na época da “guerra suja” contra a Nicarágua, em princípios dos anos 80. Tivemos que insistir um pouco, porque não queriam nos levar, mas conseguimos. Ficamos só dois ou três dias, mas foi em territórios em disputa.

Um vilarejo pelo qual passamos foi tomado duas horas depois pelos “contra” e para voltar tivemos que esperar até que fosse recuperado. Ali conhecemos um padre espanhol, da zona de La Mancha, que quando o Papa esteve na Nicarágua apareceu com um cartaz que dizia: “Com religião e Batalhão faremos a Revolução”.
Nos mostrou a testa, onde tinha a marca do golpe que lhe deram. Aquele sacerdote, muito jovem, claro, tinha seu fuzil e combatia cada vez que os “contra” tentavam tomar o vilarejo. Milagre que tenha sobrevivido.
Na Nicarágua conheci muitos combatentes internacionalistas da América Latina, sobretudo chilenos e cubanos. Com alguns deles depois mantive a amizade, ainda que nos víssemos raramente.
Ali conheci o então tenente coronel Noel, que levava duas luparas na maleta. Uma era semiautomática, de metal, e pesava muito. A outra tinha a manopla de madeira, mais leve. Achando que poderia dominá-la, peguei a mais pesada e fiz um disparo contra uma árvore. O golpe do retrocesso me sentou no chão. Sempre brincamos com aquilo.
Chile
Santiago do Chile de 1973, primeiro país latino-americano onde cantou e onde também pela primeira vez por fim se sentiu realizado, participando de uma ação arriscada contra as classes dominantes na América Latina.

Você experimenta na própria pele a repressão, entre multidões desarmadas que gritavam seu apoio ao presidente Salvador Allende (…ali entre as colinas, tive amigos que entre bombas de fumaça eram irmãos…) atacam-no com gás lacrimogêneo os fascistas do golpe iminente (…ali nossa canção ficou pequena entre a multidão desesperada…) Poderia nos dar detalhes desta experiência?
Era a primeira vez que visitávamos a América Latina e devíamos ir ao Chile, justamente durante o governo da Unidade Popular. Vínhamos de um país que fizera uma revolução armada. O Chile mostrava o caso insólito de um socialista radical que chegara ao poder pelas urnas. O presidente Allende lutava duro contra as injustiças, mas a fúria reacionária o enfrentava por todo lado. Até alguns de esquerda, que com fatos apoiavam seu governo, criticavam-no pela imprensa.
Havia greves, comícios e manifestações todo dia; sair na rua e envolver-se em qualquer enfrentamento era diário. Nós, recém chegados, não entendíamos quem era quem, mas imaginávamos que onde caíam as bombas de gás lacrimogêneo encontraríamos companheiros.
Noel Nicola, Pablo Milanés e eu aterrissamos naquele Santiago enlouquecido graças ao convite de Gladys Marín, que naquele momento dirigia as Juventudes Comunistas do Chile. Nos recomendara uma amiga comum: Isabel Parra. Nenhum dos três era militante, mas o interesse direto da secretaria geral conseguira que a União de Jovens Comunistas nos incluísse em sua delegação.
O Iliushin soviético beijou Pudahuel de madrugada. Fazia um frio espantoso, mas numerosas pessoas esperavam os companheiros cubanos. No aglomerado começamos a distinguir cabecinhas de cantores chilenos. O primeiro que identifiquei foi Víctor Jara, porque usava o mesmo gorro de marinheiro de quando o conheci em Havana.
Morre Pablo Milanés, revolucionário e elementar à cultura cubana e latino-americana
Aquele instante em que descobri seu sorriso ficou tão gravado em mim que sempre que chego àquele aeroporto vejo seu fantasma. Desde então cuido de sua recepção, de modo que me revisto antes de passar por ali.
Relação pessoal com Fidel Castro
Um tema importante que você evita por real modéstia, apesar de que há muitos exemplos, é sua relação pessoal com o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, que ficou evidente em 26 de julho de 2010, fato transmitido pela TV cubana e onde você tirou algumas fotos dele, depois publicadas em seu blog com o título “Um privilégio”.
Um exemplo desta relação desconhecida eram as visitas que o Comandante em Chefe lhe fazia em sua casa em quase todos os aniversários e o presenteava com livros autografados, inclusive às vezes com erros do dia exato da data.
Outro: você lhe deu na tribuna de um ato na Praça da Revolução, depois da volta de uma viagem pela Espanha, um envelope com dinheiro que você trouxera escondido do pagamento por sua atuação, para não ser obrigado a entregar na saída de Madri, pretendendo ajudar de alguma forma nossa situação econômica.
Mais um: na mesma Praça, no dia de encerramento do evento da UJC “Sim por Cuba”, o Comandante disse a Sara González (cantautora emérita da nova trova), quando todo o povo se retirava e as luzes se apagavam, que ele se sentia cada dia mais revolucionário ouvindo de manhã, ao levantar-se, as canções, suas, de Pablo e dela.
Outro exemplo, o penúltimo: num bom dia de maio de 1973, Fidel Castro elogiou Armando Hart Dávalos, então ministro da Cultura, pelo poder de síntese sobre nossa história (… mortais ingredientes, armaram para o Major, luz de latifundiários e de revolução…) mostrado por você na letra de “O Major”.
No último e para não envergonhá-lo mais, como foi aquela história de que ele inaugurou seu estúdio “Oxalá”, que ainda não estava oficializado administrativamente, de que existem fotos que você conserva e não mostra para ninguém? Por que não nos conta outras histórias que seguramente existem?
Eu sempre vi Fidel como a figura histórica que é. Nas poucas ocasiões em que estivemos perto, não consegui obviar sua transcendência. Pode ser que por isso tenha perdido um tanto dele.
Ouvi falar dele pela primeira vez em 1953, quando assaltou o quartel Moncada à frente de outros jovens. A primeira vez que tive a oportunidade de cumprimentá-lo foi em 1984, quando Pablo Milanés e eu voltamos da Argentina e nos receberam na Casa das Américas. Ali tivemos a surpresa de ver que Fidel comparecera. Contamos no coletivo histórias da viagem.
Assista na TV Diálogos do Sul
Certo tempo depois fui convidado para uma recepção, por causa de algum festival que se celebrava em Havana, possivelmente o de cinema. Me pediram que levasse o violão e também meti um texto no bolso.
Era “Ode a minha geração”, um tema que nos anos 70 fora estigmatizado com a fábula de que eu o tinha escrito para o Comandante. Ou seja, a primeira canção que cantei para ele foi uma com que tinham tentado separar-nos. Eu lhe expliquei porque a cantava e ele a ouviu muito atento. Por sorte não fez nenhum comentário.
Quando em 1990 dei o concerto no Estádio Nacional do Chile, pedi permissão para administrar as finanças de minhas viagens. Até aquele momento era o Ministério da Cultura que fazia isso; concordaram.
Eu queria construir um estúdio de gravação com tecnologia de ponta, coisa que não existia em nosso país. Minha ideia era contribuir para a indústria musical com uma infraestrutura que deixasse registrado o que se compunha e ao mesmo tempo ampliasse as possibilidades de trabalho dos músicos, que cada vez eram mais e melhores, graças às escolas.
Conhecia Carlos Lage dos tempos em que fora dirigente juvenil e falei com ele. Lage me ouviu com muita atenção e me disse que esperasse um pouco, até que ele pudesse repassar minha proposta.
Semanas depois, a Espanha retirou alguns auxílios que dava a Cuba para a cultura. Eram uns dois milhões de dólares. Eu não tinha economizado tanto, só um pouco mais de um milhão. Então mandei dizer a Fidel que podia contar com o que eu tinha, que afinal era para a cultura.
Pouco depois recebi o convite para um almoço que haveria com Rafael Alberti, que estava visitando Havana. Quando cheguei, Fidel me disse para depois de almoçar esperar, que tinha algo para me dizer. Assim fiz. Suas palavras foram: “Silvio, explica-me em que consiste isso dos estúdios que você quer fazer”. Naquela mesma tarde deu luz verde à ideia.
Depois vi Fidel em diferentes etapas do projeto. Ele estava sempre bem informado, porque tinha dois emissários perto de nós que se encarregaram de velar pelo rejuvenescimento da casa onde fizemos Oxalá e pela construção de Abdala.
Esses companheiros foram Carlos Lage e Felipe Pérez Roque. Quando terminamos Oxalá, numa tarde recebemos a visita do Chefe da Revolução, que perguntou por tudo, como costuma fazer.
No dia em que fiz 50 anos, tive que ir ver um diplomata latino-americano que estava visitando Cuba e me trouxera uma mensagem. Enquanto falava com ele, tocou o telefone e era Felipe, que me felicitou e me disse para não sair dali.
Assim foi que apareceu Fidel para presentear-me com um livro de fotos dele, em uma das quais eu aparecia. Aquilo foi algo totalmente insólito e acho que o diplomata ficou ainda mais surpreso que eu, porque a mim pelo menos tinham avisado. Valia a pena ver a cara daquele homem.
Nesse dia, Fidel me perguntou como eu me sentia. Respondi que um pouco esquisito porque, apesar de estar bem, era impressionante chegar aos 50 anos. Ele então me disse: “Se com 50 você já se sente assim… espere para fazer 70, para ver”.
Me lembro de ter visto Fidel em um 31 de dezembro, na casa de García Márquez. Naquela noite também estava Gregory Peck, o grande ator norte-americano. Depois o vi em aniversários de amigos comuns, como no de Amaury. A última vez em que estivemos juntos foi em casa de Kcho, o pintor, a quien Fidel desafiava porque dizia que fazia melhor o arroz frito.

No fim do combate culinário provei os dois arrozes e a verdade é que eram diferentes e que ambos estavam bons. No dia seguinte eu tinha que madrugar e fui embora cedo. Tinha que passar inevitavelmente junto ao Comandante, de modo que não tive outro remédio senão interromper e despedir-me.
Lembro-me que ficou de pé, me olhando e disse: “Como eu gostaria de saber o que há aí dentro”. E apontou para minha testa. “Silvio, acompanhei sua ida a Nova York… Você aproveitou!”. Não preciso dizer que semelhante frase não soltou a minha língua.
Com o Minint
Silvio esteve intrinsecamente ligado a parte da história do Ministério do Interior (Minint). Sem nenhum preconceito e quando todos os inimigos nos atribuíam os maiores horrores e violações, não poupou esforços e vontade para publicamente mostrar-se junto de nós em aniversários, encontros e atividades.
No XXX aniversário da Segurança do Estado, celebrado em 26 de março de 1989, na Praça da Revolução, com concentração popular e concerto incluído, apresentou o menor de seus descendentes naquele momento, o lourinho Maurício.
Depois, em 22 de fevereiro de 1991, em pleno período especial, convidado para um aniversário de um dos departamentos da C.I. “ameaçou”, diante do ministro do Interior, cantar uma canção dedicada às prostitutas da Quinta Avenida.
Quando alguém comentou isso com o ministro, de quem também foi companheiro em Angola, disse: “Deixem o magro (naquele tempo ele era) que cante o que quiser, ele sabe o que faz”.
Então surpreendeu a todos nós, arrancando lágrimas de corações bem curtidos ali presentes (…vêm me convidar para arrepender-me, vêm me convidar para não perder, vêm me convidar para indefinir-me, vêm me convidar para tanta merda…) estreando “O Nécio”, o hino à resistência, a não render-nos.
Silvio insistiu, contra todas as travas, humanas e divinas, em fazer uma primeira visita às prisões desde 1990, o que conseguiu realizar em 1992, e depois uma segunda, já neste século, em 2008. Foi algo inédito, queira ele admiti-lo ou não, para um homem de renome universal, que os presos adoram, que com ele compartilhassem e chorassem suas esperanças e preocupações.
Por todas estas razões e outras mais, que tornariam interminável esta já longa entrevista, Silvio foi condecorado, com reconhecimentos de primeiro nível pelas Forças Armadas Revolucionárias.
Bloqueio começou em 1962, mas cobiça dos EUA por Cuba nasceu há mais de 200 anos
Em 1983 recebeu a medalha pelo Serviço Distinto que o ministro das FAR deu pela primeira vez e anos depois a Réplica do Machete de Máximo Gómez. O Ministério do Interior lhe concedeu o Selo Comemorativo dos Órgãos da Segurança do Estado em 1988 e o condecorou com a Distinção por Serviço no dia de seu aniversário, em 1991.
Sobre Silvio Rodríguez Domínguez poderia escrever-se infinitamente, seus êxitos, histórias e (por que não?) até os riscos assumidos, não só durante missões combativas, mas também em sua viagem por Porto Rico e os Estados Unidos em 2010.
Tinha disposição para enfrentar o terrorista Carlos Alberto Montaner, com quem mantivera um confronto público e que pretendia entrevistar em São João na condição de fazer-se acompanhar por um jornalista da CNN.
Enfrentou os paupérrimos piquetes de assalariados inimigos, infinitamente desproporcionais em número aos favoráveis, nas filas de acesso aos teatros em que aconteceram as apresentações, sempre fazendo-se acompanhar apenas por sua esposa, sua filhinha menor, Malva, com apenas sete anos, e sua irmã María Elena.
Ou, desafiar, a apenas umas quadras da Casa Branca, mencionando em alta voz nossos irmãos arbitrariamente presos, o que levou nosso ministro de Relações Exteriores a expressar em uma plenária da Uneac, que fora a melhor defesa dos Cinco Heróis realizada durante, até aquele momento, 12 anos de injusto cativeiro.

Um fato foi intencionalmente omitido, o de sua ida à Etiópia, imediatamente depois de Angola, em plena guerra, junto com Vicente Feliú, por tê-lo feito na qualidade de dois solitários integrantes de um grupo cultural e não como combatentes, como nas outras missões.
Ao fazer esta entrevista não conhecia ainda outra de há muitos anos, 1984, feita por Víctor Casaus, poeta, narrador e realizador de cinema, em que Silvio afirmou: “…teria ido contente ao Moncada, teria navegado no Granma, teria feito a guerra na serra ou na planície, junto a Fidel; teria querido estar na Quebrada del Yuro naquele outubro de 67…”
Por isso, para nós sempre será: “Silvio, o Combatente”.
Coronel (r) Nelson Domínguez Morera (Noel) | Ocupou cargos de direção na Segurança do Estado.
Tradução: Ana Corbisier.
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Assista na TV Diálogos do Sul
Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.
A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.
Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:
-
PIX CNPJ: 58.726.829/0001-56
- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui
- Boleto: acesse aqui
- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui
- Transferência bancária
Nova Sociedade
Banco Itaú
Agência – 0713
Conta Corrente – 24192-5
CNPJ: 58726829/0001-56 - Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br
- Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui
- Acompanhe nossas redes sociais:
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram