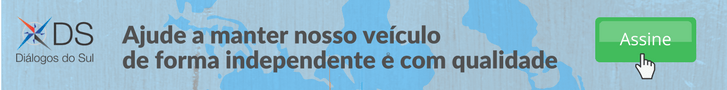Conteúdo da página
ToggleNULL
NULL
Valquíria Passos Claro, Beatriz Balzi, Heloísa Zani, Valéria Bonifelli, Cleide Portes, Cleide Rodrigues, Marina Terra, Elaine Tavares, Marilene Felinto, Lina Bo Bardi, Doris Salcedo, Carmela Gross, Cibele Rizek, Juliana Wallauer, Cris Bartis, Clariza Rosa, Adriana Oliveira, Hannah Arendt. Minhas amigas. Minha vó. Minha mãe.
Por Amanda Péchy Duarte e Mariangela Castro (*)
 Essa foi a resposta dada à pergunta “quais mulheres incríveis vocês admiram?”, feita no dia 14 de março durante a mesa “Desafios da mulher no ambiente de trabalho”. O evento foi organizado pelo DCE (Diretório Central de Estudantes) da USP e pelo CALC (Centro Acadêmico Lupe Cotrim) da Escola de Comunicações e Artes, e lá realizado no auditório Paulo Emílio. Não é uma pergunta fácil de se responder.
Essa foi a resposta dada à pergunta “quais mulheres incríveis vocês admiram?”, feita no dia 14 de março durante a mesa “Desafios da mulher no ambiente de trabalho”. O evento foi organizado pelo DCE (Diretório Central de Estudantes) da USP e pelo CALC (Centro Acadêmico Lupe Cotrim) da Escola de Comunicações e Artes, e lá realizado no auditório Paulo Emílio. Não é uma pergunta fácil de se responder.
“Me desesperou porque tenho muito mais referências masculinas que femininas”, disse Marcela Carbone, diretora de mulheres da UEE (União Estadual dos Estudantes) de SP, formada em Licenciatura em Artes Cênicas pela ECA e uma das convidadas da mesa. Ela ressaltou durante sua fala que “a gente precisa umas das outras. Se unir, se juntar, descobrir quais são os desafios que temos que enfrentar.”
A fim de debater estes desafios, a mesa em questão foi realizada como parte da programação do DCE para o mês da mulher. Bruna Caetano, estudante de jornalismo e uma das organizadoras do evento, disse que o intuito era cobrir todas as áreas presentes na ECA. As cinco convidadas representavam o jornalismo, a criatividade, a música, a militância e as artes.
Estranhamente, temos o costume de pensar que mulheres que trabalham nas comunicações e nas artes sofrem menos do que aquelas que se arriscam nas ciências exatas e naturais. Hierarquizar o grau de preconceito que cada área enfrenta não é uma saída viável para combater este pensamento. Mas, certamente, as pessoas presentes no debate puderam perceber o quão iludidos somos por achar que a comunicação e a arte iriam acolher o gênero feminino de braços abertos. E as mulheres que estavam presentes, que já atuam ou irão atuar neste meio, puderam adquirir um pouco de força.
Vanessa Martina Silva, editora da revista Diálogos do Sul, convidada da mesa, sempre soube que queria ser jornalista. Viveu sua infância nos anos 90, época na qual a representação da mulher negra na mídia era ínfima (não muito diferente de hoje, vale ressaltar). Ela não se identificava com a Globeleza, mas por sorte teve uma figura de inspiração muito forte: Glória Maria. “Ela era poderosa, viajava, tinha um cabelão. O que ela fez por mim e por outras mulheres foi tornar-se uma referência.”
Referência
Faz pouco tempo que este termo e toda a força que ele carrega passaram a ser discutidos abertamente. A consciência de que certos espaços não são para você se dá, muitas vezes, com base nas pessoas que já ocupam estes lugares. É um círculo cruel e vicioso. Mulheres precisam ocupar para que outras olhem e tenham a certeza de que aquele local também as pertence.
“Eu tinha a falsa ideia de que eu podia ocupar qualquer espaço”. A carreira de Thaís Fabris, publicitária, foi construída diferente do padrão. “Eu estagiei desde os 15 anos na agência de minha mãe, antes de entrar na faculdade; isso me blindou de dificuldades. Era para eu estar vulnerável no meu estágio.”
Ela teve a mãe como primeira chefe e referência. Após isso, foi trabalhar em uma empresa de publicidade na qual a CCO (Chief Creative Officer, ou Diretor de Criação em português) era mulher. Com 25 anos já era diretora de redação, mas sentia que sua carreira tinha estagnado. “Eu queria ser CCO e via homens menos qualificados passando em minha frente. Eu olhava e sabia que era melhor que eles.” Então, fez uma descoberta que iria mudar toda sua vida: “Aos 30 anos, descobri que sou mulher. (…) Percebi que estava fudida.”
A descoberta que dói
 Da esquerda para a direita: Renata Pedrosa, Thaís Fabris, Marcela Carbone | Foto: Jornalismo Júnior – Wender Starlles
Da esquerda para a direita: Renata Pedrosa, Thaís Fabris, Marcela Carbone | Foto: Jornalismo Júnior – Wender StarllesDescobrir ser mulher pode ser doloroso, confuso e assustador. Algumas sempre souberam, algumas descobrem cedo, outras apenas com 30 anos, outras nunca. Fabris percebeu que a agência trabalhava em cima de estereótipos femininos. Percebeu que, diferente do que pensava, sua carreira ia muito bem para uma mulher…
E após isso, estar passiva não era mais uma possibilidade. Começou a pesquisar o tema, conversar com outras pessoas, criar ações para mudar. Criou sua própria empresa, uma consultoria especializada em comunicação para mulheres. Repensou o que realmente queria ser e qual carreira queria seguir.
Algo parecido aconteceu com Renata Pedrosa, artista visual e professora universitária. Ela expõe sua produção desde 1995. Já sabia que era mulher. Mas só quando começou a expor no exterior percebeu que era mais que isso, percebeu que era uma mulher latina.
“Para falar sobre os meus desafios no ambiente de trabalho, é importante antes falar do lugar de onde falo. Quando percebi que era uma mulher latina, fui atrás de mulheres latinas na arte.” Foi quando percebeu que, no mercado, o estereótipo gera a expectativa de que a mulher latina produza trabalhos mais próximos da natureza.
“Ser mulher” não é uma característica que vem só. O adjetivo que segue revela a forma como o mundo irá te olhar. Ser mulher latina, negra, gorda, magra, bonita, feia. Já está demarcado o lugar de cada uma.
“Cadê as negras e negros dessa sala?”, foi assim que Vanessa Martina Silva iniciou seu discurso. Com as mulheres negras a não presença é ainda mais agressiva. Se para as brancas o mundo diz “você não pertence”, para as negras, ele grita. “Os professores sempre falavam para meus pais ‘ela é ótima, mas…’. E isso acabou se introjetando de um modo que comecei a me perguntar ‘será que sou capaz?’.”
Ela conta de um projeto de rádio-televisão que fez na faculdade. Sua amiga queria ser a âncora, mas um homem na sala disse: “Com este cabelo você não pode ser apresentadora” e ela não foi. “Sendo mulher negra, você tem que ser dez vezes melhor.”
Beatriz Crivelari ingressou este ano em jornalismo na ECA e revela a importância de eventos como este para alunas como ela: “A maior parte de nós vem de um ambiente elitizado. Penso sobre a questão da mulher, especificamente da mulher negra, mas não o suficiente. Não temos com quem falar sobre isso.”
A voz que sussurra no ouvido
Em sua fala, Martina contou sobre as meninas quéchua e guarani que vivem no Peru, país hispanohablante, mas falam a língua de sua própria ascendência. Quando vão à escola e o professor pede para elas lerem em voz alta, em espanhol, elas se recusam, gritam, choram. Não leem. Elas também não conversam no intervalo, ficam quietas. Mas os meninos são muito barulhentos.
As meninas quéchua e guarani não querem passar vergonha, não querem que os outros riam delas, não querem falar errado. As meninas quéchua e guarani são muito parecidas com nós. “A gente tem medo, tem vergonha”, expressa Martina. A dificuldade de se impor que as mulheres possuem é histórica e cultural. Não fazemos perguntas em palestras, não nos sentimos confortáveis para expressar nossas ideias, achamos que o que vamos falar é besteira e desnecessário.
A síndrome do impostor, muito comum às mulheres, é resultado de anos sendo diminuída e negligenciada. “De vez em quando você pensa ‘você é uma fraude, não deveria estar aqui, vão descobrir que você é uma fraude’.” Diz Martina, é como se uma voz sussurrasse no ouvido.
Enquanto falava sobre isso, duas meninas sentadas em cantos opostos da sala ouviam com atenção. Mariah Lollato, estudante de jornalismo, se interessa por “tudo que tem mulher unida.” Ao fim da mesa disse “parece mesmo que somos criadas para não falar nada.”
Já Blenda Hilário, estudante de relações públicas, se viu na fala de Martina. Ela conta que sempre tinha insegurança para falar, achava que sua pergunta não era relevante. “Agora eu vejo que não e vou tentar me impor. Não imaginava que era por causa do gênero, achei que era eu.” Ela também disse que a mesa a inspirou muito, “eu gostei demais de quando falaram ‘você tem que mirar na lua’, é exatamente isso.”
A vida imita a arte
 Com o microfone, Eliana Monteiro da Silva; ao lado, Vanessa Martina Silva | Foto: Jornalismo Júnior – Wender Starlles
Com o microfone, Eliana Monteiro da Silva; ao lado, Vanessa Martina Silva | Foto: Jornalismo Júnior – Wender StarllesRenata Pedrosa começou sua fala abordando a mulher no mundo artístico e, para ela, a representação do feminino está diretamente ligada com a colonização. A visão eurocêntrica iniciou um processo de separação entre o corpo e o não corpo. Durante a Inquisição, este primeiro se tornou objeto básico de repressão, enquanto a alma é elevada. “Tornar esse corpo objeto permitiu a teorização da questão da raça: alguns corpos estão mais próximos da natureza e são objeto de estudo, são domináveis e exploráveis.”
Isso afeta a relação de gênero, a mulher sempre estaria mais perto da natureza e, por isso, é equiparada aos animais irracionais e inferiores aos homens brancos. A objetificação do corpo feminino na arte se reflete em abusos e assédios sexuais. Embora as mudanças tenham acontecido na década de 60, “quem toma as decisões em instituições artísticas de São Paulo são homens”.
Eliana Monteiro da Silva, pianista, mestra e doutora em Música pela USP e integrante do coletivo Sonora – músicas e feminismos, traz à mesa a esfera da educação. Mesmo quando as mulheres entraram nas universidades, os programas eram diferentes. Em sua época, por exemplo, as meninas possuíam 3 opções de colegial, e apenas uma possuía matemática, física e química. Ainda assim, não era um ensino crítico, as informações eram transmitidas fora do contexto.
Não faltaram teses de estudo que se empenharam a provar cientificamente inferioridade da mulher em relação ao homem, alegando inclusive que o cérebro desta era menor. Quando se trata da música, mulheres podiam tocar, mas a capacidade de formular e resolver problemas, a música matemática, o pensamento lógico, a elas não era acessível.
Os desafios que as mulheres enfrentam não são exclusividade do presente. É um mundo complexo e construído em cima dessas desigualdades. “Não adianta colocar negros em um sistema racista, mulheres em um sistema machista, pessoas LGBT em um sistema lgbtfóbico, heteronormativo e cis. A lógica desse sistema vai moer essas pessoas. É como encaixar um quadrado ou um retângulo em um círculo” completou Fabris em um momento da mesa.
As nove filhas de Mnemósine
 Da esquerda para a direita: Vanessa Martina da Silva, Giovanna Costanti, Renata Pedrosa, Thaís Fabris e Marcela Carbone |Foto: Jornalismo Júnior – Wender Starlles
Da esquerda para a direita: Vanessa Martina da Silva, Giovanna Costanti, Renata Pedrosa, Thaís Fabris e Marcela Carbone |Foto: Jornalismo Júnior – Wender StarllesEsse distanciamento histórico entre homens e mulheres, perpetuado pela educação, contribuiu para manter os gêneros em seus papéis designados. Como dito por Renata e Eliana, a mulher não podia participar das Belas-Artes. “O que sustentou essa ideia foi que a arte é forma de criação do mundo, que não cabe à mulher”, disse Marcela Carbone. “Até olhar, analisar, interpretar, talvez, mas não criar”. Mulher não pinta, não canta, não toca, não fala. À mulher foi reservado outro lugar, passivo, silêncio ⎼ de Musa.
“Antes de prosseguir, dar-te-ei a exata proporção de um homem. As de uma mulher desprezarei, porque ela não tem nenhuma proporção estabelecida. […] Não te falarei sobre os animais irracionais porque neles nunca haverás de descobrir qualquer sistema de proporção. Copia-os e desenha-os, quanto puderes, segundo o natural”. Foi com essa citação, de Cennino Cennini, que Renata Pedrosa escolheu iniciar sua fala. Ela representa concisamente a maneira com a qual se enxerga a mulher: passiva, irracional, desproporcional, inferior. A mulher é uma paisagem, para ser observada, apenas, e deve ser pintada tal qual paisagem. Há um mito de que o que está mais próximo da natureza é inferior e, partindo dessa premissa, inferioriza-se a mulher ao aproximá-la do que é natural.
“Existe a ideia da mulher como Musa, que na verdade não passa de uma escrava”, disse Pedrosa. A artista contou, ainda, que uma vez, selecionando obras para uma exposição, apareceu-lhe uma que era justamente uma mulher deitada de lado no chão, cujas curvas imitavam uma paisagem de morros. Ela foi a única pessoa dentre as que escolheriam as peças que se opôs a exibir a mulher-paisagem. E foi silenciada.
Não é apenas na arte que a mulher é Musa. Thaís Fabris descreveu três condições em que a mulher pode se situar na publicidade: abjeto, objeto e sujeito. Abjeto são aquelas que não chegam nem a ser objetos, “sequer merecem ser vistas”, como disse Fabris. A mulher gorda é uma das principais vítimas desse apagamento, invisibilidade. Objeto são aquelas que servem somente para ser vistas (a mulher-paisagem descrita por Pedroso). E sujeito são aquelas que fazem a ação, participam do processo criativo: expõem suas ideias e são ouvidas. Fabris ressalta que isso faz parte de uma lógica capitalista masculina, que não comporta mulheres: “Mover essa estrutura é mover o dinheiro de mão”, disse. E mover o dinheiro de mão será um trabalho árduo.
Também no jornalismo existe a Musa ⎼ de várias maneiras, mas na mesa surgiu um belo exemplo. Eliana perguntou a Vanessa por que havia muito mais mulheres-do-tempo que homens, e a jornalista não hesitou em responder que este fenômeno estava relacionado tanto à configuração de um lugar de menor importância, quanto ao corpo feminino. Quem faz a previsão do tempo tem menos tempo de fala, é menos lembrado pelo público, e está sempre em pé, o que significa que é possível ver seu corpo inteiro. As emissoras escolhem mulheres, muitas vezes dentro de um padrão de beleza ocidental, para que sejam observadas, vistas, admiradas. Musas.
Concreto e cinza
Thaís fundou uma consultoria de comunicação com mulheres, a 65 | 10, por conta de um incômodo muito grande com esses dois números. 65% das mulheres brasileiras não se identificam com a forma que são representadas na publicidade, o que Fabris encara como “uma violência simbólica de apagar mulheres em uma sociedade pautada pelo consumo”. E apenas 10% dos criativos no mercado publicitário são mulheres ⎼ criativos em lugares de poder, onde decisões são tomadas. Houve um boom de mulheres na área de social media, mas ainda não é um posto de autoridade, de comando.
 Da esquerda para a direita: Renata Pedrosa, Thaís Fabris, Marcela Carbone. | Foto: Jornalismo Júnior – Wender Starlles
Da esquerda para a direita: Renata Pedrosa, Thaís Fabris, Marcela Carbone. | Foto: Jornalismo Júnior – Wender StarllesOs números têm esse efeito de causar bastante incômodo. São a materialização de coisas que já sabemos, e preferimos não saber. “A partir da experiência, é possível sentir que os postos de trabalho de maior destaque, diretor, dramaturgo, são ocupados predominantemente por homens”, contou Marcela. Mas ela fez questão de trazer dados para confirmar suas impressões. Apesar de 62,8% do mercado de trabalho cultural ser supostamente ocupado por mulheres, é possível enxergar que a predominância é masculina. Citando a pesquisa de Priscila Cruz Leal (Centro Universitário SENAC-SP), Mulheres artistas: Há desigualdade de gênero no mercado das artes plásticas no século XXI?, Carbone apresentou números alarmantes: “até 2008, o acervo do MASP contava com aproximadamente 380 obras de homens artistas e 28 obras de artistas mulheres. Na Bienal de 2010, de 163 artistas, 101 eram homens e 47 mulheres (fora coletivos); em 2008, dos 41 artistas, 24 eram homens e 11 eram mulheres; em 2006, dos 109 artistas, 59 eram homens e 37 eram mulheres; no MUBE entre 2009 e 2011, foram 18 exposições solo de homens artistas e 6 de mulheres artistas; no Instituto Tomie Othake, entre 2005 e 2011 foram realizadas 51 exposições solo de artistas homens e 15 de mulheres artistas, sendo 6 da própria Tomie Othake”. A artista plástica recém-formada completou: “Ainda há uma discriminação de gênero na hora de decidir quem pode e não pode expor seus trabalhos”.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em colaboração com a Gênero e Número, recentemente fez uma pesquisa em relação às dificuldades que as jornalistas passam no ambiente de trabalho, a qual a jornalista Vanessa Martina citou, apresentando números também incômodos: 70,4% das jornalistas brasileiras já receberam cantadas que as deixaram desconfortáveis no exercício da profissão, 70,2% já presenciaram ou tomaram conhecimento de uma colega sendo assediada no ambiente de trabalho, e apenas 15,1% já denunciaram à empresa a situação de assédio ou machismo no ambiente de trabalho. Além destes, Martina também trouxe dados da FENAJ, relacionados à desigualdade entre homens e mulheres na área do jornalismo: “(…) as mulheres compõem 64% do universo dos profissionais que estão em atividades [no jornalismo] (…) Detalhe expressivo é que as mulheres jornalistas, mais jovens, ganham menos que os homens; são maioria em todas as faixas até 5 salários mínimos e minoria em todas as faixas superiores a 5 salários mínimos. E são minoritárias nos cargos de chefia nos veículos e órgãos de comunicação.”
A questão do assédio, levantada pelos dados da Abraji, não é a principal dentro da luta pela igualdade das mulheres ⎼ talvez nem um dos maiores desafios dentro do ambiente de trabalho ⎼, mas não deixa de ser simbólica e extremamente relevante. Marcela pincelou o assunto, relacionando-o às artes cênicas, área em que está presente a questão do toque, da proximidade dos corpos, da representação: “O corpo do ator é seu instrumento de trabalho, mas isso não significa que pode ser usado. Há uma falsa ideia de que o corpo do ator e as artes estão acima da sociedade, que não são tocados pelo problema do assédio”. Vanessa também contou que, em uma redação pela qual passou, “não tinha um dia que minha roupa não era assunto”. Disse ainda que “nossos corpos não são nossos”, são coisa pública, são assunto, de olhar, de falar, de pegar. O assédio é, talvez, a ação do machismo, sua concretização. Podemos vê-lo em números.
O pé que marca a porta
 Vanessa Martina Silva lendo a citação de Chimamanda Adichie. Ao lado: Giovanna Costanti e renata Pedrosa | Foto: Jornalismo Júnior – Wender Starlles
Vanessa Martina Silva lendo a citação de Chimamanda Adichie. Ao lado: Giovanna Costanti e renata Pedrosa | Foto: Jornalismo Júnior – Wender StarllesO feminismo e a desigualdade dos sexos podem por vezes tornar-se debates teóricos, que não saem do papel. Há um perigo muito grande de transformar discussões como a desse evento em desabafos, em que há a parte do apoio feminino ⎼ de importância vital para a superação das desigualdades ⎼, mas que nada propõe.
A mesa em Desafios das Mulheres no Ambiente de Trabalho, contudo, fez proposições, e proposições contundentes. Vanessa escolheu citar uma passagem de Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, para ilustrar a sua fala: “Não faz muito tempo, escrevi um artigo sobre o que significa ser uma jovem mulher em Lagos. Um conhecido disse que havia muita raiva no texto, que eu não deveria ter me expressado com tanta raiva. Mas eu não via razão para me desculpar. É claro que eu estava com raiva. A questão de gênero, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva. Devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. Além da raiva, também tenho esperança, porque acredito profundamente na capacidade de os seres humanos evoluírem.”
A jornalista, com sua própria raiva, manifestou o desejo que mais mulheres ficassem bravas. Furiosas. “Precisamos ocupar espaços. Precisamos pôr o pé na porta de redações, e a mulher negra precisa arrombar essa porta”, disse. Marcela concordou e ainda completou: “Enquanto a sociedade não mudar, precisamos dar um jeito de nos fazer presentes. Temos que acordar todos os dias e fazer um discurso de autossuficiência”.
Mulheres na platéia, como Rafaela Aires e Giovanna Stael, ressaltaram a relevância da produção de eventos como esse, para inspirar a população feminina, e a importância de atender a esses eventos, para que as mulheres se apoiem como comunidade.
Bruna Caetano salientou a necessidade de convidar mulheres, como as da mesa, para participarem de outros eventos, não relacionados à questão da mulher. “Mulher não tem que fazer debate só sobre ser mulher. Precisamos trazer a visão delas para outros debates”, disse. Vanessa comentou que gostaria de ser chamada para falar sobre América Latina, por exemplo, não apenas sobre feminismo e negritude.
Eliana citou uma frase ao final de sua fala. É uma frase clichê, mas o mundo está cheio de clichês que funcionam, que realmente se comunicam, um lugar-comum-incomum. “O que está por fazer é o que nos move”, disse uma vez Nilcéia Baroncelli, e disse uma vez Eliana Monteiro, e dirão muitas outras, porque ainda temos muito por fazer, muito para mover.
Confira a íntegra do debate:
(*) Produzido para a Agência J.Press de Reportagens, vinculada à empresa Jornalismo Júnior da Escola de Comunicação da USP