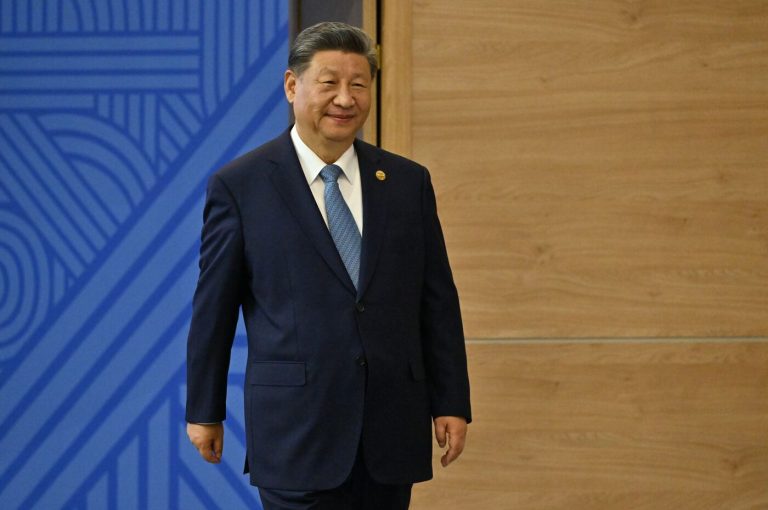NULL
NULL
Carlos Brickman, jornalista.
 Se Deus, que é Todo-Poderoso, nos deu o livre arbítrio, quem os ditadores pensam que são para tentar obrigar os cidadãos a obedecê-los? Nós, judeus, que seguimos os Dez Mandamentos, a mais antiga das declarações dos direitos do homem, somos por definição contrários a ditaduras. Quem é favorável a ditaduras judeu não é.
Se Deus, que é Todo-Poderoso, nos deu o livre arbítrio, quem os ditadores pensam que são para tentar obrigar os cidadãos a obedecê-los? Nós, judeus, que seguimos os Dez Mandamentos, a mais antiga das declarações dos direitos do homem, somos por definição contrários a ditaduras. Quem é favorável a ditaduras judeu não é.

Brasil, ditadura militar. Muitos judeus se opuseram aos ditadores pelas armas – citando apenas alguns, Iara Iavelberg, Chael Charles Schreier, Samuel Iavelberg, Maurício Grabois. Muitos optaram pela luta exclusivamente política, como Salomão Malina, Alberto Goldman, Vladimir Herzog. E outros afrontaram a ditadura com o exemplo de seu dia a dia.
Um dia, em outubro de 1975, um velho amigo, Fernando Morais – hoje um dos mais festejados escritores brasileiros – toca a campainha de meu apartamento. Estava, de certa forma, na clandestinidade: a ditadura havia deflagrado uma grande operação contra jornalistas, que terminaria com o assassínio de Vladimir Herzog. Na véspera, agentes da ditadura tinham ido à Editora Três, onde trabalhava, procurando por Morais.
Foram recebidos pelos dois proprietários da empresa, Domingo Alzugaray e Luís Carta – e o que ambos fizeram, com sangue frio, com coragem, é absolutamente inesquecível. Eles perceberam que os agentes não conheciam Morais. E disseram que o jornalista não estava na redação naquele momento. Convidaram os agentes a esperá-lo, com cafezinho, água gelada e muita gentileza.

Enquanto o cafezinho era servido, Alzugaray e Luís Carta saíram da sala, passaram pela mesa de Morais e o avisaram: “Cai fora, que estão atrás de você”. Morais saiu discretamente e escondeu-se na casa de amigos, no Guarujá. No dia seguinte, sem telefonar (era perigoso), foi ao apartamento da irmã, Marília, que não sabia de nada e não estava em casa. Eu morava no mesmo prédio. Por isso, naquele dia, minha campainha soou. E foi o próprio Fernando Morais que me contou que Vladimir Herzog, até pouco tempo atrás nosso companheiro de trabalho na revista Visão, tinha sido preso e assassinado pela ditadura.
Chamei um grande amigo, confiável, corajoso e prático, o jornalista Décio Pedroso; os três, mais minha esposa Berta, decidimos procurar um grande médico, o doutor Jozef Fehér, um dos maiores cardiologistas do país, do Hospital Israelita Albert Einstein, para pedir-lhe conselho e ajuda. Fehér, sabíamos, integrava uma rede que, de alguma maneira, retirava do país os perseguidos pela ditadura.
Fernando Morais era, como até hoje, admirador de Fidel Castro e apoiador de Yasser Arafat, tudo aquilo que Pedroso, Fehér e eu não éramos. Mas, também como até hoje, era amigo, colega, leal – e, mais do que tudo, estava em perigo. Fehér não hesitou: seria possível retirá-lo do país, clandestinamente – não perguntamos como – e enviá-lo para Israel, com a família. Tão logo o voo da Alitalia pousasse no Aeroporto Ben Gurion, todos receberiam novos passaportes israelenses, autênticos, e estariam livres para ficar em Israel ou seguir para onde quisessem.

A história acabou enveredando por outro caminho. Ninguém sabia quanto tempo a ditadura iria durar, e Morais não queria passar a vida no exílio. Preferiu uma solução doméstica (e que se provou eficiente); asilou-se em Guaranésia, no Sul de Minas, perto de São Paulo, sob a proteção de um personagem importante da região, coronel Roque Delorenzo, o avô de Bi – Rúbia Delorenzo, sua então esposa.
E houve o final feliz: Fernando Morais não chegou a ser preso, teve uma passagem proveitosa pela política (elegeu-se e reelegeu-se deputado estadual pelo PMDB), foi secretário da Cultura e da Educação nos governos peemedebistas de Franco Montoro e Orestes Quércia, firmou-se como escritor de primeira linha, garantindo o sucesso de cada livro que lança. E, mais importante que tudo, sobreviveu.
Sobrevivemos nós também, judeus, embora os ditadores não gostem de nós. Um ministro da Saúde da ditadura brasileira, Jair Soares, teve divergências com o doutor Albert Sabin, cientista de fama mundial, criador da mais difundida vacina contra a poliomielite, a respeito da forma de fazer a vacinação contra o sarampo. Embora civil, tinha contraído os vícios dos ditadores militares: opor-se às suas ideias era absurdamente inaceitável. Como Sabin, judeu, atreveu-se a discutir suas decisões, acusou-o de estar “a serviço do sionismo internacional”.

Em sua imprescindível obra sobre a ditadura militar brasileira, Elio Gaspari conta que o presidente Geisel tinha ojeriza ao economista Eugênio Gudin, e se referia a ele como “aquele judeu filho da puta”. Gudin, engenheiro e economista, criador dos cursos de Economia no país, mestre e patrono de uma geração de economistas liberais, não tinha nada de judeu.
Como assinalou Rodolfo Konder, notável jornalista e intelectual perseguido pela ditadura, obrigado mais tarde a viver no exílio entre Canadá e Estados Unidos, ele e outros opositores do regime foram presos por ser comunistas; e Vladimir Herzog, detido ao mesmo tempo, foi morto por ser judeu.
O Talmud, livro que compilou os estudos rabínicos dos primeiros séculos da Era Comum, diz há mais de 1,5 mil anos que quem salva uma vida está salvando a Humanidade. É por isso, e por acreditarmos em outro Ser supremo, que não eles, que os ditadores não gostam de nós. Opor-se a ditaduras significa defender a vida e salvar os perseguidos. É também salvar o que temos de humano.
O episódio de Fernando Morais se liga ao de Vladimir Herzog. Morto na prisão, seus assassinos simularam um suicídio. Mas não sabiam que, na religião judaica, o suicídio é uma transgressão grave, que impe- de o sepultamento usual. Há no cemitério uma área especial, separada, para suicidas.

Entra então em cena uma figura com a qual nos acostumamos, mas que, especialmente na época, 1975, era exótica: um rabino nascido em Portugal, com forte sotaque americano que mantém até hoje, cabelos lisos e longos, roupas comuns – nada de ternos e sobretudos pretos – e yarmulke (o solidéu que cobre a cabeça dos judeus observantes) na inusitada cor de vinho.
Henry Sobel afrontou diretamente os militares: rejeitou a alegação de que Vlado se suicidara e determinou que fosse enterrado na área comum do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Mais do que uma decisão rabínica, era uma acusação: se Vlado não tinha se suicidado, alguém o assassinara.
Houve ameaças a Sobel, houve campanhas contra ele (“esse judeuzinho americano se metendo em assuntos internos brasileiros”), mas o rabino não se intimidou: convidado, foi à Catedral da Sé para a missa de sétimo dia pela alma de Vlado que a Arquidiocese de São Paulo havia convocado.
No altar, três figuras emblemáticas: o cardeal católico D. Paulo Evaristo Arns, o reverendo protestante James Wright e o rabino Henry Sobel. O governo fez o possível para dificultar a presença dos fiéis, bloqueando o metrô, reduzindo o número de ônibus, impondo desvios ao trânsito de automóveis, mas não adiantou. Tanto a catedral quanto suas imediações ficaram lotadas de fiéis, na primeira grande manifestação de massa contra o regime militar depois do AI–5.
Sobel tinha razão: três anos depois, o juiz Márcio José de Morais condenou a União pelo assassínio de Vladimir Herzog, sentença confirmada em todas as instâncias.
E o que é que levou o rabino Henry Sobel a enfrentar o risco de se opor à ditadura, já que não mais havia uma vida a salvar? A obrigação religiosa não é apenas salvar os vivos. É também cuidar civilizadamente dos mortos. Como diz o Talmud, o enterro não é para o bem dos vivos, mas sim para o dos mortos.
Lá e cá

A Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas tem menos de 70 anos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos (“Todos os homens foram criados iguais, e receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis, entre eles o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade”) não chega a 250 anos. O lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” da Revolução Francesa tem pouco mais de 200 anos. A Magna Carta e o instituto do habeas-corpus surgiram na Inglaterra há aproximadamente mil anos. Os Dez Mandamentos que Moisés nos trouxe são bem mais antigos – há quem estime sua idade em três mil anos. Faz tempo que estamos acostumados com os Direitos Humanos. Mas continua sendo preciso ter coragem para defendê-los.
A ditadura argentina, uma das mais perversas do mundo, não conseguiu enfrentar nem intelectualmente nem politicamente a oposição de um judeu: o jornalista Jacobo Timerman, criador do excelente jornal La Opinión. Tentaram conquistá-lo, não conseguiram; tentaram sufocá-lo economicamente, não conseguiram. Em julho de 1977, resolveram fazer aquilo que sabiam: primeiro, prendê-lo; em seguida, sequestrá-lo, levando-o da prisão sabe-se lá para onde.
O filho de Jacobo Timerman, Héctor, então com 23 anos, desorientado, sem saber o que fazer, procurou o auxílio do rabino Marshall Meyer. Tinha procurado o pai nos tribunais, no Exército, na Polícia Federal, na Presidência da República, e todos alegavam desconhecer o paradeiro de Timerman. O rabino Meyer sugeriu que procurassem o temido comissário Miguel Etchecolatz, diretor de Investigações da Polícia de Buenos Aires, principal auxiliar do sinistro general Ramón Camps, chefe da repressão política na capital argentina.

Héctor contou a Etchecolatz o drama da família, sua mãe com os nervos destroçados, a luta para encontrar o pai, sem que ninguém lhe dissesse onde estava. Etchecolatz o interrompeu e perguntou, referindo-se a Meyer: “E você, cura, quem é?”
Meyer levantou-se e aproximou-se de Etchecolatz, olhos nos olhos, narizes quase encostados: “Este cura é um pastor que procura uma ovelha de seu rebanho e sabe que o senhor é o ladrão que a levou. Sou o pastor de Jacobo Timerman, e o senhor está com a minha ovelha. Não vou embora até que a devolva”. Etchecolatz ameaçou: “Por muito menos do que isso, aqui há muitos que…” O comissário apontou o céu com o dedo. Héctor pediu ao rabino que se sentasse e ao comissário que voltasse a falar sobre o destino de seu pai. Etchecolatz então lhe disse que fosse para casa e que, às 15h, iriam fornecer-lhe o endereço onde poderia ver que o pai estava vivo.
Foram pontuais: o endereço foi passado pelo telefone. Hector e sua mãe puderam entrar no local e viram Timerman por cinco minutos, mas não puderam conversar. O rabino teve de ficar na rua. Mas dois objetivos tinham sido atingidos: primeiro, a família viu que Timerman estava vivo. Segundo, que, tendo sido visto, ficaria mais difícil fazê-lo desaparecer.
Na volta a Buenos Aires, Héctor acelerava o carro cada vez mais. O rabino lhe perguntou por que corria tanto. Héctor explicou: já surgira a primeira estrela, marcando o início do Shabat, ele estava preocupado por saber que o rabino não tinha chegado a tempo para oficiar a cerimônia. Pior: no dia dedicado às orações e ao descanso, o rabino tinha viajado, violando as leis religiosas judaicas.

O rabino o tranquilizou: “Para salvar uma vida, pode-se violar qualquer mandamento. Salvamos a vida de seu pai e seria uma pena se fôssemos morrer num desastre. Guie tranquilo, Héctor, que da religião cuido eu”.
Parte da história teve final feliz: Jacobo Timerman, que já tinha sido espancado, torturado de diversas maneiras e interrogado sob choques elétricos, acabou libertado (embora lhe informassem que, se insistisse em viver na Argentina, não viveria por muito mais tempo) e foi morar em Israel.
Lá escreveu um livro clássico sobre o período em que esteve sequestrado, “Prisioneiro sem nome, cela sem número”. Com a queda da ditadura, retornou à Argentina – e, fiel a seus princípios, escreveu outro livro notável, Chile: Morte no Sul, uma crítica devastadora à ditadura militar chilena do general Augusto Pinochet. Jacobo Timerman morreu em 1999, em Buenos Aires.
Parte da história teve um final triste. Héctor Timerman subiu na vida e chegou a ministro das Relações Exteriores de Cristina Kirchner. Progredir na política custou-lhe caro. Foi ele que assinou o acordo de submissão da Argentina ao Irã, acordo que entregou aos iranianos o direito de investigar um crime ocorrido em Buenos Aires, o atentado à entidade judaica argentina AMIA, no qual morreram 88 pessoas. As investigações anteriores, movidas pela Justiça argentina, apontaram altos funcionários iranianos como responsáveis pelo atentado; todos enfrentam mandados internacionais de prisão e a Interpol tem ordem de prendê-los se algum deles pisar em um país civilizado.
Quando Israel protestou contra o acordo, o chanceler Héctor Timerman rejeitou o protesto, alegando que Israel não representa os judeus do mundo – embora ele achasse que era representativo na hora de buscar asilo para seu pai. Miguel Etchecolatz foi condenado à prisão perpétua por seus crimes no período da ditadura.
Quanto ao rabino Marshall Meyer, não lhe importava se o perseguido era ou não judeu. O jornalista Robert Cox, diretor do Buenos Aires Herald, um dos poucos jornais a denunciar as violações dos direitos humanos promovidas pela ditadura militar argentina, o primeiro a denunciar o roubo de bebês de prisioneiros políticos para que fossem dados em adoção a adeptos do regime, foi expulso, com ordem de deixar o país naquele dia.
Temendo que Cox fosse assassinado, ou que seus filhos fossem sequestrados antes da viagem – ameaças de setores ainda mais radicais, que achavam o exílio muito pouco punitivo, não faltaram – o rabino Meyer levou a família do jornalista para sua casa. Preparou-lhes uma festa de despedida, um jantar com a sala toda decorada com bandeiras dos Estados Unidos – para onde o inglês Cox iria. Bom pianista, tocou música americana, cantou com eles, levantou seu ânimo. E acompanhou-os ao aeroporto de Ezeiza, só voltando para casa quando o avião já estava fora de vista.
Final feliz: Cox e família sobreviveram, radicando-se nos Estados Unidos. E, em 2010, Robert Cox, então com 73 anos, voltou a viver na Argentina, como colunista do Buenos Aires Herald. Recebeu o título de Cidadão Ilustre de Buenos Aires e ganhou o Grande Prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, SIP. A entidade lembrou que ele, ao publicar fotos e histórias sobre gente inocente presa pelas autoridades da ditadura, “ajudou a salvar muitas vidas”. Vidas foram salvas, todos nós fomos salvos.
E, num mundo em que quase tudo se anuncia, todas essas operações ocorreram em silêncio. Muitas se tornaram conhecidas vários anos depois, em geral reveladas por quem foi socorrido por elas. Outras talvez jamais sejam divulgadas. Pois quem nelas atuou acha que não fez nada de excepcional: apenas aquilo que se espera de todo ser humano.