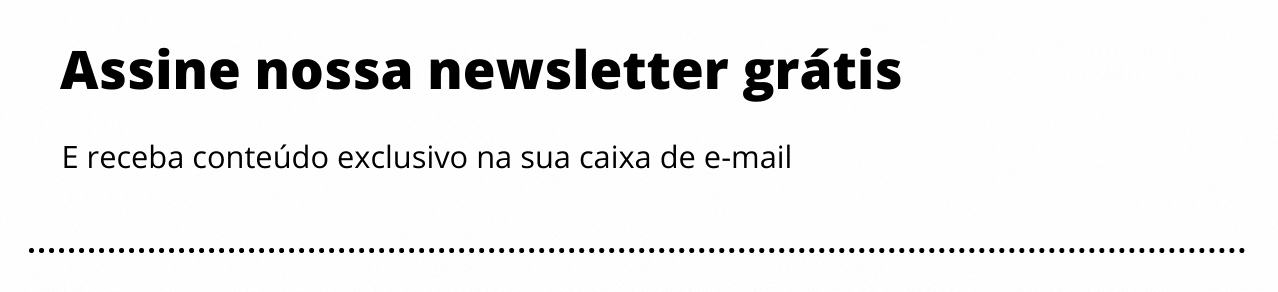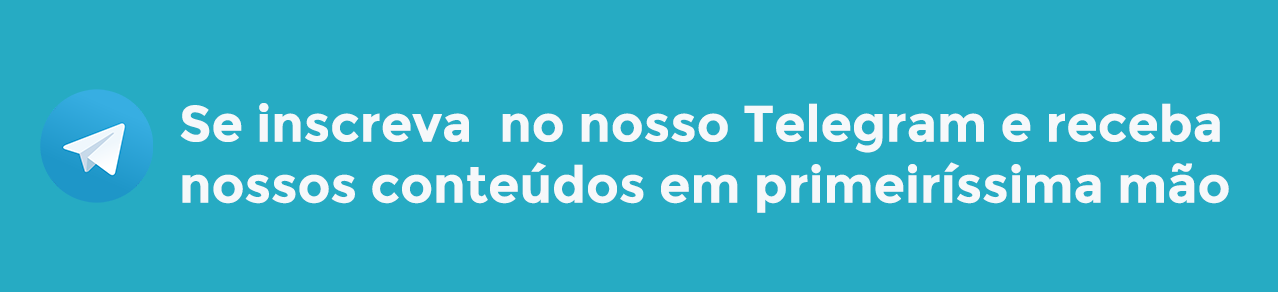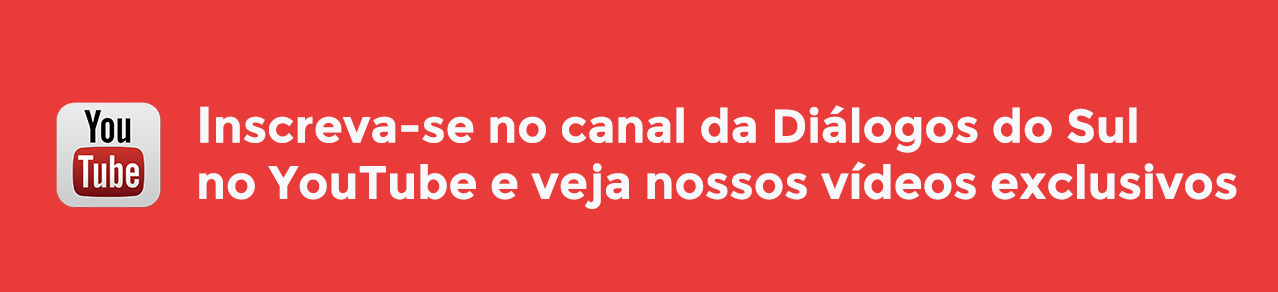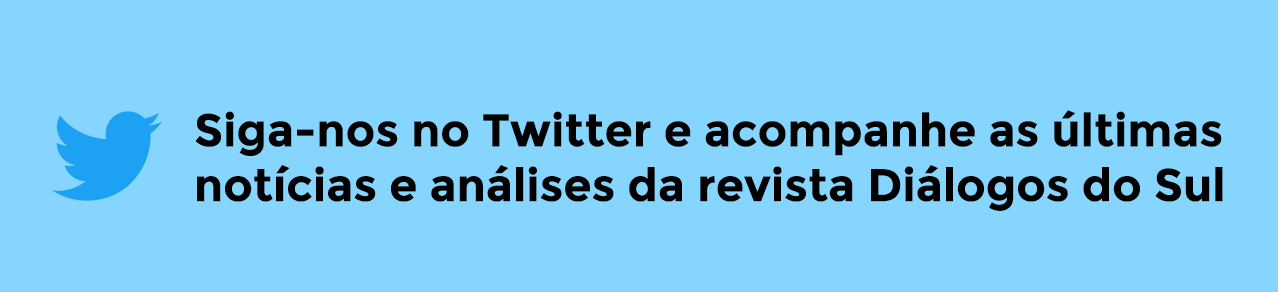Conteúdo da página
ToggleA história de três mulheres ilustra bem o perfil de combatentes da Independência da Bahia e o porquê de historiadores locais defenderem que foi por aqui onde aconteceu a verdadeira Independência, tese que é defendida, por exemplo, pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues – primeiro indígena eleito no Estado. Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa compõem uma tríade considerada heroína da Independência. A vida das três ainda é objeto de disputa e estudos mesmo 200 anos após o 2 de Julho de 1823 – especialmente as duas Marias. Mas o que faz delas três tão especiais para uma data cívica desse porte para o Brasil? É o que tentaremos explicar nas próximas linhas.
Historiadora e integrante do programa de Pós-graduação em História da UFBA como mestranda, onde pesquisa a construção da memória histórica produzida sobre Maria Quitéria de Jesus nos séculos XIX, XX e XXI, Marianna Teixeira defende que Maria Quitéria e Maria Felipa são provas de um universo que ainda pode ser descoberto em relação à historiografia nacional. Elas são nomes que sobreviveram ao tempo – no caso de Maria Felipa, ainda mais, por sobreviver graças à oralidade – e podem ajudar a quebrar estereótipos sobre a participação feminina na vida social brasileira em séculos passados.
Ela saiu em defesa da comunidade de irmãs que vivia no local e da ideia de que a Igreja precisa ser preservada, independente do contexto. Acredito que Joana Angélica seja um nome que merece figurar, com maior atenção, não somente na história da Independência do Brasil, mas na história da Igreja Católica da Bahia
Dom Sergio da Rocha | Arcebispo de Salvador
A primeira das três a entrar de fato na guerra foi a abadessa Joana Angélica. De maneira trágica. Era 19 de fevereiro de 1822, antes mesmo do famoso grito de Independência ou Morte às margens do Rio Ipiranga, quando militares portugueses invadiram o Convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa por suspeitarem que rebeldes brasileiros se escondiam no local sagrado para a tradição católica. Dias antes, Salvador fora tomada por brigas e trocas de tiros entre brasileiros insatisfeitos com decisões vindas de Portugal e com a nomeação de Inácio Luís Madeira de Melo como brigadeiro na Bahia.
7ª Marcha das Margaridas retorna a Brasília com maré de mulheres em luta por democracia
O primeiro a sofrer com a fúria portuguesa foi o capelão Daniel Lisboa, que apanhou antes de cair desmaiado no chão. Segurando sua cruz, Joana Angélica, uma mulher de 60 anos, tentou impedir a entrada das tropas em seu convento e foi morta com golpes de baioneta, aquela arma com uma lança na ponta.
Arcebispo da Bahia e primaz do Brasil, dom Sergio da Rocha defende que o ato de Joana Angélica vai além do patriotismo, tendo, também, uma importância religiosa que ajudou a provocar a comoção social decorrente de seu assassinato. “Ao ali colocar-se, ela saiu em defesa da comunidade de irmãs que vivia no local e da ideia de que a Igreja precisa ser preservada, independente do contexto. Acredito que Joana Angélica seja um nome que merece figurar, com maior atenção, não somente na história da Independência do Brasil, mas na história da Igreja Católica da Bahia”, aponta.
A abadessa iniciou seu noviciado quatro décadas antes de sua morte. Viveu no Convento, então ligado à Ordem da Imaculada Conceição, desde esse início. Sua morte comoveu a sociedade baiana da época e ajudou os rebeldes a consolidarem o discurso contra a violência portuguesa. Inácio Luís Madeira de Melo passou a ser conhecido como “Malvado Madeira”. Isso ajudou a resistência, que fugiu, num primeiro momento, para a cidade de Cachoeira, no Recôncavo.

Projeto Colabora | Montagem
A religiosa Joana Angélica, a escravizada Maria Felipa e a combatente Maria Quitéria foram protagonistas na expulsão dos portugueses
Movimentos pela beatificação
Uma das grandes provas da comoção gerada pela morte de Joana Angélica foi uma poesia escrita pela garota Urânia Vanério, de 10 anos, que assinava como ‘Uma Baianinha’, publicado no Rio de Janeiro por Ângelo da Costa Ferreira, logo depois do assassinato. “Há de perder-se a Bahia/ Para governar Madeira?/ Ter poderio, Excelência/ Hão de os Baianos sofrer/ Dos Lusos tanta insolência?”, dizia um dos primeiros versos, como recorda Marianna Teixeira.
Segundo biografia disponibilizada pela Arquidiocese de Salvador, Joana Angélica era filha de uma família de aristocratas, que não se opuseram ao desejo da filha, ainda jovem, em seguir carreira religiosa. Seus pais se chamavam José Tavares de Almeida e Catarina Maria da Silva. O cargo que ela ocupava ao ser executada, o de abadessa, é o máximo na hierarquia do convento. E ela o assumiu por duas oportunidades. Primeiro, de 1815 a 1817. Depois, de 1821 até seu assassinato.
Brasil em reconstrução: mulheres, salário e saúde triunfam nos primeiros 100 dias de Lula 3
Na Bahia, existem movimentos pela beatificação da heroína do 2 de Julho: em 2001, a Arquidiocese de Salvador pediu a inclusão de documentos comprobatórios de seu martírio em defesa da fé, o que poderia torná-la santa mesmo sem comprovação de milagres. A arquidiocese não respondeu sobre o status desses estudos.
 Estátua de Joana Angélica em Feira de Santana: filha de produtor rural se fingiu de homem para lutar pela Independência (Foto: Joá Souza / Governo da Bahia)
Estátua de Joana Angélica em Feira de Santana: filha de produtor rural se fingiu de homem para lutar pela Independência (Foto: Joá Souza / Governo da Bahia)
Com as roupas do cunhado
No meio desse turbilhão, uma moça, que cresceu no campo, levava a vida junto aos pais. Uma vida que culminaria no feito de se tornar a primeira militar do Brasil. Pelo menos a primeira reconhecida, como pondera Marianna Teixeira. “Me perguntam em sala de aula se ela foi a única mulher a se alistar no Exército, mas quem garante que não houve outras com a mesma ideia de Maria Quitéria, de se fingir de homem, e que não foram descobertas? É algo que nunca iremos saber”, reflete.
Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792, no Recôncavo baiano, mais especificamente no sítio do Licorizeiro, numa região chamada de São José das Itapororocas. Ela cresceu na zona rural e não tinha instrução. Com 10 anos de idade, a mãe faleceu; o pai Gonçalo se casou outras duas vezes, até se estabelecer, com Maria Quitéria e seus outros filhos, Luiz e Josefa, a Serra da Agulha, onde hoje fica a cidade de Tanquinho (perto de Feira de Santana).
Após algumas semanas, seu pai, que estava a sua procura, conseguiu reconhecê-la entre os soldados e solicitou ao comandante do batalhão a sua retirada. O chefe militar falou das habilidades dela e pediu que Maria Quitéria escolhesse entre voltar para a fazenda ou seguir no batalhão por amor à pátria
Marianna Teixeira | Historiadora e pesquisadora
Segundo os biógrafos de Maria Quitéria, ela tinha muitos conflitos com a segunda madrasta, Maria Rosa de Brito, que queria a enteada em casa, preparando-se para o matrimônio, aprendendo afazeres femininos. Quitéria gostava de cavalgar, caçar e atirar. “Maria Quitéria não era uma menina extraordinária por querer coisas entendidas como de menino. O que a gente tem hoje em dia como atividades femininas daquela época não era seguidas por muitas mulheres. A maior parte delas eram pobres, que precisavam trabalhar e participar da vida da família. Elas não pensavam em viver na clausura do lar, cuidando da casa. Era uma atividade muito voltada para mulheres de classe mais abastadas, com a opção de não trabalhar”, diz a historiadora.
Marianna relata que, já em 1822, emissários da junta do governo provisório criado em Cachoeira chegaram à fazenda de seu pai em busca de voluntários para as batalhas de expulsão dos portugueses. Ele não tinha filhos homens maiores de idade, por isso os emissários não conseguiram ninguém. Ou quase isso. Maria Quitéria ouviu a conversa e quis se alistar: ora, ela atirava bem, cavalgava, conhecia territórios. Por que não? Contou ao pai que queria. Enfrentou resistência. E fugiu, com ajuda da irmã.
Ela se vestiu como homem, utilizando o fardamento do cunhado e assumindo a identidade dele, José Medeiros. Josefa ainda cortou os cabelos da irmã. E foi assim que ela se apresentou, como soldado Medeiros, ao batalhão instalado na região. Mas o disfarce não durou. “Após algumas semanas, seu pai, que estava a sua procura, conseguiu reconhecê-la entre os soldados e solicitou ao comandante do batalhão a sua retirada. O chefe militar falou das habilidades dela e pediu que ela escolhesse entre voltar para a fazenda ou seguir no batalhão por amor à pátria”. Ela seguiu.
Por uma Salvador feminista, antirracista e justa: Maria Marighella é eleita em Salvador
Nas batalhas pela Independência, Maria Quitéria teve uma atuação marcante. Sua primeira missão se deu em 29 de outubro de 1822, organizando a defesa da ilha de Maré no III Batalhão de Infantaria. Logo depois, na Batalha de Pirajá, contribuiu para impedir que as tropas portuguesas chegassem ao Recôncavo Baiano por terra.
Na última batalha que comandou, Maria Quitéria e cerca de 40 mulheres entraram no rio Paraguaçu, nadaram até ficarem com água à altura dos seios e lutaram contra os portugueses para que as barcas inimigas não chegassem à Baía de Todos os Santos. Seus feitos ficaram famosos: após a guerra, desfilou ao lado do comandante da tropa, sob um arco de louro e flores do campo ornamentado por freiras do Convento da Soledade.
 Quadro Alegoria ao 7 de Janeiro, de Mike Sam Chagas, retrata batalha no Rio Paraguaçu: Maria Felipa aparece com uma tocha na mão (Reprodução)
Quadro Alegoria ao 7 de Janeiro, de Mike Sam Chagas, retrata batalha no Rio Paraguaçu: Maria Felipa aparece com uma tocha na mão (Reprodução)
Maria Quitéria encontrou o próprio Dom Pedro I, a convite do Imperador, no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1823 a bordo do navio Leal Português. Três dias depois, o imperador a recebeu junto ao corpo diplomático, além de ministros, deputados e a viajante e escritora inglesa Maria Graham – que se apaixonou por sua história e é apontada como sua primeira biógrafa.
Oralidade, memória e resistência
A última personagem dessa tríade é, com o perdão da opinião, a mais emblemática. Uma mulher negra, que foi fundamental para bloquear o acesso de suprimentos portugueses a Salvador pela Ilha de Itaparica e resiste na memória e no orgulho de Itaparica, da Bahia e do 2 de Julho – mesmo que alguns levantem dúvidas se ela existiu mesmo ou não.
Um dos primeiros livros a trazer informações mais concisas sobre Maria Felipa de Oliveira foi lançado em 2010 por Eny Kleyde Vasconcelos Farias. Sua obra “Maria Felipa de Oliveira – Heroína da Independência da Bahia” cita que praticamente não existem registros históricos atestando a existência da protagonista. Algo que, segundo a historiadora Marianna Teixeira, pode mudar muito em breve.
Não há documento que comprove que ela existiu. Mas não é uma questão; ela está muito viva na memória histórica não só da Ilha de Itaparica, como da Bahia. Ela é um exemplo de força e resistência muito forte
Marianna Teixeira | Historiadora e pesquisadora
Antes dessa publicação, o nome de Maria Felipa esteve presente na oralidade, sempre aparecendo, por exemplo, ao lado de Joana Angélica e Maria Quitéria nos cortejos do 2 de Julho e sendo alvo de admiração. Também apareceu no livro A Ilha de Itaparica: História e Tradição, escrito pelo itaparicano Ubaldo Osório Pimentel, avô do escritor João Ubaldo Ribeiro, que levou a personagem para a ficção (no romance Viva o Povo Brasileiro) em representação que incomoda a historiadora.
“João Ubaldo fala que Maria Felipa era uma negra estabanada e corpulenta, algo bem animalizado, como se ela não tivesse uma inteligência. Há suposição de que ela tenha lutado com Maria Quitéria na Bacia do Paraguaçu em abril de 1823, mas isso não tem respaldo documental. Mas presença dela enquanto comandante e combatente na guerra de independência é muito forte”, pontua.
Segundo o livro de Eny Kleyde Vasconcelos, Maria Felipa era uma escrava liberta. Uma mulher negra, de alta estatura, que trabalhava como marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Era capoeirista e liderou um grupo de mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes, que vigiava a praia dia e noite a fortificando com trincheiras para prevenir a chegada das tropas portuguesas.
Maria Conga: a quilombola e heroína que teve busto vandalizado em Magé (RJ)
Pelo relato, conhecia a Ilha de Itaparica com a palma das mãos e por isso foi fundamental para a resistência no interior das matas. Além de ajudar a impedir a chegada de suprimentos portugueses a Salvador, Maria Felipa também atuou na organização do envio de alimentos para o Recôncavo, onde começou a resistência brasileira nas batalhas do 2 de Julho.
Sobre o atestado de sua existência, Marianna Teixeira relatou que há expectativa da divulgação de materiais de estudos do professor Milton Moura, da Universidade Federal da Bahia, anulando essa sina.
“Até então, não há documento que comprove que ela existiu. Mas não é uma questão; ela está muito viva na memória histórica não só da Ilha de Itaparica, como da Bahia. Temos lembrado muito da presença dela porque é um lembrete de que mulheres negras participaram das lutas, não foram, como aprendemos muitas vezes na escola, apenas mulheres escravizadas – essa ideia de que sempre perdemos. Ela é um exemplo de força e resistência muito forte”, diz a historiadora.
Não conseguimos contato com o professor Milton Moura para falar sobre os documentos comprobatórios da vida de Maria Felipa. Marianna Teixeira diz que aguarda com ansiedade a divulgação do material.
Mulher, preta, pioneira e ícone do jornalismo brasileiro: Glória Maria é eterna
Professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Gilberto Mendonça aponta que que ela teria nascido na própria Ilha de Itaparica e estima-se que sua morte aconteceu em 4 de julho de 1873.
No livro, Eny Kleyde relata que ela seria descendente de sudaneses e sua atuação no 2 de Julho começou com um alistamento na Campanha da Independência, que reunia índios, negros livres e escravizados — africanos e brasileiros e até alguns portugueses, que eram a favor da independência do Brasil, e que organizavam a resistência na ilha.
Ela era líder das chamadas vedetas, espécie de vigias que monitoravam o movimento de barcos nas águas da ilha. Nas batalhas, a tradição oral relata que elas tinham algumas alternativas, como, por exemplo, a famosa surra de cansanção, que é uma planta venenosa, que produz uma coceira muito incômoda e, em alguns casos, até queimaduras.
Também há relatos de que as mulheres aproveitavam as roupas largas para esconder armas como as peixeiras que utilizavam em seus próprios trabalhos, ou mesmo disfarces misturando as folhas de cansanção a flores e outros ramos, como se estivessem enfeitadas quanto, na verdade, estavam prontas para matar e defender seus ideais.
Vinícius Nascimento | Jornalista, formado pela Universidade Federal da Bahia, e tem passagens por veículos como TV Band, Jornal Correio e Instituto Mídia Étnica.
Projeto Colabora
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Assista na TV Diálogos do Sul
Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.
A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.
Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:
-
PIX CNPJ: 58.726.829/0001-56
- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui
- Boleto: acesse aqui
- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui
- Transferência bancária
Nova Sociedade
Banco Itaú
Agência – 0713
Conta Corrente – 24192-5
CNPJ: 58726829/0001-56 - Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br
- Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui
- Acompanhe nossas redes sociais:
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram