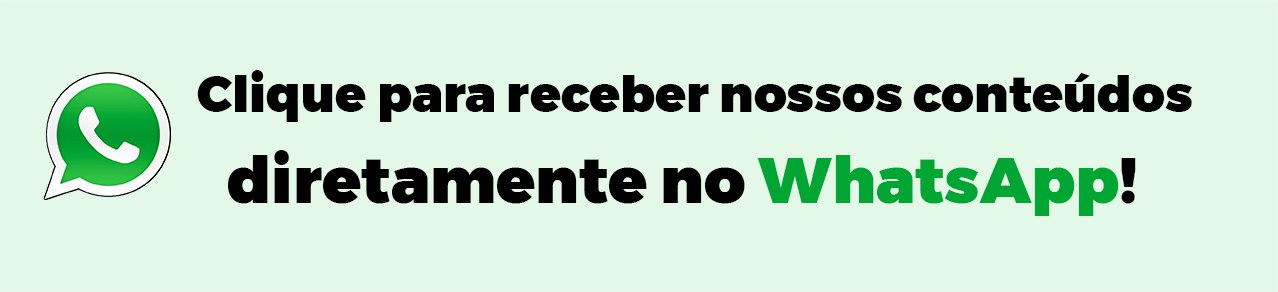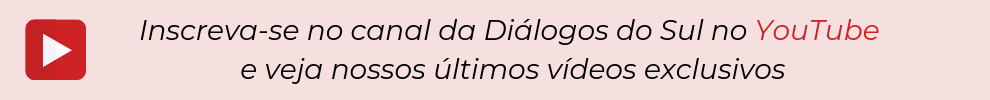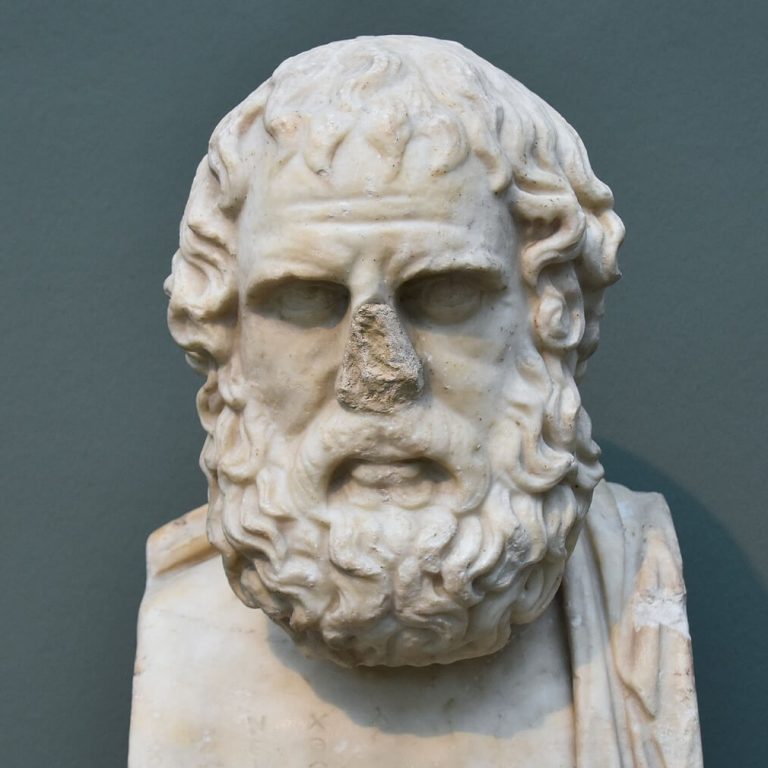Os governos do mundo anunciam recortes à cultura em nome da economia (ser supremo da teodiceia contemporânea). O paradoxo é que as pessoas sobrevivem ao encerro graças à cultura. Há séculos que o esforço de lavar roupa se supera cantando.
Churchill assegurava que a Grã-Bretanha ganhou a guerra por não ter fechado os teatros. Um povo que representa Hamlet durante os bombardeios não pode ser vencido. O gosto do primeiro ministros pela pintura e a literatura foi vista por seus colegas como uma extravagância similar à sua dedicação aos charutos e ao uísque, e teve algumas repercussões imprevistas (o nome da banda de jazz-rock Blood Sweat and Tears surgiu do mais inflamado de seus discursos e a academia sueca aperfeiçoou sua lista de erros ao conceder-lhe o Prêmio Nobel de Literatura).

A contraditória e carismática figura do lendário bulldog inglês não deixará de inspirar filmes e séries de televisão. Além das circunstâncias de sua vida, convém resgatar uma de suas convicções: a política carece de sentido à margem da arte. Há alguns dias, em uma carta ao ministro da Cultura da Espanha, o diretor de teatro Luís Pasqual recordou uma frase de Churchill: “Se sacrificamos nossa Cultura… alguém pode explicar para que fazemos a guerra?”
Tem sentido sair do encerro em países sem teatros, galerias, livrarias ou salas de concertos? Os artistas não parecem prioritários em tempos de emergência. Se suprimem os apoios a eles, ignorando que as pessoas necessitam gratificação estética. Em tempos desprovidos de grandeza ninguém toma uma tribuna parlamentar com o ânimo de Churchill, por não dizer com sua retórica.
No entanto, a crise sobrevive graças a que as pessoas imaginam. Para sair do presídio mental, alguns compartilham memes, gifs ou tuítes, outros recitam poemas, se fantasiam, cantam, conversam pelo telefone ou Skype, sonham, escutam os sonhos de outros. Milhares de artistas presentearam pela internet suas obras de teatro, seus filmes, seus livros, seus concertos. A espécie resiste através de formas de representação da realidade (eliminada dos orçamentos públicos como a parte mais prescindível da realidade).

Wikimedia Commons
No “Grande inquisidor”, capítulo dos Irmãos Karamazov, Dostoievski refletiu sobre o eterno dilema das prioridades humanas. Ivan, o irmão intelectual, conta uma parábola a Aliosha, o irmão religioso. No século XVI, um velho inquisidor sevilhano torna a ver Cristo e o prende porque seu regresso põe em dúvida os ensinamentos de uma Igreja que se afastou de sua pregação. O ancião explica ao messias o pior de seus erros. Quando ouviu a voz de Deus no deserto, podia ter pedido qualquer coisa; o Pai Eterno lhe ofereceu conceder-lhe pão para toda a humanidade. Assim Jesus poderia alimentá-la para sempre, controlar sua economia, submetê-la ao seu jugo. Sua resposta foi desconcertante: “Nem só de pão vive o homem.” A que se referia? Jesus preferiu promover a liberdade, mesmo arriscando que fosse usada contra ele.
Já na cruz, poderia ter acudido a um milagre, subir aos céus escoltado pelos anjos. Mas não quis impor sua fé com um truque. As pessoas deviam decidir livremente se acreditavam nele ou não. Os milagres e a repartição do pão são coações. Ivan apresenta a história como um fracasso do cristianismo (um sacrifício inútil em nome da liberdade); Aliosha o entende como um triunfo da fé sem ataduras. Entre ambos, media outra figura. Dostoiévski sugere que o pão e a liberdade são inseparáveis. Imaginar que o trigo possa ser assado e partilhá-lo são atos culturais. Dar-lhe preço é outra coisa. Em 1929, escreveu Federico García Lorca: “Não só de pão vive o homem. Eu, se tivesse fome e estivesse desvalido na rua não pediria um pão; mas sim pediria meio pão e um livro. E eu ataco aqui violentamente os que só falam de reivindicações econômicas sem nomear jamais as reivindicações culturais que é o que os povos clamam a gritos”. A metade de nossa existência é imaginária; o sabor do pão depende da liberdade.
A civilização começou em torno de uma fogueira. Os governos do mundo deveriam saber que isso serviu para três coisas imprescindíveis: esquentar as mãos, preparar comida e contar histórias”.
Juan Villoro, Escritor venezuelano e colaborador da Diálogos do Sul.
As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul
Veja também