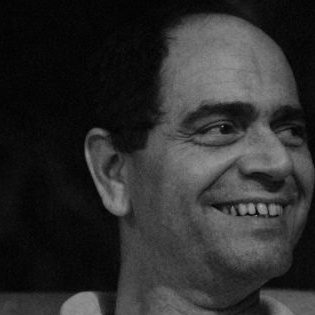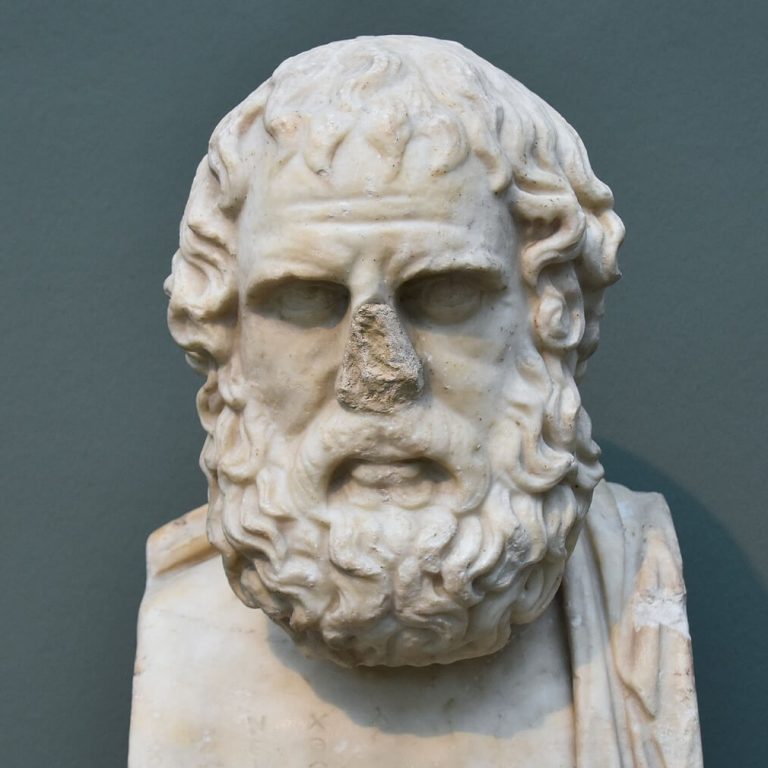Após “A Peste”, obra em que desenvolveu com profundidade o conceito existencial da solidariedade humana, Albert Camus escreveu “A Queda”, onde as esperanças sociais parecem se desvanecer, pois, quase todo ser inteligente sonha em ser gangster e imperar sobre a sociedade unicamente pela violência, “com isso, envereda-se geralmente pela política e corre-se para o partido mais cruel”.
“Não podemos afirmar a inocência de ninguém enquanto não pudermos afirmar com segurança a culpabilidade de todos”. Em outras palavras, encontramos em nossa própria consciência razões suficientes para sabermos que o ser humano possa a vir praticar todos os tipos de crime.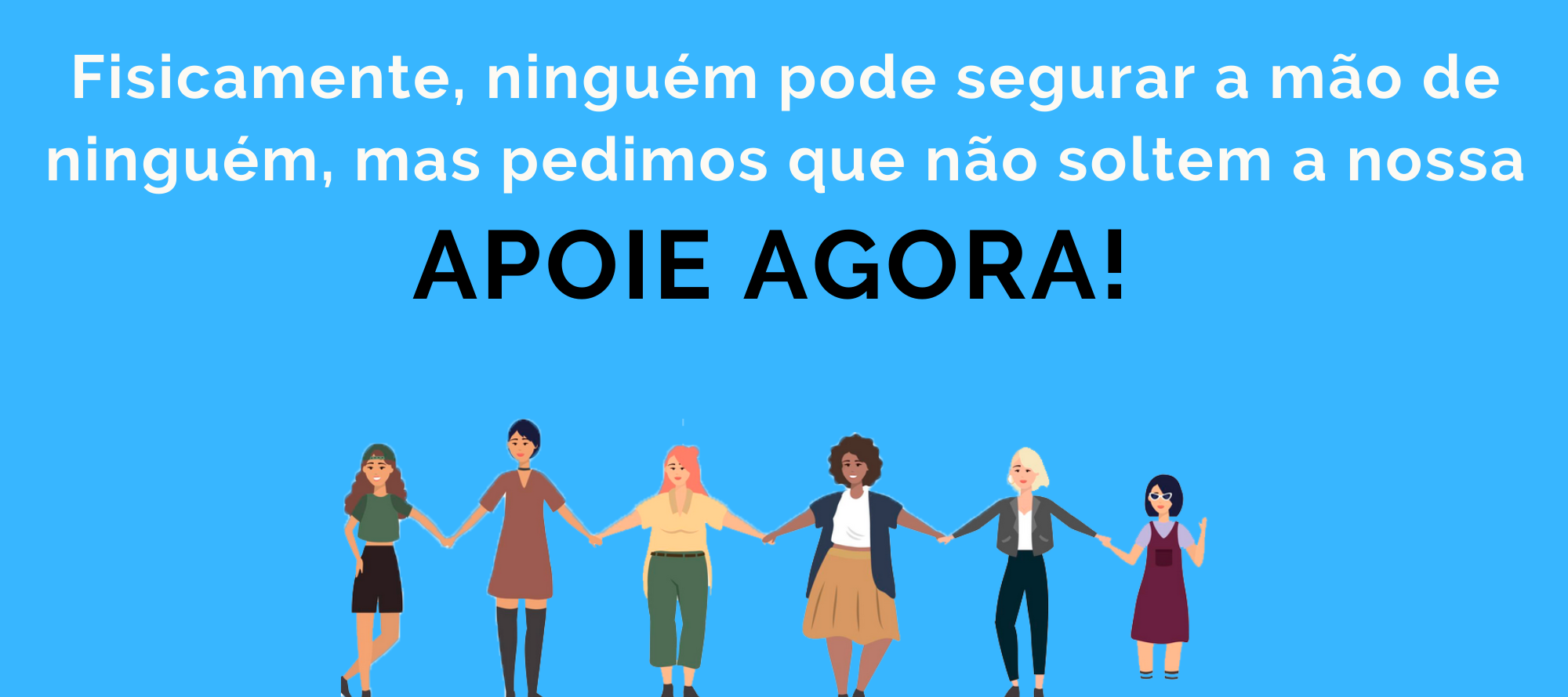
Em um bar de marinheiros em Amsterdã, denominado México-City, numa referência ao Terceiro Mundo, conheceremos Clamence. Nesse local, os clientes são servidos por um holandês de “estrutura granítica”, destes que não sentem seu autoexílio, apenas seguem um caminho na vida, o caminho sem reflexão e que, “por não possuírem segundas intenções, nada os atrapalha”. Também por entenderem pouco sobre o que se diz, assumem a postura de desconfiados com tudo e com todos.

Reprodução: Wikiemedia
Albert Camus 1913 – 1960
O barman holandês é o contraponto de Clamence, assim como do meio social em que este vive, onde aquilo que conta é “quem irá arruinar o outro”.
Teremos um longo monólogo do parisiense Clamence, outrora advogado de prestígio, que procura descobrir em que momento principiou a “sua queda”. Com nojo de si mesmo, ele abandonara Paris e confessa sua culpa a desconhecidos dizendo que “jamais tivera senão boas intenções”.
Após um longo percurso da vida descobrira que a profissão de advogado, assim como a de juiz, incorpora a hipocrisia na qual se julga a quem se defende, como se o próprio advogado e o juiz, não fossem por sua vez, culpados. Além do mais, “quantos crimes são cometidos simplesmente porque seu autor não pode suportar estar em falta”!
“Afinal de contas, viver no alto é a única maneira de ser visto e saudado pela maioria das pessoas. Aliás, alguns de meus clientes criminosos tinham, ao matar, obedecido ao mesmo sentimento”.
Quanto à sua queda, ele descobre que ela ocorreu em todos os momentos vividos e, com isto, retrocede no tempo à medida que retoma o passado. Esse longo processo se encerra em Amsterdã, uma cidade que “é o âmago das coisas, os canais concêntricos se parecem com os círculos do inferno, inferno burguês, povoado de maus sonhos”. Aqui os crimes se tornam mais espessos, mais obscuros. “Aqui estamos no último círculo”, referindo-se ao nono círculo do inferno de Dane, habitado pelos traidores.
“No fundo, nada contava. Guerra, suicídio, amor, miséria, eu não lhes prestava atenção, claro que quando as circunstâncias me obrigavam a isso, mas de modo cortês e superficial… sim, tudo resvalava sobre mim”. “Em suma, só me preocupei com os grandes problemas nos intervalos de minhas pequenas derrapadas”. Afinal, “assim foi a minha vida. Nunca tive necessidade de aprender a viver… Há pessoas cujo problema é resguardar-se dos homens ou, pelo menos, acomodar-se a eles. Quanto a mim, a acomodação estava perfeita”.
“Nenhum homem é hipócrita nos seus prazeres”.
Essa franqueza incita seus interlocutores a confessarem que não valem muito mais que ele. É o que esperava Clamence. Tendo adquirido por suas confissões o direito de julgar os demais, autoriza-se a si mesmo todos os vícios. “Eu tinha é claro, princípios, como o que a mulher dos amigos era sagrada. Por isso, simplesmente cessava dias antes, a amizade com os maridos”.
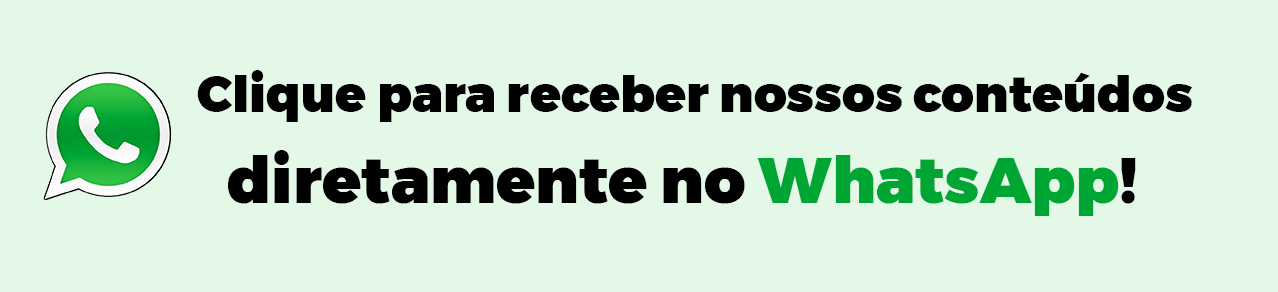
Amava as mulheres “segundo a expressão consagrada, o que é o mesmo que dizer que nunca amei nenhuma”. Buscava apenas objetos de prazer e conquista, sendo um “observador da paixão”.
Para Clamence assim é o ser humano, ele não consegue amar sem amar-se primeiro. “Eles têm a necessidade da tragédia, o que se pode fazer?”
“Sabe por que somos mais generosos, condescendentes e até mais justos para com os mortos? A razão é simples, para com eles já não existem obrigações… Se nos impusessem algo seria a memória e nós temos a memória curta. Não é ao morto que nós amamos em nossos amigos; o morto doloroso, a nossa emoção, é para nós mesmos”. De toda forma, “a morte é sempre solitária, enquanto a servidão é coletiva”.
No passado, os traficantes de escravos deixavam a placa de suas atividades na porta, pois “não se escondia o jogo naqueles tempos… “A escravatura, ah, somos contra! Afinal, vivemos abaixo da dureza de coração de nossa classe dirigente e sob a hipocrisia de nossas elites. “Que se seja obrigado instalá-la em sua casa ou nas fábricas, bom, é a ordem natural das coisas, mas vangloriar-se disso é o cúmulo”.
Que os homens têm suas imperfeições, que muitos vivem na hipocrisia, quem o duvida? Acontece que aos homens não se lhes perdoa a felicidade e nem o sucesso, a não ser sob a condição de que este seja repartido. A única defesa do homem está na maldade e as pessoas apressam-se a julgar para não serem julgadas. Afinal, cada homem é testemunha do crime de todos os outros.
Alguns cristãos têm exigido a pureza em nome da religião, alguns ascetas em nome da filosofia. “Um grande cristão amigo meu reconhecia que o primeiro sentimento que experimentamos ao ver um mendigo se aproximar de nossa casa é o de desagrado”.
Quanto aos mártires da humanidade ou são esquecidos ou ridicularizados, ou ainda, usados. “Quanto a serem compreendidos, nunca”. Falando de Cristo, diz que o Mestre recorda as crianças massacradas na Judeia, crimes comandados por Herodes, e que esses crimes ‘perpetrados por sua causa’, o teriam acompanhado até o Calvário. “Ele queria que o amassem, nada mais”. “Por que me abandonaste? Era um grito subversivo, não acha?”
Os homens, ao contrário de Cristo, facilmente se consideram profetas, “é isso o que sou um profeta vazio para tempos medíocres”. Cristo não foi esquecido e nem ridicularizado, simplesmente, usado e jamais compreendido.
Sempre será preciso que algo esteja acontecendo, eis a explicação da maior parte dos compromissos humanos. “É preciso que algo aconteça mesmo a servidão sem amor, mesmo a guerra ou a morte…” Talvez por isso mesmo, Clamence declara não ter mais amigos, apenas cúmplices. “Em compensação seu número (o de cúmplices) aumentou, é todo o gênero humano… e aquele que está presente é sempre o primeiro”.
Depois dessa breve resenha, em que se funda, afinal, o rigor analítico de Clamence?
Em nada, dado que ele confessa jamais haver conseguido acreditar que os assuntos humanos seriam coisa séria. Pode-se ver, às vezes mais claramente naquele que mente do que no ser que fala a verdade. A verdade, pois, como a luz, cega. A mentira é “como um belo crepúsculo, que valoriza cada objeto”.
O livro abunda em fórmulas tão paradoxais como essa, brilhantes, mas o que conclui? Não se sabe muito bem. “No jogo de espelhos entre a confissão do autor e a do personagem, o exorcismo e a comédia, a verdade e a mentira, mudam os seus reflexos”, nos diz Brisville. . Admiramos um estilo, um humor; surpreende-nos a amargura de uma ironia que dissolve todas as coisas.
A dizer a verdade, as loucuras dos homens justificam opessimismo. “Não é uma queda, diria Thiébaut, o caminho dos humanos é uma rua sem saída”.
“A Queda” foi publicada em 1956, e, em 1957, Camus foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Numa elegia póstuma a Albert Camus, Jean-Paul Sartre descreveu o romance como “talvez o mais belo e menos compreendido” dos livros de Camus.
Mas ao final do romance, falta cuidar da vida! E “A Queda” não é a última palavra de Camus. Ela virá no “O Homem Revoltado”, porquê a revolta presta sentido à existência, como nos ensina Maurois.