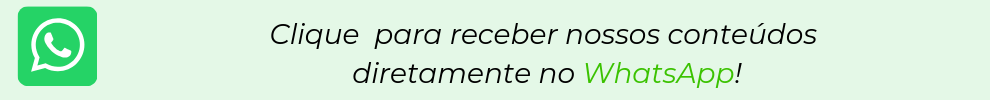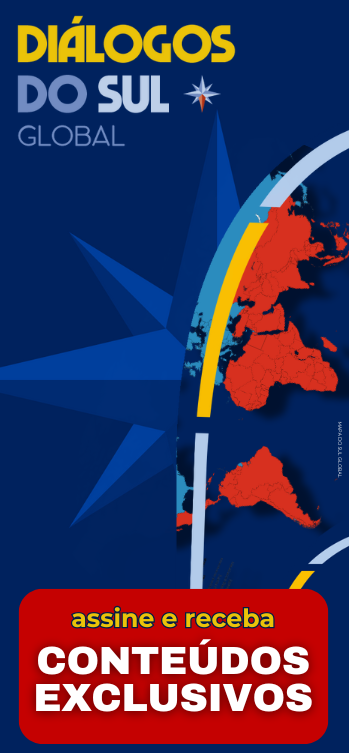Eu estava em uma sala envidraçada por todos os lados, no último andar de um prédio imensamente alto. A vista é de uma cidade tingida de um tom cinzento desgastado, como uma ferrugem que não tem mais o que corroer. Aos poucos, os prédios começam a ruir, desabando de forma abrupta, ainda que ritmada – como se houvesse uma certa sinfonia naquele caos. Logo são as edificações mais próximas que se desfazem – não vejo o chão, mas sei que tudo tende a ele. Sinto uma estranha calma quando me vem à mente que o prédio em que eu estava seria o próximo a vir abaixo. Quando o vidro à minha frente trinca, no exato momento em que quebraria, acordo assustado e ofegante.
Em volta, tudo que me é familiar. O vidro da janela do quarto está intacto.
Mas e o vidro daquele prédio em que eu estava há pouco minutos, terá quebrado?
Tive este sonho algumas noites atrás. Eu havia passado o dia anterior todo lendo sobre o corte de investimentos nas universidade públicas. Como um ex-aluno de uma destas instituições, me vi entristecido e um tanto desistido. Os comentários nos sites (nunca se deve ler os comentários; eu sempre leio os comentários) davam voz a uma turba odiosa que vociferava em torno de palavras como “balbúrdia”, “vagabundagem” e “comunismo”. Falo para um amigo que o assustador é que nada mais é silenciado, tudo é dito às claras, mesmo o mais feroz impropério. A maldade e seu programa de extermínio são acessíveis a todos: nos noticiários, nos programas de rádio, nas esquinas, nas noitadas com os amigos, nos supermercados, no trânsito, nos bares, na nossa xícara de café, nos cadarços dos nossos sapatos, nos lençóis em que nos deitamos, nos intervalos para dar uma volta, nas voltas que fazemos para ensaiar uma revolta. Viver no Brasil, nos últimos tempos, tem sido este esforço de ensaiar uma revolta sem palco nem plateia. Não há bastidores, tudo é explícito, transparente.
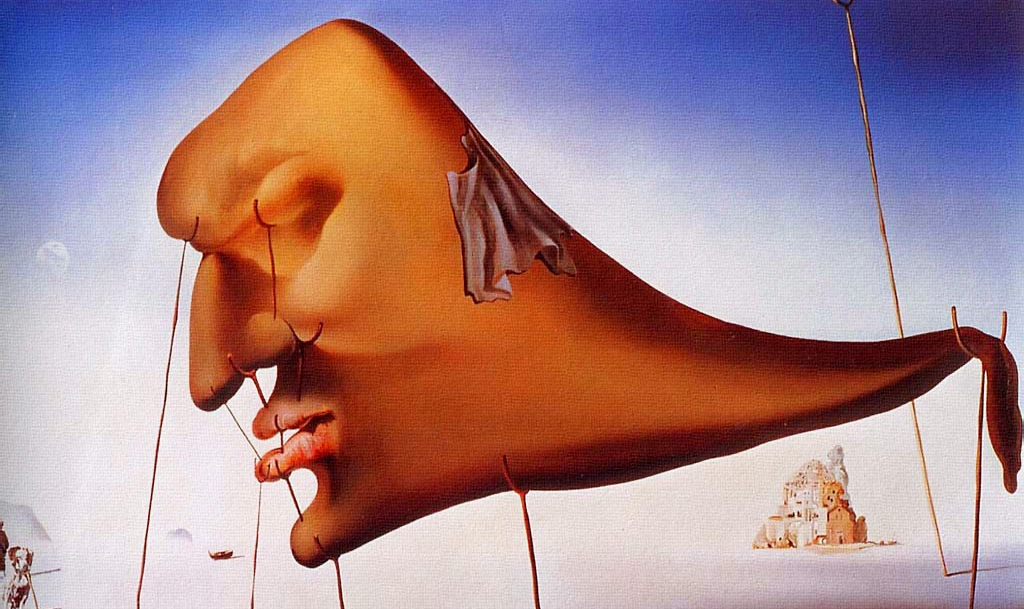
O Sono, de Salvador Dali (Reprodução)
Meus amigos não têm dormido bem – talvez porque estejamos todos despertos dentro de um pesadeloContinua após o anúncio
A primeira associação do sonho remete a uma frase de Walter Benjamin, filósofo alemão falecido em 1940: “As coisas de vidro não têm nenhuma aura”. Como desisti de dormir, fui para o meu consultório, ainda que muito mais cedo do que costumo. Lá, peguei da prateleira o livro de Benjamin e li a citação completa: “Não é por acaso que o vidro é um material tão duro e tão liso, no qual nada se fixa. É também um material frio e sóbrio. As coisas de vidro não têm nenhuma aura. O vidro é em geral o inimigo do mistério”. Senti-me lido pela escrita de Benjamin: “frio e sóbrio” é justamente como eu estava no sonho, momentos antes de acordar, à espera do desabamento. Dizem que os gaúchos são estetas do frio. Talvez. Mas também diziam que caminhávamos para a esquerda – na verdade, talvez apenas mancássemos.
Com o livro em mãos, uma segunda associação: a palavra catástrofe. Sempre gostei de etimologia – me interessa saber de onde vêm as palavras das quais nós viemos. Catástrofe é uma palavra cuja etimologia ficou marcada na minha memória: do grego “katastrophe”, onde katha significa “para baixo” e strophein, “virar”. Virar de cabeça para baixo – ou “vir abaixo”, portanto. Os heróis gregos estavam sujeitos à catástrofe, uma vez que é próprio da tragédia virar a vida de cabeça para baixo. No dia anterior, uma notícia lida sobre a Copa do Mundo no Catar (katha…) e a lembrança de um pensamento fugidio: “Se é que vai existir o Brasil até lá”.
Strophein talvez tenha a ver com “estrofe”, não tenho certeza. No meu vocabulário íntimo, tem. Uma catástrofe, então, como um reviramento de estrofes. Adorno, outro filósofo, perguntava se ainda seria possível fazer poesia depois de Auschwitz. Minha resposta foi sempre: a única coisa que se pode fazer depois do horror é poesia. Com todo o respeito a Adorno, todos nós somos feitos de poesia.
Por fim, uma última associação, essa mais tardia, no final da manhã: um sonho recorrente de infância. Não sei bem com que idade, talvez uns 6 ou 7 anos, eu sonhava, noite sim, noite não, com o seguinte enredo: eu estava com um grupo de amigos em um descampado ermo e muito amplo. De repente, começávamos a escutar um barulho; no começo, algo muito distante. Aos poucos, entretanto, este som ficava cada vez mais forte, até que víamos erigir-se frente a nós uma enorme horda de monstros das mais variadas espécies – os dentes são enormes e parecem famintos (as fantasias de infância insistem na temática da devoração). Colossais, essas criaturas não nos percebem, o que nos faz crer que seremos inevitavelmente pisoteados. Quando nosso destino já parecia escrito, surge ao fundo um robô ainda maior que os monstros, prateado e brilhante, que fulmina todos as criaturas com um raio vermelho.
Estávamos salvos – e eu podia seguir dormindo.
Os colegas psicanalistas que trabalham com crianças verão aí, certamente, um típico sonho de angústia – ou melhor, de saída da angústia. Frente à devoração inevitável, surge esse pai bondoso e potente que salva a mim e aos meus companheiros.
Muitos amigos têm me falado de problemas para dormir, de uma insônia que tem tomado conta desde o começo do ano. Freud dizia que o sonho é uma espécie de guardião do sono: enquanto sonhamos, nos mantemos dormindo. Resistimos à dureza da realidade com as imagens oníricas: quando estamos com sede, sonhamos que estamos vagando pelo deserto. O despertador se transforma em um sino badalando dentro da narrativa do sonho. Um quarto frio, uma expedição ao Alaska. Meus amigos não têm dormido bem – talvez porque estejamos todos despertos dentro de um pesadelo.
Há uma diferença, todavia, entre o meu sonho de infância e aquele de poucos dias atrás: no mais recente, não surge nenhuma figura salvadora, nenhuma entidade que resgate do inevitável desabamento. Eu poderia ler como um sonho de desamparo e desalento. Entretanto, prefiro outra narrativa: a catástrofe parece inevitável, mas despertar pode ser uma forma de ir ao mundo e fazer frente ao que está por vir.
Afinal, dessa vez, são os próprios robôs – os bots – a ameaça.
(*) Luciano Mattuella é psicanalista, membro da APPOA.