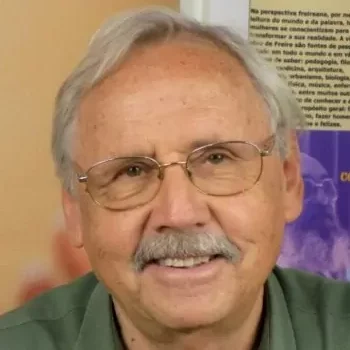NULL
NULL

Dowbor sustenta: país exige mudanças, mas para fazê-las é preciso redistribuir riqueza. Herança da ditadura, impostos atuais são injustos e bloqueiam direitos
Continua após o anúncio
Entrevista a Gilson Camargo,
A aprovação do Código Tributário Nacional, em 1966, foi a última alteração no sistema de arrecadação de impostos do país. Quase meio século depois, quais são os reflexos dessa reforma?
O código de 1966 é aprovado como parte de um conjunto de medidas que consolida a concentração de renda no país. Trata- -se da mesma lógica do arrocho salarial promovido com o golpe de 1964. Durante os anos 1950, expandem-se no Brasil as empresas multinacionais, com particular importância do automóvel. No país pobre da época havia a opção de reformas de base, com aumento do salário mínimo e reforma agrária, o que expandiria o mercado interno popular. E havia a opção inversa, de concentração maior ainda da renda. A primeira opção geraria mais mercado de bens populares, ou bens-salário. A segunda geraria maior mercado de luxo, expandindo a classe média e o consumo do tipo apartamento/carro/ eletrodomésticos. Esta última foi a opção imposta, e a lógica da reforma tributária foi de desonerar as classes abastadas para que pudessem comprar os produtos sofisticados produzidos pelas multinacionais. Com isso, os instrumentos distributivos da tributação, como uma elevada alíquota de Imposto de Renda, bem como impostos sobre a fortuna, sobre herança e sobre a terra foram ignorados em proveito de tributos indiretos embutidos no preço dos bens que compramos. Definiu-se assim a principal característica do sistema tributário nacional, que permanece até hoje, que é dos pobres pagarem proporcionalmente mais impostos do que os ricos, e de se abandonar a visão redistributiva dos impostos, que foi, por exemplo, o fator principal do sucesso do modelo de desenvolvimento europeu.
Por que é difícil promover nova reforma tributária? Que interesses estão em jogo e qual a relação dessa agenda com o sistema político-partidário?
A dificuldade maior reside no modelo de financiamento das campanhas políticas. Uma das heranças mais pesadas da era FHC foi a autorização, a partir de 1997, do financiamento corporativo das campanhas. Isso elevou fortemente os custos de uma eleição. Em texto recente, Alceu Castilho (jornalista, autor do livro Partido da Terra, Ed. Contexto, que revela o percentual do território brasileiro que está nas mãos de políticos) afirma que existe uma bancada da Friboi no Congresso, com 41 deputados federais eleitos e sete senadores. Dos 41 deputados financiados pela empresa, só um, o gaúcho Vieira da Cunha, votou contra as mudanças no Código Florestal. O próprio relator do Código, Paulo Piau, recebeu R$ 1,25 milhão de agropecuárias, de um total de doações para a sua campanha, que foi de R$ 2,3 milhões. A conclusão a que Castilho chega é que a Friboi não patrocinou essas campanhas para que eles votassem contra os interesses da empresa, que evidentemente é a favor das mudanças no Código Florestal, pois a plantação de soja empurra os rebanhos de gado para o Norte, para a Amazônia, o que interessa à empresa. Ou seja, com o financiamento corporativo, temos uma bancada ruralista, da grande mídia, das montadoras, dos grandes bancos, das empreiteiras, e temos de ficar à procura de uma bancada do cidadão. Esta deformação maior do próprio núcleo de aprovação das leis torna difícil, na atual composição do Congresso, e enquanto não se instituir o financiamento público e controlado das eleições, fazer qualquer modificação tributária que seja do interesse da população em geral.
Quais diretrizes devem orientar uma reforma tributária voltada para os interesses da sociedade e para os princípios da justiça tributária?
As diretrizes de uma reforma decente são bastante claras. O objetivo geral é de se assegurar que o dinheiro público seja utilizado de maneira produtiva, estimulando as atividades que promovem o desenvolvimento equilibrado, e taxando as que são mais prejudiciais. Nesse sentido busca- se desonerar as atividades que geram emprego, por exemplo, e a folha de pagamento em geral. Mas também se trata de taxar as atividades especulativas financeiras. O melhor imposto que havia no Brasil, a CPMF, taxava essencialmente as movimentações financeiras dos grandes intermediários, era simples de cobrar e favorecia o financiamento da saúde pública, tendo, portanto um impacto redistributivo. Outro princípio é de se assegurar um peso maior aos impostos diretos progressivos, como o IR com alíquota parecida com as dos EUA e Europa, reduzindo- se o peso relativo dos impostos indiretos (sobre bens de consumo), que oneram proporcionalmente mais os pobres. Um terceiro princípio está ligado à tributação sobre a riqueza familiar acumulada como, por exemplo, o imposto sobre a fortuna na França, que é pago pelos muito ricos e permite financiar o RMI, renda mínima dos mais pobres. Um quarto princípio consiste em tributar as chamadas externalidades negativas. Uma empresa que emite dióxido de carbono está gerando impactos climáticos, poluindo o meio ambiente e gerando doenças, mas não paga pelas emissões. Na Austrália, por exemplo, as maiores empresas pagam uma taxa fixa por cada tonelada de dióxido de carbono que emitem, o que as estimula a instalar filtros e a pesquisar formas mais limpas de produção.
Como explicar, para não iniciados, por que o país precisa da reforma?
De forma geral, transita pelo governo um terço do PIB do país, hoje 34% da totalidade da produção de bens e serviços. Essa carga tributária é moderada e há uma correlação rigorosa entre o tamanho do imposto e o nível de desenvolvimento: quanto mais pobre o país, menor a carga tributária, piores são os serviços públicos, o que por sua vez trava o desenvolvimento. Sai mais barato para a população ter um sistema público de transporte de massa do que ter de tirar diariamente o carro da garagem e enfrentar os engarrafamentos. Nos Estados Unidos, gasta-se US$ 7,3 mil por pessoa por ano com saúde, dominantemente com gastos privados, e resultados pífios, enquanto no Canadá vizinho, onde se gasta cerca de US$ 3,2 mil com sistema público, os resultados são incomparavelmente melhores. Assim, produzir meias e bonecas Barbie é muito mais produtivo com um sistema empresarial privado, mas saúde, educação, cultura, segurança e outros serviços essenciais para a nossa qualidade de vida funcionam melhor e tornam-se mais baratos para todos quando são assegurados com sistemas públicos, como é o caso na Inglaterra, na França e em outros países que avançaram na qualidade de vida. O mais produtivo é gerar um esforço de informação para a população. Os grupos mais ricos, que não querem mexer no imposto, colocam por toda parte os “impostômetros”, mas não vemos em nenhum lugar um “lucrômetro”. Temos pela frente um grande esforço didático, no sentido de se mostrar que não se trata do tamanho do imposto, mas sim de quem paga, sobre que atividades, e com que uso final dos recursos.
É viável alterar o sistema tributário sem promover reformas em outros setores?
Uma condição necessária para a reforma tributária é a difusão de informação honesta sobre como funciona o sistema atual, e porque ele favorece os mais ricos e frequentemente os menos produtivos. O objetivo é o que se chama normalmente de qualidade do imposto. Com a mídia que temos, hoje controlada por um oligopólio de quatro grupos, a informação é sistematicamente deformada. Por exemplo, quando foi abolida a CPMF, a revista Veja apresentou uma capa de um leão com boné de Papai Noel dizendo que o fisco estava devolvendo R$ 80 bilhões à população. Evidentemente, não se tratava de devolução nenhuma e sim da desoneração dos grandes bancos, que deixariam de pagar o imposto que incidia essencialmente sobre transações financeiras.
A lavagem de dinheiro é uma variável a ser combatida antes da reforma tributária?
Sim. Outro eixo de iniciativas paralelas à reforma tributária tem a ver com o controle dos recursos ilegais. Com a crise financeira mundial gerou-se um conjunto de atividades de busca de reforma institucional do sistema de intermediação, em particular dos grandes bancos. Os primeiros resultados mostram que o estoque de dinheiro ilegal, fruto de evasão fiscal, lavagem de dinheiro de drogas, de comércio ilegal de armas e de diversas formas de corrupção, é da ordem de US$ 21 trilhões a US$ 32 trilhões de dólares, equivalente a algo entre um terço e metade do PIB mundial, sob controle e gestão dominante de bancos americanos e britânicos, além dos tradicionais Suíça e Luxemburgo. Os dados levantados na pesquisa do Tax Justice Network mostram que se trata, no caso do Brasil, de um provável volume de US$ 520 bilhões, ou seja, cerca de 25% do PIB brasileiro.
Qual o custo para a sociedade e como combater essa subeconomia criada pelo sistema bancário para se proteger?
Essa ilegalidade e fraudes por parte dos grandes bancos internacionais, que em nome de preservar a privacidade dos seus clientes asseguram fluxos seguros e secretos de dinheiro ilegal, penalizam os pagadores honestos, em particular os assalariados cujos rendimentos são declarados pelos empregadores, e desoneram as grandes fortunas, e em particular os intermediários financeiros. Um elemento muito positivo nesse quadro de gradual construção de um marco regulatório e de busca de soluções mais adequadas é a aprovação em maio de 2012 da Lei da Transparência, que obriga todas as entidades públicas a produzir as informações sobre todas as suas atividades. É um primeiro passo importantíssimo, que deve melhorar muito a redução do sistema de corrupção, mas falta evidentemente evoluir para sistemas transparentes no setor privado, em particular na linha da “disclosure” hoje demandada por diversos governos, para que a população, ou pelo menos os bancos centrais, saibam qual é o grau de desequilíbrio financeiro que os grandes bancos estão gerando.
O senhor tem reafirmado que o país precisa sair da atual estrutura tributária regressiva – que, ao invés de captar dos mais ricos para repassar aos mais pobres na forma de serviços e assim dinamizar o conjunto da economia, cobra mais imposto dos assalariados – e adotar um sistema distributivo. O que isso significa?
A deformação do nosso sistema torna-se aparente ao compararmos os impactos do imposto sobre o coeficiente Gini, que mede a desigualdade de renda. O resultado final é a fragilidade financeira do Estado e a dificuldade de exercer uma política redistributiva. O contraste com os países desenvolvidos é evidente. Enquanto na União Europeia, depois dos impostos, o coeficiente Gini melhora em 32,6%, na média da América Latina melhora em apenas 3,8%, o que com o nível de desigualdade existente, é particularmente grave. A mesma deformação se apresenta, com algumas variações, para os diversos países da região. Acrescente-se que o sistema financeiro comercial não cumpre as suas funções de fomento. A financeirização das atividades econômicas levou à generalização das atividades especulativas e do rentismo, com particular gravidade no caso do Brasil. Com a fragilidade das finanças públicas, o desvio do uso das poupanças privadas pelo sistema bancário comercial, e a passividade dos bancos centrais na regulação do sistema de intermediação financeira – a herança do princípio da “autonomia do Banco Central” – orientar os recursos em função das necessidades do desenvolvimento torna- -se um dos principais eixos de enfrentamento.
Como reverter a relação entre a tributação regressiva e a desigualdade social, que é uma característica de grande parte das economias latino-americanas?
Após a aprovação de cláusulas mais democráticas nas leis dos países latino-americanos, a exemplo da reação pendular aos desmandos das ditaduras militares, o embate mais forte está se dando em torno da inevitável reforma tributária. Ter políticas tributárias regressivas na região mais desigual do planeta é particularmente absurdo e explica, inclusive, a persistência da própria desigualdade. Na América Latina, o imposto direto (em particular o imposto de renda que melhor permite progressividade segundo a riqueza e a renda) é da ordem de 5,6%, quando representa 15,3% nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Não é surpreendente que a pobreza dos países coincida com a baixa participação dos impostos diretos: é resultado do poder dos mais ricos de impedir a tributação que poderia visa-los. É de se notar também a fragilidade da carga da seguridade social nos países mais pobres, ainda que constantemente denunciada como excessiva na mídia conservadora. O resumo da questão é simples: os privilegiados querem guardar os seus privilégios, ainda que a sua manutenção trave o desenvolvimento do conjunto. A tributação, no entanto, é essencial à continuidade das políticas sociais.
A reforma tributária implica mudança na distribuição de renda e no modelo de desenvolvimento do país, em renúncia fiscal e impactos na Previdência. Como equacionar isso?
O Brasil instituiu desde 2003 uma política de sistemática redistribuição de renda. É um gigantesco avanço, com cerca de 40 milhões de pessoas tiradas da miséria, dinamização do consumo na base da sociedade, o que por sua vez reativou a economia e gerou mais de 15 milhões de empregos formais, criando uma dinâmica qualificada de círculo virtuoso. No entanto, com cerca de 15% dos recursos do Estado sendo diretamente redistribuídos para a sociedade sob forma de previdência, bolsa-família e outros mecanismos, a carga tributária líquida disponível para o Estado situa-se em torno de 21% do PIB, o que é relativamente limitado para um conjunto de atividades, em particular de fornecimento de serviços sociais públicos e de investimento em infraestruturas. É importante notar que uma tributação mais sólida das atividades de especulação financeira obrigaria os capitais parados em atividades rentistas a buscar aplicações produtivas na economia, o que tenderia a estimular mais as atividades. Voltamos sempre ao mesmo princípio básico, de se tributar melhor os mais ricos, os rentistas financeiros que ganham sem produzir, os recursos acumulados em paraísos fiscais, para orientar esses recursos para reforçar as políticas redistributivas.
*Entrevista publicado originalmente na revista Extra Classe