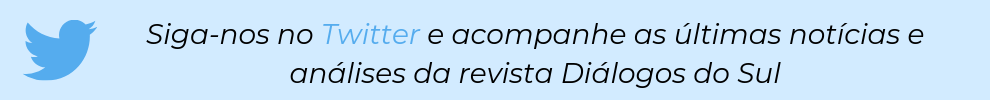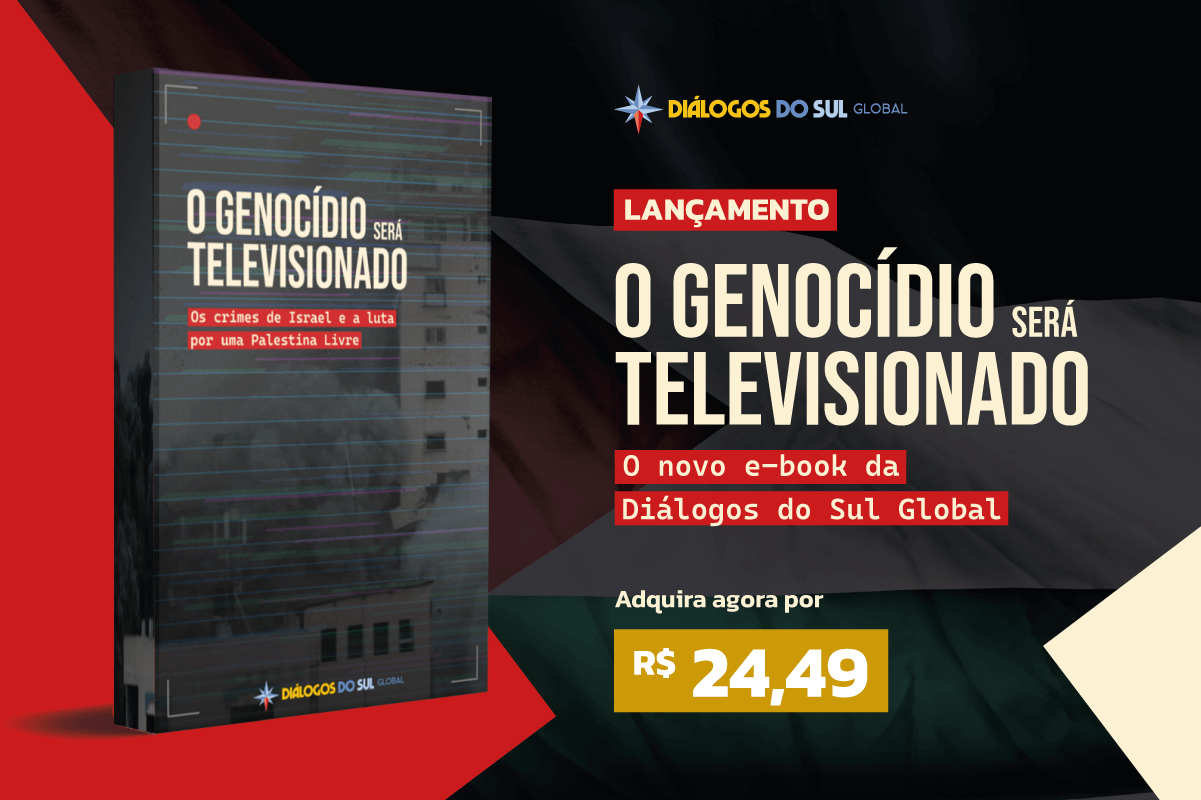Conteúdo da página
ToggleNo distante ano de 2013, tive contato com o artigo de Domenico Losurdo “Como nasceu e como morreu o ‘marxismo ocidental’”. Nele, Losurdo observa a certa altura como Michael Hardt e Antonio Negri afirmam que os palestinos podem contar com a simpatia deles, mas que, a partir do momento em que a libertação nacional Palestina for conquistada, quando for construído o Estado nacional, não se pode mais estar do “lado deles”. Ao ler esse trecho imediatamente pensei: ninguém em sã consciência deve concordar com isso. Imaginei ser um raciocínio por demais infantil crer que só podemos apoiar um povo oprimido no seu momento de máxima opressão e, quando esse povo começar a construir sua emancipação – o objetivo da luta –, o encanto se acaba.
Eu estava errado. No ano seguinte, ainda cursando História na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), eu conversava com um professor que me disse ter participado quando jovem de protestos contra a Guerra do Vietnã. A pergunta imediata que lhe fiz foi a respeito da situação do bravo país asiático hoje. A resposta não poderia ser mais chocante: “não sei, depois que eles conseguiram derrotar os Estados Unidos, houve um processo de burocratização com a construção do Estado Nacional, deixou de ser um processo revolucionário”.
A resposta do meu antigo professor, longe de ser uma compreensão particular, exprime o espírito de nosso tempo: o Vietnã só interessava quando era a encarnação máxima e mais brutal da opressão, uma espécie de representação asiática da fábula bíblica de Davi contra Golias; mas depois da libertação, quando a prioridade da luta anticolonial e anti-imperialista passa a ser a construção econômica e a institucionalização da descolonização, a luta perde o seu charme.
Em 2018, a Boitempo lançou no Brasil o livro O marxismo ocidental: como nasceu, como morreu, como pode renascer. O marxista italiano trabalha vários problemas nesse livro, mas dois são os que mais nos interessam nessa reflexão. Primeiro, Losurdo aponta como uma tendência de longo prazo do que chama de “marxismo ocidental” – sem o tom elogioso normalmente atrelado ao termo – a exclusão da reflexão sobre a questão nacional e colonial. Com análises rápidas, mas profundas, coloca em revisão a obra de uma série de pensadores como Adorno, Horkheimer, Žižek, Althusser e muitos outros, para demonstrar sua tese.
Ao mesmo tempo, nomes como Jean-Paul Sartre e Herbert Marcuse, intelectuais europeus que dedicaram grande atenção política e teórica a luta dos Condenados da Terra, são criticados por uma espécie de absolutização do momento da resistência como oprimidos. Losurdo classifica o anticolonialismo de Sartre como populista e idealista. Não tenho certeza se concordo com essa caracterização de Sartre, mas vale a pena ler as palavras do italiano:
“Concentrando sua atenção apenas no esforço desesperado dos “condenados da terra” para romper as correntes da escravidão colonial e reservando sua simpatia exclusivamente para o grupo em fusão, protagonista do momento mágico, mas breve, da revolução, aquele entusiasmo gera responsável pela destruição de um antigo regime universalmente odiado, Sartre é o defensor de um anticolonialismo certamente apaixonado e meritório, mas que ao mesmo tempo é, contudo, populista e idealista. É um anticolonialismo que não consegue compreender a fase da revolução empenhada na construção da nova ordem.” (O marxismo ocidental, p. 115)
Esse argumento será o fio condutor de nossa reflexão. A Palestina é um exemplo de colonialismo clássico. Ocupação militar direta, regime de segregação racial, papel central das forças repressivas como mediação de controle, desumanização e animalização do povo oprimido e produção política-ideológica do colonizador como um ser superior que quer apenas viver sua vida, mas os bárbaros, o Outro violento, não permitem e, portanto, suas ações coloniais são apenas a defesa do seu “estilo de vida”. Mas há muito tempo sabemos que existem várias formas de dominação colonial-imperialista. É possível que um povo se liberte da ocupação militar direta do colonizador e continue dominado sob um regime classicamente denominado neocolonial.
A independência política, caso não acompanhada do desenvolvimento de um aparato produtivo, científico e técnico desenvolvido, além de uma capacidade de defesa efetiva da nova ordem, torna-se apenas formal. Um exemplo bastante ilustrativo é a situação de vários Estados africanos e sua dependência neocolonial à França. Esses Estados africanos, por exemplo, até hoje não têm um Banco Central e é a França que controla a emissão de suas moedas.
Vários pensadores revolucionários, como Frantz Fanon, Ho Chi Minh, Mao Tsé-Tung, Amílcar Cabral, etc., perceberam que a independência política, ou a emancipação nacional formal, pode se tornar uma hábil armadilha do imperialismo. Quando a Revolução Chinesa triunfou complemente em 1949, o imperialismo estadunidense flertou com a ideia de atacar o país com bombas atômicas e reduzi-lo a um grande nada, mas logo as mentes astutas do Império passaram a uma estratégia mais realista. Conscientes da pouca experiência dos comunistas na administração da economia urbana e cientes das próprias dificuldades de reconstrução do país devastado por décadas de ocupação colonial e guerras, os Estados Unidos passaram a aplicar uma série de bloqueios econômicos, sabotagens, pressões diplomáticas e cercos de todo tipo. Era necessário impedir com todas as forças o desenvolvimento econômico para tornar a revolução anticolonial e socialista uma casca vazia.
Quando o desenvolvimento econômico da nação revolucionária não é totalmente impedido, o imperialismo, via de regra, parte para uma estratégia de cerco e isolamento mundial, transformando o país em uma espécie de pária do mundo. Enquanto existia campo socialista, União Soviética e movimento terceiro-mundista, a eficácia dessa estratégia de isolamento era relativa. Mas, como sabemos, desde o início dos anos 1990 o terceiro-mundismo e o comunismo foram derrotados. Os povos que ousam ser livres estão mais sozinhos do que nunca.

Blog Boi Tempo
"Meu maior medo, quando o assunto é a Coreia Popular, é ver esse povo terminar como o líbio ou o palestino."
Mas e a Coreia?
Agora podemos começar a falar da República Popular Democrática da Coreia, normalmente chamada de Coreia do Norte. Mas falar da Coreia Popular, na conjuntura brasileira, significa antes de mais nada chamar atenção para dois aspectos. O primeiro é a nossa ignorância não só sobre o país como sobre o continente asiático de maneira geral. Repare: nas universidades brasileiras, os centros de estudo sobre a Ásia, como o que existe na UFPE, são raríssimos. A oferta de disciplinas sobre o tema também é algo bastante difícil de encontrar. A exceção vem sendo o crescimento do interesse pela China – como o trabalho incrível do LabChina da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Retrocedendo um pouco mais, na escola, os professores não estão preparados para trabalhar história da Ásia e nos livros didáticos em geral ainda predomina a perspectiva eurocêntrica da história, de forma que a Ásia comparece no conteúdo didático apenas como elemento para contar a história europeia (como a expansão imperialista do século XIX).
No mercado editorial a situação não é melhor. O número de autores asiáticos consumidos na cultura brasileira é reduzidíssimo. Quando publicados, como no caso dos sul-coreanos Ha-Joon Chang e Byung-Chul Han, são autores com produção teórica ocidentalizada. Estudiosos acadêmicos da Ásia de grande importância, como o norte-americano Bruce Cumings, não têm tradução para o português. Também não preciso falar muito sobre a ausência de publicação das reflexões de intelectuais da Coreia Popular sobre os rumos do seu próprio país. Em suma, somos dominados por um colonialismo cultural de base eurocêntrica que condiciona o nosso conhecimento para um estranhamento/desconhecimento não só da África e da Ásia, como de nosso próprio território – a América Latina.
A despeito disso, quase todos os militantes de esquerda no Brasil têm uma opinião negativa sobre a Coreia Popular. Quem forma essa opinião? Os monopólios de mídia. É necessário refletir com mais profundidade sobre a produção dessas notícias. No geral, sobre os monopólios de mídia nativos, sabemos que pertencem a um pequeno número de famílias e têm ramificações com diversos negócios capitalistas e com partidos e políticos da ordem. Mas e quanto às notícias internacionais? Como elas são produzidas? Domenico Losurdo, no seu livro Democracia ou Bonapartismo, cita um dado do final dos anos 1990 muito interessante:
“O mercado da informação é quase monopólio de quatro agências: Associated Press e United Press (Estados Unidos), Reuters (Grã-Bretanha) e France Press. Todas as rádios, todas as cadeias de televisão, todos os jornais do mundo compram os serviços destas agências. 65% das “informações” mundiais partem dos Estados Unidos”. (Latouche apud Losurdo, 2004, p. 280-281).”
Recentemente, fui buscar dados atualizados sobre as famigeradas Agências de Notícias – tema pouco falado, mas de fundamental importância para entender a disputa pela hegemonia no mundo. Hoje apenas três agências de notícia controlam o mercado global de “informações”. Associated Press (EUA), Agencie France-Press (França) e Reuters (Inglaterra, mas como escritório principal em Nova York). Essas três agências têm um poder tão grande que “um estudo sobre a cobertura da guerra na Síria por nove dos principais jornais europeus ilustra claramente essas questões: 78% de todas as publicações foram baseadas, completa ou parcialmente, em notícias de agências e 0% em pesquisa investigativa”. Ou seja, é de Paris, Londres e Nova York que são distribuídas as “notícias internacionais” sobre o mundo. Alguém pode argumentar que essa concentração monopólica não significa que a qualidade em si das notícias seja ruim.
Vejamos a questão mais de perto. O estudo que acompanhamos mostra como as agências de notícia são onipresentes no jornal, na TV, no rádio, nos portais da internet e afins. Normalmente, esses veículos de comunicação não citam suas fontes, mas elas são essas agências. Se alguma das três grandes não noticia um acontecimento, ele se torna de automático um não-acontecimento. Mas e os correspondentes internacionais? No geral, são poucos ou inexistentes — – e quando atuam, não têm capacidade de oferecer um volume de informações como essas agências.
Também não é raro encontrar correspondentes internacionais que mal dominam o idioma local ou que não têm nenhuma bagagem intelectual sobre o país. Sua função, no geral, é servir de elo entre a agência de notícias e a redação da empresa no qual são empregados, ou aparecer ao vivo no local de modo a emprestar um ar de maior credibilidade à notícia produzida. O ambiente construído não permite muitos questionamentos sobre a versão oficial dos fatos. Algumas pessoas poderiam pensar que isso está relacionado apenas aos interesses privados, comerciais e financeiros envoltos na questão. Na realidade, não é só isso.
“Entre os atores mais ativos em ‘plantar’ notícias geopolíticas questionáveis estão os ministérios militares e de defesa. Em 2009, por exemplo, o chefe da agência de notícias americana AP, Tom Curley, divulgou que o Pentágono emprega mais de 27 mil especialistas em RP que trabalham na mídia circulando manipulações direcionadas, com um orçamento anual de quase 5 bilhões de dólares. Não obstante, generais de alto escalão dos EUA ameaçaram “arruinar” a AP e o Tom Curley caso os jornalistas cobrissem criticamente demais o exército dos EUA. Apesar – ou por causa? – de tais ameaças dos militares, nossos meios de comunicação publicam, regularmente, informações duvidosas com base em ‘informantes’ não identificados dos ‘círculos de defesa dos EUA’ […] Obviamente, os serviços de inteligência também possuem um grande número de contatos diretos na nossa mídia, os quais podem ‘vazar’ informações se necessário. Porém, sem o papel central das agências de notícias globais, a sincronização mundial de propaganda hegemônica e de desinformação nunca seria tão eficiente. Por meio do ‘multiplicador de propaganda’, histórias e informações suspeitas de especialistas em RP – que trabalham para governos, militares e serviços de inteligência – chegam ao público em geral praticamente sem serem checadas ou filtradas. Isto é, os jornalistas citam as agências de notícias, e as agências de notícias citam as suas fontes; embora, muitas vezes, os jornalistas tentem apontar incertezas com termos como ‘aparente’, ‘alegado’ e similares para se protegerem, embora a essa altura o boato já se espalhou para o mundo e causou seu efeito”.1
A informação é uma questão de poder político e geopolítico, tratada como razão de Estado pelo imperialismo mundial. Com o sucesso das interpretações reformistas da obra de Antônio Gramsci, passou a se tratar a luta pela hegemonia (isto é, a disputa pela direção moral e intelectual da sociedade a partir de aparelhos ‘privados’ de hegemonia), como algo que se realizaria a partir de condições democráticas: uma espécie de competição mais ou menos igual entre as classes exploradas e burguesas na disputa pela hegemonia.2 Nada mais falso.
Junte o orçamento de todos os aparelhos de hegemonia das classes populares brasileira que se dedicam ao jornalismo: esse montante não vai chegar nem perto dos 5 bilhões de dólares gastos pelo Pentágono para propagar as notícias “adequadas”. A despeito disso, há uma estranha lógica na militância de esquerda brasileira: repetem como mantra que a “Globo ou a mídia no geral mentem”, mas acreditam piamente nas “notícias internacionais” estilo Assad usando armas químicas contra civis quando a guerra estava quase ganha, Venezuela prendendo crianças, Cuba torturando opositores, Kaddafi bombardeando civis com caças aéreos, etc., etc., etc.
No caso da Coreia Popular, a ação dos monopólios de mídia é ainda mais brutal. O país é provavelmente o mais caricaturado do mundo. Volta e meia, aparece nos monopólios de mídia com amplo destaque alguma notícia fantástica sobre a Coreia Popular: o “ditador” Kim Jong-Um teria forçado todos os habitantes do país a usar o mesmo corte de cabelo; arqueólogos norte-coreanos descobriram a existência de unicórnios; os cidadãos acreditam que a Coreia ganhou a Copa de 2014; Kim Jong-Un mandou matar o tio com um lança mísseis porque ele dormiu numa reunião (minha preferida!); Kim mandou matar a namorada porque ela falava muito e assim segue. Poucos dias depois, é claro, os supostos mortos aparecem vivos e as notícias falsas, muitas vezes propagandeadas pelo Serviço Secreto da Coreia do Sul, não desmentidas são 1% da publicidade da mentira original.
O anticomunismo se combina com o orientalismo e o racismo colonial (só o racismo colonial para fazer uma pessoa achar crível um líder de Estado matar seu tio com um lança mísseis porque dormiu numa reunião ou que na Coreia existe um canibalismo onipresente, imagens típicas da representação europeia da Ásia durante a expansão colonial-imperialista do final do século XIX) para fazer da Coreia do Norte um dos países mais atacados do mundo e um pária que quase ninguém no campo intelectual brasileiro abre a boca para defender. Malcolm X disse certa vez que “se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar o oprimido e amar o opressor”. Nesse caso, as mídias no geral, incluindo os jornais, já conseguiram fazer isso com militantes pouco “cuidadosos”.
O que você deveria saber sobre a Coreia Popular, mas não sabe
O importante intelectual canadense Michel Chossudovsky, escreveu um artigo falando sobre as conquistas sociais da Coreia Popular. Usando apenas dados oficiais de fontes ocidentais (esquivando-se assim da eventual “acusação” de fazer apologia ao “regime” por usar dados produzidos no próprio país), o pesquisador começa mostrando que o relatório da Anistia Internacional que indica uma crise na saúde da Coreia Popular e uma sistemática falta de médicos e enfermeiros é falso. Diz o trecho:
“A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que o relatório da Anistia Internacional sobre o sistema de saúde da Coreia do Norte não é científico e está desatualizado. A Anistia afirmou que a Coreia do Norte não está conseguindo atender às necessidades básicas de saúde de seu povo. O relatório da Anistia é baseado em entrevistas com 40 desertores norte-coreanos e profissionais da saúde estrangeiros. Em abril, a diretora da OMS [Organização Mundial da Saúde] visitou a Coreia do Norte e disse que seu sistema de saúde era o motivo de inveja pelo mundo em desenvolvimento”.
Qual seria o motivo da inveja? Chossudovsky cita os dados da Divisão Federal de Pesquisas da Biblioteca do Congresso dos EUA, que afirma.
“A Coreia do Norte tem um serviço médico nacional e um sistema de seguro de saúde. Em 2000, cerca de 99% da população tinha acesso a saneamento e 100% tinham acesso à água, mas a água nem sempre era potável. O tratamento médico é gratuito. No passado, havia um médico para cada 700 habitantes e uma cama de hospital para cada 350 habitantes.”
O acesso à água e saneamento, na Coreia Popular, é melhor que no Brasil e que na maioria dos países asiáticos (lugar por excelência de comparação com a situação da Coreia). A relação de médicos e leitos por número de habitantes também é melhor que a nossa. Ainda no âmbito da exposição de dados, diz o pesquisador “em 2006, a expectativa de vida era estimada em 74,5 anos para mulheres e 68,9 para homens, ou quase 71,6 anos no total” (esses números não combinam com o retrato de um país tão sem comida ao ponto de existir um suposto canibalismo onipresente. É necessário lembrar que pessoas sem comida não vivem em média até os 71 anos). E, para concluir, Michel Chossudovsky fala sobre a educação na Coreia Popular:
“Segundo a Unesco, a educação pública na República Democrática Popular da Coreia (RPDC) é universal e totalmente financiada pelo Estado. De acordo com fontes oficiais do governo americano (Divisão Federal de Pesquisa da Biblioteca do Congresso): “A educação na Coreia do Norte é, há 11 anos, gratuita, obrigatória e universal dos quatro aos 15 anos de idade nas escolas estatais. A taxa nacional de alfabetização para os cidadãos com 15 anos de idade ou mais é de 99%.” (Biblioteca do Congresso, Divisão Federal de Pesquisa, p. 7).
Em 2013, a Vice realizou uma entrevista com Pier Luigi Cecioni, curador responsável pelo site ocidental do Estúdio de Arte Mansudae, em Pyongang (capital da Coreia Popular), provavelmente um dos estúdios com maior produção no mundo. A matéria aborda o realismo socialista na Coreia Popular e o papel do Mansudae, que tem quatro mil funcionários e mais de mil artistas. Cecioni, respondendo às perguntas da jornalista Nadja Sayej, começa explicando a produção cultural na Coreia:
“A maioria dos melhores artistas do país está no Mansudae. Praticamente todos eles têm um curso universitário ou formação em belas-artes. Quando um estudante se destaca na universidade, ele ou ela é convidado a se juntar ao Mansudae. E se um artista se destaca em outro centro, ele ou ela pode ser convidado a entrar para o estúdio. É uma grande honra fazer parte do Mansudae.”
Em seguida, o italiano, deixando claro não ser especialista no tema, descreve o que sabe do sistema educacional do país, afirmando que as crianças e adolescentes frequentam a escola pela manhã e no período da tarde, voluntariamente, podem praticar música, dança, teatro, esportes etc. (bem pouco parecido, infelizmente, com as escolas do Brasil). Responde perguntas sobre a experiência da visita dos coreanos à Europa e conclui com um balanço sobre o realismo socialista na Coreia Popular:
“Eu não diria que o propósito de toda a arte norte-coreana seja mensagem política. O realismo socialista representa a Coreia do Norte sob uma luz positiva e, num sentido mais amplo, quer inspirar os espectadores a ter sentimentos positivos, patrióticos e a celebrar; especialmente as grandes esculturas e pinturas exibidas em espaços públicos: os líderes. Os temas estão frequentemente relacionados ao trabalho, um assunto que não é comum no ocidente. Uma forma particular do realismo socialista são os cartazes. Eles são pintados à mão, não impressos, e têm mensagens políticas e sociais. Muitos têm como alvo os Estados Unidos, visto como um agressor do passado e um agressor em potencial. Além do realismo socialista, pinturas de paisagens são muito populares. Assim como pinturas de flores e da natureza em geral. Há também muitos retratos, principalmente de trabalhadores. Mas há tantos tipos de arte – escultura, cerâmica, bordado, vários tipos de pintura, xilografia, caligrafia e algumas outras – que não é possível generalizar”.
O professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Paulo Ferracioli, especialista em política de comércio exterior e com vasta experiência de pesquisa sobre a Coreia do Sul, fez uma viagem à Coreia Popular. Em seu relato de viagem, o professor, que não é nenhum fã da ideologia Juche, diz que as cidades são limpas, bem organizadas e que em uma quadra da Avenida Paulista você vê mais pessoas em situação de rua do que em toda Pyongyang. Por falar em Pyongyang, continua Ferracioli, é possível ver no final da tarde pessoas nos vários jardins e praças públicas conversando, rindo, brincando com os filhos (ele destaca que não se vê nenhuma criança em situação de vulnerabilidade, como é possível entrar em toda cidade brasileira) ou em estabelecimentos conversando e tomando cervejas.
O leitor pode pensar que estou falando das conquistas sociais mas ocultando a dimensão política do país. A Coreia é normalmente retratada como uma monarquia, um país dominado por uma família, uma espécie de stalinismo de maior intensidade. Como costuma ocorrer nos tratamentos dados às experiências de transição socialista, é tomado como um consenso óbvio que nada existe de democracia, poder popular ou liberdade no país. Bem, primeiro, chamar a Coreia de monarquia é uma prova de extrema superficialidade.
O professor Paulo Visentini, um dos autores de um livro recente sobre a Coreia Popular (A revolução coreana: o desconhecido socialismo Zuche) – livro aliás ignorado no geral pela militância de esquerda (desconheço, por exemplo, qualquer intelectual de esquerda que tenha escrito ou resenha ou tentado refutar as análises de Visentini) –, diz o seguinte sobre a ideia da Coreia ser uma monarquia:
“É importante ressaltar que o sistema político norte-coreano é republicano e bastante complexo, havendo limites ao poder do dirigente e certo grau de liderança coletiva e participação popular. Por outro lado, a situação de tensão militar externa reforça os elementos para a identificação da nação com uma pessoa, cuja liderança de continuidade também é fundamental para evitar crises sucessórias que, no caso da RPDC, seriam, certamente, fatais. A liderança quase sacralizada representa mais um símbolo de unidade nacional do que o poder em si mesmo. O povo norte-coreano e sua liderança expressam orgulho por suas realizações e não se dobram sequer à China, cujos interesses são oscilantes. A ideologia Zuche, de autossuficiência, representa uma política de autopreservação que não pretende ser imposta a outras nações, apesar da grande cooperação existente com dezenas de Estados em desenvolvimento.” (A revolução coreana, São Paulo, Unesp, 2015, p. 23)
E continua em outro momento do livro:
“A compreensão do ethos norte-coreano depende do conhecimento das origens da revolução (relacionadas à guerrilha antijaponesa) e, principalmente, do terrível impacto que a guerra teve sobre o país. A luta pela libertação nacional foi condicionada pela intensa mobilização de diferentes grupos sociais e pela percepção das lideranças de que a unidade deveria ser construída através de uma consciência nacional. Foi nesse cenário que Kim Il-Sung expôs os elementos constitutivos da Ideia Zuche (ou Juche) e a linha revolucionária baseada nessa doutrina, cujos princípios já faziam parte das raízes do movimento. O Zuche se desenvolveu em um quadro de lutas externas e internas e seria aprofundado como base para a reorganização do país no pós-guerra. Fortemente apoiado em uma visão nacionalista, serviu como teoria e método para o regime consolidado. A Guerra da Coreia foi uma guerra de extermínio, com o uso de napalm e bombardeios massivos para destruir todas as cidades e a infraestrutura do país. Houve ameaça nuclear explícita, como visto anteriormente, e chegou a ser defendida a criação de um corredor radioativo de até 60 km junto à fronteira com a China. Como resultado, o país desenvolveu uma mentalidade de bunker e centenas de quilômetros de túneis, assim como 15 mil refúgios profundos foram construídos, abrigando depósitos de mantimentos e armamentos, hospitais, fábricas, hangares para aviões e refúgios para a população. O medo de um ataque nuclear foi real nesse momento, inclusive porque os EUA estacionaram armas atômicas na Coreia do Sul e no Japão.” (p. 67)
Visentini desenvolve ainda uma excelente argumentação sobre as influências pré-revolucionárias na estrutura de poder atual da Coreia Popular e a mescla, única no mundo, entre elementos da cultura asiática, o neoconfucionismo e o marxismo. Não podemos, no âmbito desta coluna, abordar a complexidade do assunto, mas adiantamos que quem não conhece nada da milenar história coreana, das tradições estatais e do confucionismo, provavelmente vai cair na tentação fácil e preguiçosa de assimilar a dinâmica da Coreia Popular à da União Soviética de Stálin, colocando à ambos o rótulo fácil e que nada diz de culto à personalidade.
Em uma fortaleza sitiada, toda dissidência é traição
A frase acima é de Fidel Castro. O revolucionário e estadista cubano conseguiu compreender o grande problema da transição socialista do século XX, ainda que tardiamente, no final da sua vida. Ao contrário de certa compreensão hegemônica, pautada diretamente pelos monopólios de mídia e pela ideologia dominante, o grande problema do socialismo no século passado não foi a falta de democracia ou liberdade, mas o desafio de se conseguir construir uma democracia operária, superior na forma e no conteúdo à democracia burguesa, em um estado de guerra permanente durante a tentativa de superar o subdesenvolvimento e a dependência.
Muitas vezes, ao olharmos nossa história, deixamos de racionalizar um dado básico: toda experiência socialista até hoje passou por uma invasão militar imperialista ou teve que enfrentar uma cruel guerra civil antes da conquista do poder e com a revolução vitoriosa. Na imensa maioria das vezes, essa invasão militar foi derrotada, mas não sem enormes custos humanos e de riqueza. Toda experiência de transição socialista, as passadas e as atuais, teve ou tem que despender enormes quantidades de riqueza material para defender sua soberania nacional. E como bem disse Fidel, “em uma fortaleza sitiada, toda dissidência é traição”. O estado de guerra não condiciona o fortalecimento da democracia – de qualquer forma de democracia, inclusive a burguesa. E quando falamos estado de guerra, a questão não diz respeito apenas a confrontos militares diretos. Mais uma vez, um dado universal, mas pouco estudado: toda experiência socialista passada e atual sofreu/sofre com asfixiantes bloqueios econômicos do imperialismo (convido o leitor a refletir: quantos artigos ou livros você já leu sobre bloqueios econômicos? Sabe como funcionam? Seus impactos?).
Recentemente o Center for Economic and Policy Research lançou um estudo dirigido por Mark Weisbrot e Jeffrey Sachs – respectivamente, um jornalista progressista e um economista liberal – que analisa os impactos das sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Venezuela impostas de 2017 até os dias atuais e chega a uma conclusão perturbadora: “[as sanções] foram responsáveis pela morte dezenas de milhares de venezuelanos no biênio de 2017-2018 – uma estimativa de aproximadamente 40 mil pessoas”. Esse estudo não teve qualquer repercussão na mídia ou entre os intelectuais de esquerda – inclusive, os “críticos” do “autoritarismo de Maduro”.
Já a Coreia Popular é país mais bloqueado do mundo. A situação do país depois do fim da URSS e do campo socialista foi catastrófica, com o padrão de vida decrescendo em ritmo assustador. A partir dos anos 2000, conseguiu superar a crise econômica e seus efeitos mais agudos, período chamado de Árdua Marcha, mas não consegue forcar no desenvolvimento econômico e no bem-estar do seu povo. O imperialismo não permite. No último dia 9 de maio, o navio cargueiro “Wise Honest” que transportava carvão e maquinaria para Coreia Popular foi empreendido por ordem do Departamento de Estado dos EUA em uma manobra única, acusando de violar as sanções dos Estados Unidos.
O blog De Pyongyang a La Habana lançou um estudo completo sobre todos os bloqueios e sanções econômicas que sofre a Coreia Popular. Esse texto mostra o grau de severidade do bloqueio contra a Coreia Popular – novamente, um estudo ignorado pela maioria dos militantes brasileiros. Já o jornal The New York Times, em matéria de 2017 coloca como título [tradução livre] “A fome na Coreia do Norte é devastadora. E a culpa é nossa”. Apesar do tom sensacionalista e do uso de alguns dados questionáveis, a matéria do jornal estadunidense é certeira ao apontar que as dificuldades alimentares do país têm uma origem bem precisa: a sabotagem econômica do imperialismo ocidental. Diz Kee B. Park, que assina a coluna:
“Liderada pelos Estados Unidos, a comunidade internacional está estrangulando a economia da Coreia do Norte. Em agosto e setembro [de 2017], o Conselho de Segurança da ONU aprovou resoluções banindo a exportação de carvão, ferro, chumbo, frutos do mar e têxtis e limitando a importação de óleo bruto e derivados de petróleo refinado. Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, cada um, impuseram sanções à Pyongyang para isolar ainda mais o país.”
A justificativa oficial para essa asfixia econômica, como sabemos, é impedir a Coreia Popular de desenvolver seu programa nuclear. Supostamente, o país seria uma ameaça ao mundo. Um país pequeno sem qualquer histórico de golpes militares, invasões ou sabotagens contra seu vizinho, é atacado pela “comunidade internacional” liderada pelos Estados Unidos: país com mais 800 bases militares espalhadas pelo mundo, mais de 50 golpes de estado aplicados com participação direta e indireta, uma série de invasões neocoloniais (Iraque, Afeganistão, Panamá, Vietnã, Guatemala etc., etc., etc.) e a ação da CIA pelo mundo todo buscando a “mudança de regime” de projetos políticos que buscam algum grau de soberania nacional.
A realidade é que a guerra é um perigo real para o povo coreano. Na guerra de 1950-1953, cerca de 30% da população coreana foi morta e o país completamente destruído – um país já devastado devido à guerra de libertação contra o colonialismo japonês. O nível de brutalidade por parte dos EUA foi tão grande que E ainda depois do cessar-fogo temporário de 1953, juridicamente, a Guerra da Coreia nunca acabou: além da milenar Nação Coreana ter sido dividida em duas, os Estados Unidos nunca deixaram de manter uma pressão militar permanente.
Até hoje a Coreia Popular é cercada por mais ou menos 20 mil soldados dos Estados Unidos e arsenal atômico. Não é a Coreia Popular que está na fronteira dos EUA buscando uma “mudança de regime”, mas o contrário. Os líderes coreanos aprenderam desde muito cedo que o imperialismo só entende a linguagem da força. Quem discorda, basta olhar para Líbia, que de país com melhor IDH e infraestrutura da África passou a um mar de lama e sangue dominado por grupos armados fundamentalistas, contando, inclusive, com o tráfico de humanos escravizados.
Conclusão
Diante de tudo que escrevemos, a conclusão é inequívoca: eu apoio e defendo a Coreia Popular. Esse apoio e defesa não se confunde com uma adoração acrítica do país. Mesmo sendo um historiador que dentro dos seus limites estuda a história asiática, conhece um pouco as tradições do país e o confucionismo, a forma-política do Estado coreano não me agrada. Também não tenho qualquer simpatia por desfiles militares pomposos e culto de armas. Mas não sou idealista. O mundo não é, ainda, o que queremos.
No mundo real, temos uma experiência revolucionária que desde que nasceu não consegue se desenvolver livremente. É atacada, caluniada, cercada, perseguida, asfixiada economicamente. Todo esse bloqueio do imperialismo gera deformações e certo nível de burocratização pouco agradável a alguém que defende uma democracia operária. Mas a prioridade quando o assunto é a Coreia Popular, é defender o país do imperialismo. Agitar a bandeira da autodeterminação dos povos, contra o uso de armas nucleares e da reunificação pacífica na península.
Temos uma experiência igualitária (ainda que com privilégios corporativos), fundamentada no ideário socialista e com um povo com ardentes sentimentos anti-imperialistas. É uma experiência nossa, do nosso campo, com todos seus erros e acertos, glórias e caricaturas, e eu a abraço sem reservas envergonhadas ou tímidas geradas por sentimentos liberais, anticomunistas ou orientalistas.
Não tenho medo de ser chamado de dogmático, stalinista, fanático ou qualquer coisa do tipo por manifestar meu apoio a um povo que deseja ser livre. Meu maior medo, quando o assunto é a Coreia Popular, é ver esse povo terminar como o líbio ou o palestino. Mas isso, tenho certeza, não irá acontecer. A Revolução Coreana segue firme. E o imperialismo, por mais ameaçador que pareça, é um tigre com dentes de papel!
***
Vale a pena conferir a participação de Jones Manoel na mesa de YouTubers marxistas que encerrou a Festa de Aniversário do Marx organizada pela Boitempo em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Junto com Sabrina Fernandes (Tese Onze), Humberto Matos (Saia da Matrix), Larissa Coutinho (Revolushow) e Debora Baldin (mediação), ele falou sobre “Como começar a ler Marx?”, tema do debate, e muito mais…
Notas
1 Vinícius Moraes, “A Propagação Hegemônica: como as agências globais e a mídia ocidental cobrem a geopolítica (parte 2)”, Revista Ópera, 23 abr. 2019.
2 Caio Navarro de Toledo, “A modernidade democrática da esquerda: adeus à revolução?”, em: Crítica Marxista n. 1, 1994.
***
*Jones Manoel é pernambucano, filho da Dona Elza e comunista de carteirinha. Começou sua militância na favela onde nasceu e cresceu, a comunidade da Borborema, construindo um cursinho popular, o Novo Caminho, junto com seu amigo Julio Santos (ele, Julio e outro amigo, Felipe Bezerra, foram os primeiros jovens da história de Borborema a entrar em uma universidade pública). Depois de dois anos com o cursinho popular, passou a militar no movimento estudantil em paralelo ao seu curso de história na UFPE. Pouco tempo depois, ingressou nas fileiras da UJC (a juventude do PCB). Ativo no movimento estudantil até 2016, hoje atua no movimento sindical e na área da educação popular. Mestre em serviço social, atualmente é professor de história, mantém um canal no YouTube e participa do podcast Revolushow. Segue militante do PCB. Escreve para o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.
Veja também