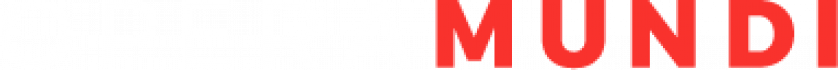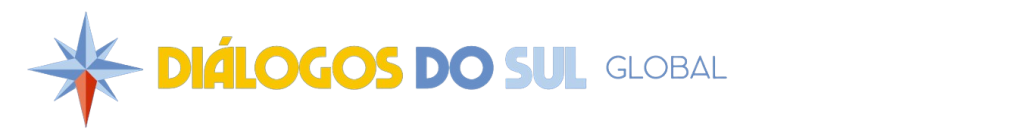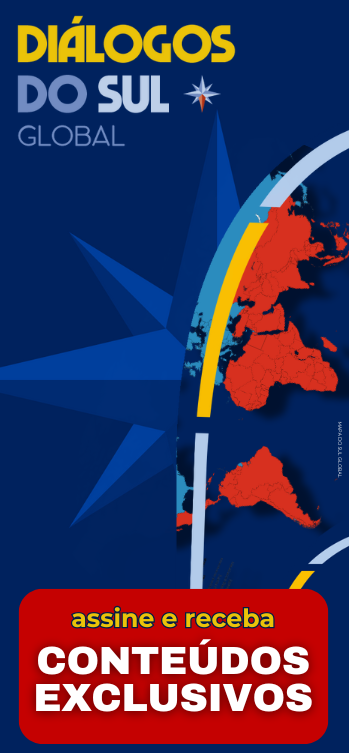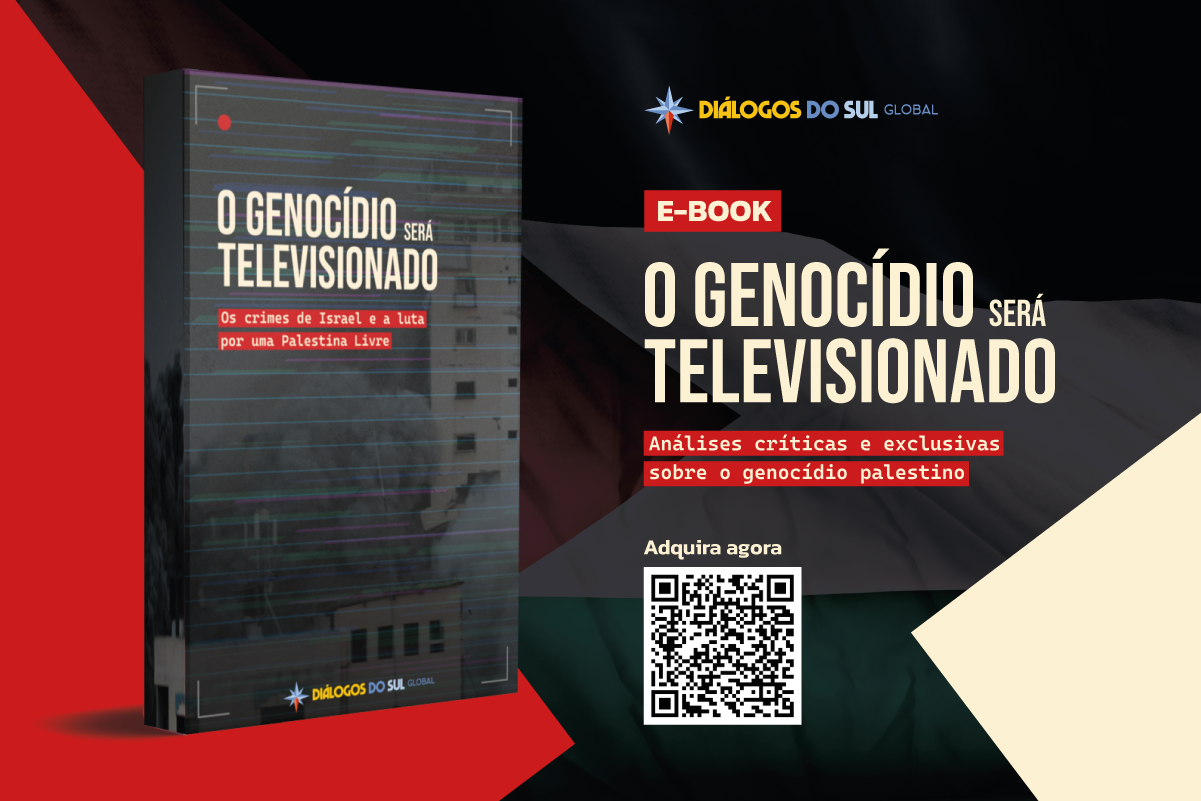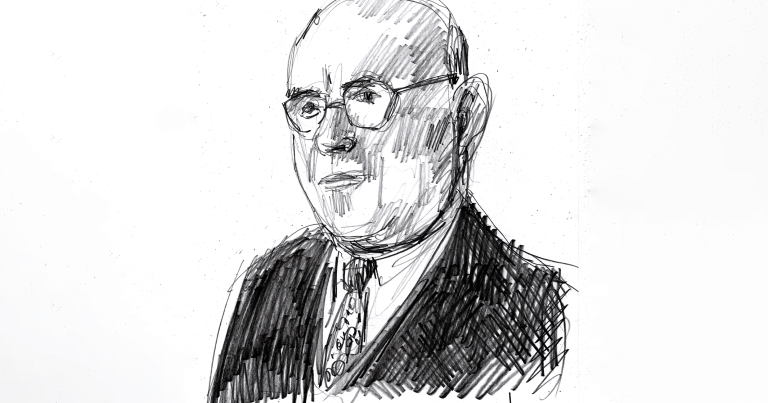Quando falamos dos “filhos sadios do patriarcado”, costumamos pensar nesses homens cisgênero, geralmente heterossexuais, em idade adulta e com comportamentos misóginos e LGBTfóbicos. No entanto, poucas vezes nos detemos no “filho sadio do patriarcado” em processo de construção. Se a série Querer, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, nos oferecia um retrato muito fiel de como a violência opera no cotidiano de tantos matrimônios, mostrando o impacto disso nos seus dois filhos — um já adulto e o outro em idade universitária —, a nova minissérie Adolescência nos leva ainda mais longe. Ela nos coloca no centro do processo: o momento em que uma criança deixa de ser vítima para se tornar perpetrador.
A série, dirigida por Philip Barantini e escrita por Stephen Graham e Jack Thorne, parte de um caso brutal: Jamie Miller, um garoto de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega de classe. Mas esta não é uma história de mistério nem uma busca pela verdade. Desde o primeiro episódio, sabemos quem é o assassino. O que a série se pergunta é: como ele chegou até ali? Como sua identidade foi construída em um ambiente que, pelo menos aparentemente, não parecia predispô-lo à violência? Ao longo de quatro episódios, filmados em um longo plano-sequência que amplifica a tensão dramática, somos levados ao interrogatório policial, ao ambiente escolar e familiar de Jamie e às suas conversas com uma psicóloga social na tentativa de encontrar respostas.
No primeiro interrogatório conduzido pelos policiais, surge a pista que irá estruturar toda a narrativa: uma série de publicações no Instagram que Jamie repostou em seu perfil. As postagens eram protagonizadas por modelos em roupas íntimas e seguidas de comentários agressivos escritos por ele. Então, a pergunta: “O que você acha das mulheres, Jamie?”.

A partir daí, a série começa a desconstruir a ideia de que a violência é um fenômeno espontâneo e a apresenta como um processo que se desenvolve a partir de um contexto propício, no qual as inseguranças de um garoto de 13 anos transformam-se em raiva e, mais tarde, em radicalização. Jamie não corresponde ao estereótipo do “garoto problemático” oriundo de um ambiente familiar em situação de vulnerabilidade. Ele não foi vítima direta de violência física, mas tem um pai que foi criado dentro dos padrões da masculinidade mais tóxica e hegemônica — e que, esse sim, sofreu maus-tratos de seu próprio pai durante a infância e a juventude. Essas marcas simbólicas da violência ainda permanecem nele e fazem com que, apesar de não querer agir como seu pai, ele seja incapaz de demonstrar carinho pelo filho ou de não se sentir frustrado quando este não atende às suas expectativas.
Essa falta de apoio também se manifesta no ambiente escolar. Em um contexto sociopolítico marcado por uma grave crise de financiamento da educação no Reino Unido, os professores estão sobrecarregados e não dispõem dos recursos nem das condições materiais necessárias para atender adequadamente todos os seus alunos. É aqui que começa a surgir a possibilidade de que o que aconteceu com Jamie possa estar relacionado a algo que os educadores não souberam detectar. Algo que ocorre além do espaço físico da escola: no ambiente digital. São casos de assédio virtual, bullying e, especialmente, resquícios dos discursos promovidos pela subcultura digital incel, da qual Andrew Tate — uma personalidade de extrema-direita na internet, conhecida por seus comentários machistas, homofóbicos e misóginos — é precursor. A polícia chega a perguntar sobre ele à coordenadora da escola, mas ela sequer ouviu falar dele.
O corroteirista da série, Jack Thorne, explica em uma entrevista que Andrew Tate só é mencionado pelos adultos de forma intencional, pois é o que eles conhecem superficialmente do universo da manosfera (ou machosfera, “rede de comunidades masculinas online que se opõem ao empoderamento das mulheres e promovem crenças antifeministas e sexistas”). No entanto, as novas gerações já não o levam tão a sério; outras personalidades online estão causando um dano ainda maior. E é exatamente aí, entre o que falta em casa e o que a escola ignora, que os discursos reacionários das redes sociais chegam até Jamie. Os algoritmos priorizam conteúdos extremistas e, nessa busca incessante por validação e respostas, ele começa a absorver uma narrativa que lhe oferece um culpado claro para seu desconforto com o mundo: as mulheres.
Na cidade cubana de Matanzas, violência de gênero se combate com Educação
O que, a princípio, pode parecer um mal-estar difuso e isolado, transforma-se em um discurso compartilhado e argumentado em comunidade. Não se trata apenas de um ódio visceral ou individual, mas de uma estrutura narrativa coletiva que oferece respostas, explicações, inimigos e uma falsa sensação de pertencimento. O algoritmo não apenas fornece conteúdo: ele oferece um enquadramento para interpretar o mundo, uma maneira de organizar a raiva.
A série sugere que o ódio já não é uma reação isolada, mas uma proposta ideológica organizada. Jamie não repete frases vazias; ele articula, reproduz e adota ideias encontradas em comunidades digitais, onde outros como ele — adolescentes, mas também adultos — compartilham frustrações, elaboram explicações e alimentam uma visão de mundo em que a violência é justificada. Já não estamos falando de um garoto irritado, mas de alguém que foi educado coletivamente na hostilidade, na lógica do castigo e na convicção de que o mundo lhe deve algo e que ele pode cobrar essa dívida. As agressões machistas nos espaços escolares sempre existiram, mas o que a série apresenta como novo é a raiva misógina organizada dos adolescentes, estruturada como uma reação ao avanço dos feminismos.
Jamie é quem é e construiu sua ideia sobre o que significa “ser um homem” tanto pelo acesso a um mundo digital onde comunidades reacionárias aperfeiçoaram seus discursos, quanto pelo que aprende e observa de seu pai e de sua mãe, do ambiente familiar e de sua (falta de) popularidade e capital social na escola. É um corpo que se configura a partir de uma “articulação de relações emergida entre condições biológicas adquiridas, técnicas, relações com materiais e outros seres vivos, em determinados ambientes”, como explica a filósofa Laura Quintana em seu ensaio Espaços afetivos.
O terceiro episódio — o da entrevista com a psicóloga — mostra de maneira assustadora como esses discursos e relações se incorporam ao corpo socialmente produzido. E, sobretudo, como pode ser difícil identificá-los. Vemos Jamie em momentos de inocência e ingenuidade infantil, de um menino que parece não entender a gravidade do que faz, para, em questão de segundos, transformar-se em outro corpo que destila arrogância, superioridade e, acima de tudo, muita raiva. Uma raiva cultivada em uma sociedade patriarcal que, paradoxalmente, naturalizou a violência dos homens como forma de resolver conflitos — como podemos observar nos confrontos nos jogos de futebol, em festas e em outros contextos — mas que ainda parece se surpreender quando essa (má) gestão da ira é redirecionada para a forma mais crua de violência: o homicídio.
Assine nossa newsletter e receba este e outros conteúdos direto no seu e-mail.
Então, cabe perguntar: sobre quem recai a responsabilidade? Em Jamie? No pai e na mãe, que não souberam enxergar os sinais? Na escola, que não pôde intervir? Em uma sociedade que não está sabendo gerir a raiva que está germinando em tantos jovens, em sua maioria homens? Ou em um sistema que permitiu que a internet explorasse essas brechas para se aproveitar dessa raiva, dotá-la de sentido e canalizá-la em comunidades onde o ódio é reforçado, celebrado e defendido? É esse desconforto que a série mergulha: a constatação de que Jamie é a mão que executa, mas que talvez haja sob a influência de um contexto que o deixou sozinho diante de suas perguntas mais urgentes. As nossas, no entanto, surgem de outro lugar: seremos capazes de enfrentar essa realidade? Ou seguiremos fingindo não ver até que apareça o próximo Jamie?
O que “O Conto da Aia” tem para nos ensinar sobre a realidade brasileira atual