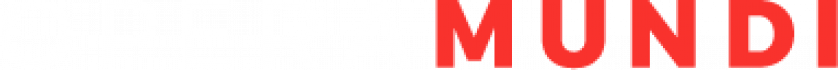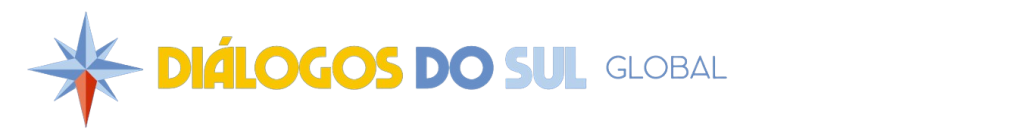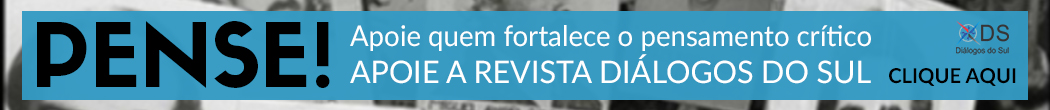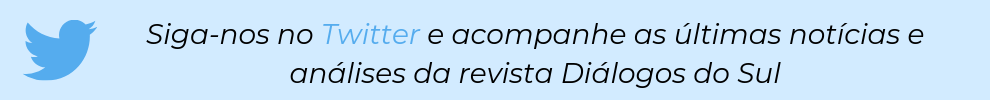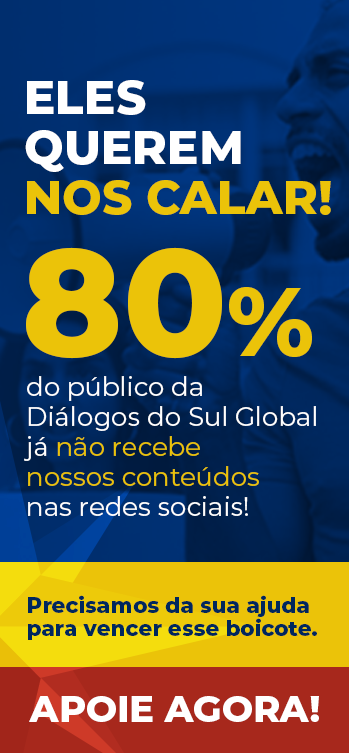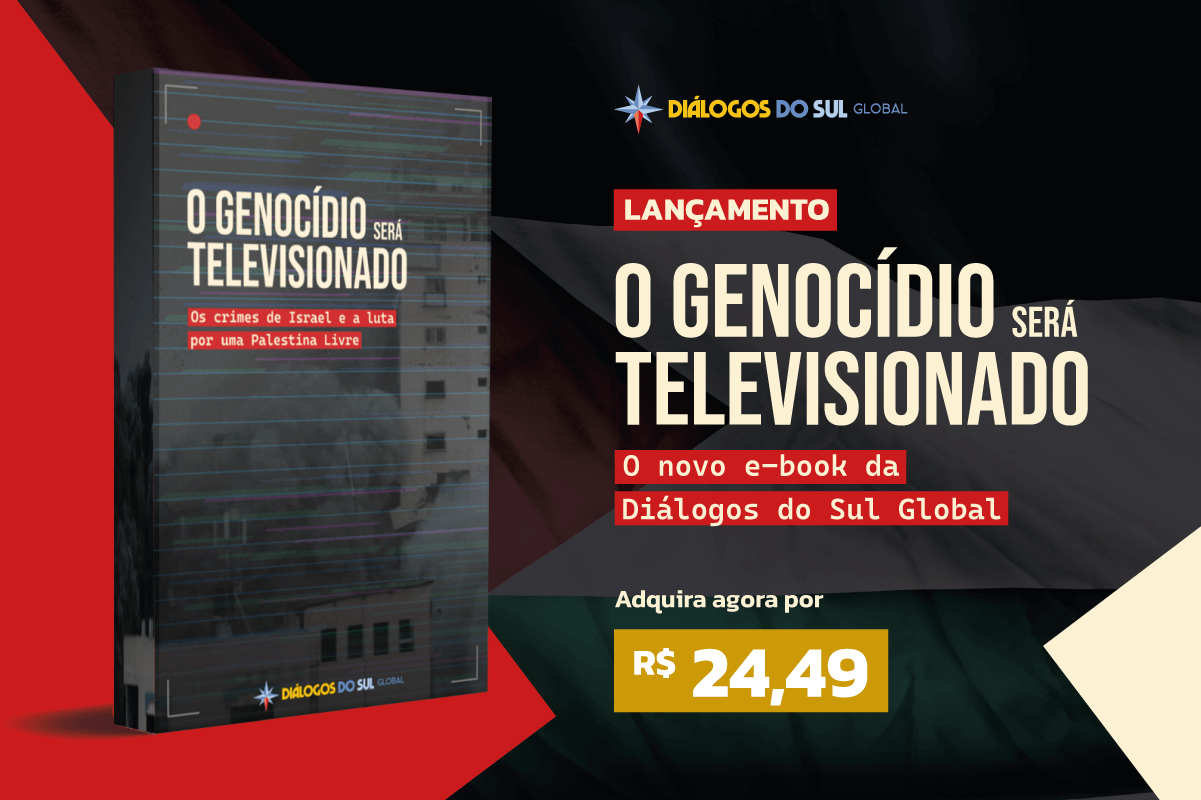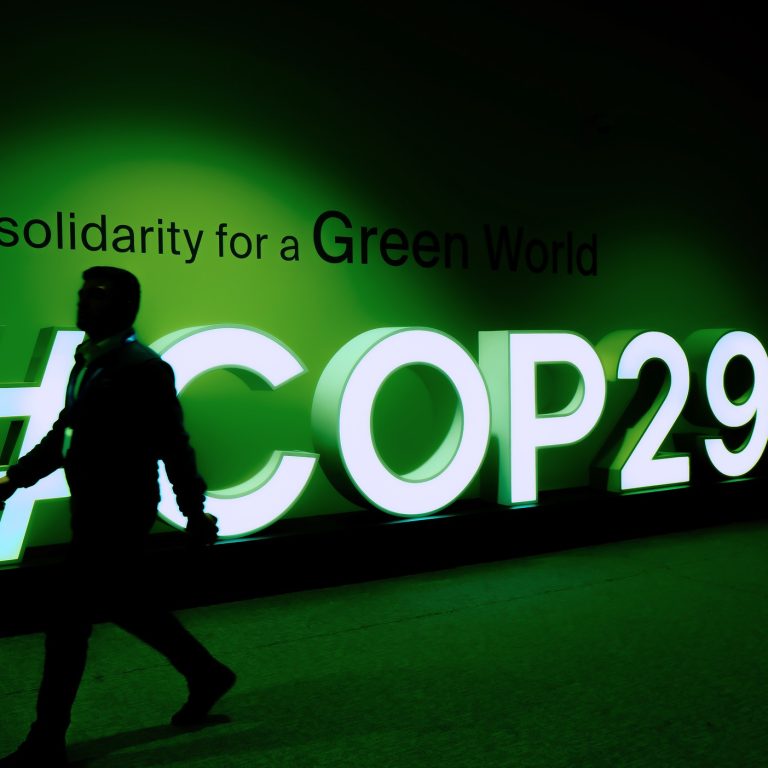O Brasil é um exemplo ao mundo de sustentabilidade. É o país que cuida melhor da natureza. O problema ambiental está nas cidades e não no campo. O agronegócio brasileiro é o mais comprometido com a preservação do meio ambiente.
Com argumentos dessa ordem, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, tem respondido a críticas cada vez mais incisivas feitas a ele e ao governo Bolsonaro, dentro e fora do Brasil. Internamente, ele conseguiu reunir a oposição de oito distintos e até opostos antecessores no ministério: Rubens Ricupero, Gustavo Krause, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Minc, Izabella Teixeira e Edson Duarte.
Externamente, atraiu a crítica de mais de 600 pesquisadores, dentre os quais cientistas de grande notoriedade, integrantes de algumas das melhores universidades do mundo, que publicaram um manifesto na Science, revista científica de credibilidade internacional.
Indo além do questionamento acadêmico ou intelectual, os subscritores do texto adotaram uma posição política: pediram à União Europeia que condicione suas parcerias com o Brasil à mudança da proteção ambiental do país, sobretudo em relação à Amazônia, que consideram cada vez mais ameaçada pelo avanço do desmatamento, que eliminou 18% da sua floresta em três décadas e tornou o Brasil o maior desmatador mundial no ano passado.

Felipe Werneck
Agente do Ibama no combate ao desmatamento da Terra Indígena de Pirititi em Roraima em 2018
Em relação aos adversários domésticos, Ricardo Salles adotou a tática do ataque como a melhor defesa. Sobre um pano de fundo real (a deterioração ambiental ao longo dos governos que os oito ministros integraram, apesar dos avanços na legislação e nas políticas públicas setoriais), o ministro apesentou denúncias graves, embora destituídas das provas do que citou.
Como fez também em relação aos críticos internacionais, arguiu a má fé das suas iniciativas, sem demonstrar os fatos comprovadores. Nem por isso o que disse deve ser desconsiderado. No esclarecimento devido talvez esteja um dos caminhos para aproximar a ação oficial, em geral infrutífera ou insatisfatória, de uma realidade que com ela se choca: a manutenção ou o agravamento das práticas predatórias na realidade concreta, a despeito de todas as boas intenções e do discurso científico.
Ao se defender das objeções dos ex-ministros, Salles disse, em relação ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, sobre o qual teria investido ruinosamente, que sua composição e funcionamento “remontam a um modelo ultrapassado, criado há mais de 30 anos e que não soube ou não quis modernizar-se”. Por isso, continuaria “servindo de palanque ao proselitismo de alguns que nele encontram guarida para angariar clientes ou causas remuneradas”.
Esses brasileiros – ainda anônimos no discurso do ministro – estariam servindo a uma “guerra comercial disfarçada”, a partir de outros países, concorrentes do Brasil, que sustentariam uma “permanente e bem orquestrada campanha de difamação promovida por ONGs e supostos especialistas, para dentro e para fora do Brasil, seja por preconceito ideológico ou por indisfarçável contrariedade face às medidas de moralização contra a farra dos convênios, dos eternos estudos, dos recursos transferidos, dos patrocínios, das viagens e dos seminários e palestras”.
Com dose alta de agressividade, ironia e arrogância, o ministro, depois de enumerar como positivos os mesmos itens apontados como negativos pelos críticos, saudou o uso por eles da expressão “governança”, comemorando “que finalmente tal palavra tenha entrado no vocabulário da seara ambiental, permitindo, quiçá, que muitos dos milionários projetos e despesas até então assumidos e desembolsados, com pouco ou nenhum resultado, possam ser verdadeiramente escrutinados pela sociedade que os paga e sustenta”.
Esse tipo de raciocínio pode ser remontado a 1972, quando o regime militar, no apogeu do “milagre econômico” do crescimento do PIB brasileiro (a taxas ao redor de 10% ao ano), às preocupações pioneiras da primeira conferência mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, realizada na Suécia, reagiu com a mesma ironia. O Brasil não partilhava essa angústia ecológica. Pelo contrário, o governo garantia aos investidores que a poluição seria bem recebida no país, se essa era a maneira de desenvolvê-lo por meio da industrialização, com as mesmas chaminés presentes na Europa e nos Estados Unidos.
Vinte anos depois, de volta à democracia, o Brasil sediou a nova conferência mundial, no Rio de Janeiro, sob o governo Collor, o primeiro eleito pelo voto popular em mais de três décadas. A legislação ambiental, com seu março inicial em 1981, no ocaso da ditadura, com o pior dos seus governos, do general João Figueiredo, melhorara muito, assim como o aparato estatal, as unidades de conservação e a engrenagem institucional. O Brasil era a oitava economia mundial, mas continuava um dos mais desiguais e injustos do planeta. A redemocratização não eliminara essa ultrajante indignidade, apenas a recobrindo de novas cores.
O desmatamento na Amazônia atingira seu índice recorde em 1987, na véspera da edição da nova constituição, que iria ressaltar a hipoteca social como condicionante ao desenvolvimento econômico. Temendo a desapropriação das suas grandes propriedades para a reforma agrária, os fazendeiros instalados na fronteira trataram de derrubar a mata nativa para criar “benfeitorias” e se acautelar contra a intromissão estatal.
Em meio século, de maior ou menor desmatamento a cada ano, num ritmo que variou sem perder a constância, o avanço das frentes econômicas sobre a Amazônia resultou na maior destruição de florestas da história da humanidade em tão pouco tempo, graças ao endosso oficial, à cobiça dos agentes e à tecnologia da destruição, componentes históricos sempre mais fortes do que a retórica da preservação, tenha ou não base científica, seja ou não de boa fé, num debate que não consegue se aprofundar como seria necessário para por fim à celeuma entre os discursos opostos.
O ministro do meio ambiente de Bolsonaro tem razão ao lembrar que o desmatamento remonta há mais de sete anos, “cuja curva de crescimento se iniciou em 2012, portanto durante administrações anteriores, que ora pretendem, curiosamente, imputar ao atual governo a responsabilidade pela ausência de ações efetivas ou estratégias eficientes”.
Ambos os lados têm razão quando se acusam, mas delas ficam destituídos ao serem acusados. E assim, desprovida do seu principal recurso natural, que é a floresta, a Amazônia fica cada vez menos amazônica.
Lúcio Flávio Pinto é jornalista desde 1966. Sociólogo formado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1973. Editor do Jornal Pessoal, publicação alternativa que circula em Belém (PA) desde 1987. Autor de mais de 20 livros sobre a Amazônia, entre eles, Guerra Amazônica, Jornalismo na linha de tiro e Contra o Poder. Por seu trabalho em defesa da verdade e contra as injustiças sociais, recebeu em Roma, em 1997, o prêmio Colombe d’oro per La Pace. Em 2005 recebeu o prêmio anual do Comittee for Jornalists Protection (CPJ), em Nova York, pela defesa da Amazônia e dos direitos humanos. Lúcio Flávio é o único jornalista brasileiro eleito entre os 100 heróis da liberdade de imprensa, pela organização internacional Repórteres Sem Fronteiras em 2014. Acesse o novo site do jornalista aqui www.lucioflaviopinto.com.