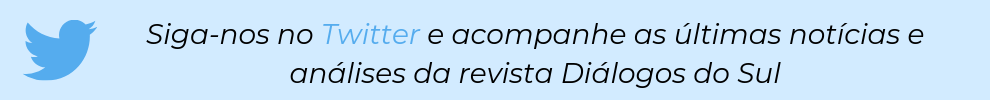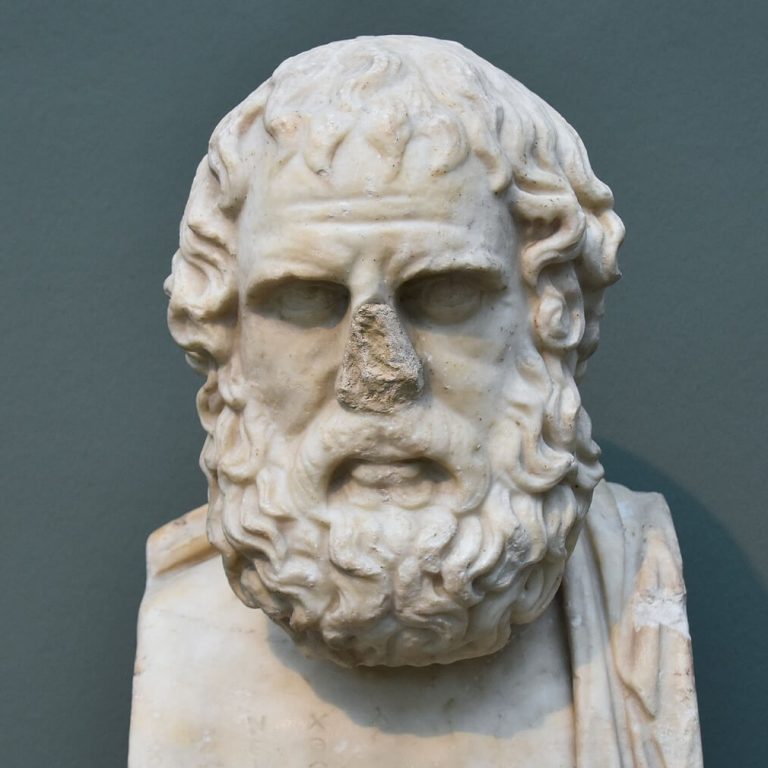Conteúdo da página
ToggleO desmonte quase completo da pós-graduação e da educação pública que estamos observando tem dois objetivos e este texto é uma análise que pretende apresentá-los ao leitor ou leitora. Venho colocando publicamente pedaços deste argumento desde 2015 (sim, antes do golpe, quando rolaram os primeiros congelamentos de bolsa e programas de pesquisa ainda na gestão da Dilma), com um pouco mais de dramaticidade a partir de 2016 (quando rolou o golpe e os discursos ficaram mais evidentes) e mais evidência a partir de 2017 e 2018 (quando ficou óbvio que não se trata de um projeto de um partido específico da direita, mas algo muito, muito maior – e as denúncias apresentadas recentemente pelo site The Intercept Brasil só corroboram essa análise.
O primeiro objetivo é passar a educação todinha, de ponta a ponta, e também a pesquisa, para a iniciativa privada. Mas não só: passar tudo para a iniciativa privada num modelo bastante específico. Pode até ser que uma ou outra instituição de excelência seja mantida ou até que novas sejam criadas como reduto da formação das elites (que por vários motivos não podem contar apenas com as instituições estrangeiras para matricularem seus filhos), mas a regra geral, mesmo nesses casos, será a de uma educação sem autonomia. “Sem autonomia” significa uma educação voltada direta, exclusiva e explicitamente aos interesses e necessidades dos diferentes setores privados, que já são acionistas de empresas privadas de educação.
Entre eu começar a escrever e terminar este texto, por exemplo, o ministro da Educação anunciou que a Capes não deixará de existir, mas servirá tão somente para formar profissionais pós-graduados para a indústria. Anunciou, inclusive, que o MEC vai começar uma nova modalidade de doutorado, os doutorados profissionais. Não por acaso, nenhum dos grandes meios de comunicação de massa que estão acompanhando a movimentação contra os cortes deu destaque para essa fala, muito menos tornou-a alvo de crítica.
As relações entre sistema educacional e interesses privados (no lugar de interesses públicos, ou populares), principalmente da indústria, apareceram de diferentes maneiras nos últimos anos. O fundo que gere a SOMOS (uma fábrica de apostilas e sistemas apostilados dona também de editoras importantes de didáticos como Saraiva, Ática, Scipione, etc.) é também dono da BrFoods, e recentemente passou para as mãos da Kroton.
Leia também
Abraham Weintraub, novo ministro da Educação, é olavista e ligado ao setor financeiro
Outro exemplo, talvez ainda mais chocante: a JBS (sim, a do Joesley Batista) é dona de uma escola. Sim, existe uma escola da JBS, monitorada de perto pelo próprio Joesley (!) que inclusive participa de reuniões com os professores. Um dos discursos da escola é que ela, sim, prepara para o mercado de trabalho, já que um percentual alto dos alunos são contratados para funções de supervisão ou gerência logo após a conclusão do ensino médio (se tiverem feito “estágio” durante os três anos de ensino médio, claro).
Um golpe de mestre: a classe média amedrontada com a calamidade da pobreza crescente investe as calças e paga para seus filhos trabalharem gratuitamente para a empresa, sob a promessa de talvez não passar tanta fome assim quando terminarem a escola. Junte aí o mito da ascensão social e pronto. Afinal, quem sabe aquele adolescente que começa como gerente um dia chegará a Joesley.

Felipe Benassi
O movimento de desmonte das estruturas públicas, seculares, laicas e científicas da educação não é exclusividade do Brasil
Educação sem autonomia e sem partido
Quando falamos em educação com menos autonomia, portanto, estamos falando não só da censura direta e moral a certos assuntos (gênero, sexualidade, drogas, etc), mas ao atrelamento do sistema escolar e universitário pura e exclusivamente à lógica do trabalho, sem nenhum outro ganho (intelectual, cultural, simbólico) aos estudantes e, por consequência, aos cidadãos trabalhadores, e à sociedade como um todo.
No entanto, a censura moral e o projeto privatista andam juntos. A censura a temas como gênero, sexualidade e política nas escolas e universidades, bem representada mas não limitada ao projeto Escola Sem Partido e seus correligionários, não é uma mera censura moral. Ela cumpre também uma função econômica, que é a de reconfigurar o papel da escola e da universidade como fábrica de um tipo específico de mão-de-obra imbecilizada e dócil, refém permanente da extrema pobreza que bate à porta, agora, sem a máscara dos programas sociais e da social-democracia. Por meio da pobreza cada vez mais crua e cada vez mais próxima, e do horror do qual o outro é vítima (como os moradores das favelas cariocas alvejados por seu governador do alto de um helicóptero), faz-se de refém todo o resto da classe trabalhadora, inclusive aquela melhor remunerada após obter diplomas de ensino superior e pós-graduação em universidades públicas. Sem ferramentas das ciências humanas para questionar esses fenômenos, eles são mais facilmente (ainda!) naturalizados, e portanto mais dificilmente tornados objeto de reivindicações populares.
Saiba mais
“O escola sem partido nega a vocação da educação para a transformação da realidade”
Já é difícil para a grande maioria da população brasileira entender a diversidade de estruturas de financiamento e gestão no sistema educacional: de onde vem o dinheiro para cada tipo de escola ou setor da educação, como as decisões sobre ele são tomadas em cada caso, etc. (algo de que a “bancada Lehmann” se aproveitou na última semana, ao mesmo tempo propondo aumento de verba para o FUNDEB mas repasse de parte dessa verba para a iniciativa privada…). Num futuro breve, sem o mínimo de ferramentas das ciências humanas, sem institutos de pesquisa, sem profissionais estudando esses processos, essa tarefa se torna praticamente impossível. Ficamos reféns e tão somente reféns.
Modelo privatista
No universo da pesquisa e da ciência, esse modelo privatista de pouca autonomia já acontece em vários países. Sob o discurso da “inovação” (que só é celebrada quando permite a otimização de um processo com vistas à geração de mais lucro, importante notar), mestrados e doutorados são realizados dentro das empresas. Nos próximos meses e anos, vamos ouvir muito (se é que alguns de nós já não estamos ouvindo), figuras públicas diversas dizendo que as empresas também precisam investir em C&T, em pesquisa (humanas esqueçam, afinal, ninguém considera que sejam ciência – discurso esse que tem também uma função econômica, como estou tentando apontar aqui). Se hoje isso é feito por meio de acordos com universidades públicas (que cedem as patentes para essas empresas, por exemplo, em troca de dinheiro, fazendo com que uma estrutura pública sirva para produzir para o setor privado), a tendência é que o modelo que vemos em países como Holanda se propague: o mestrando ou doutorando atua na prática como funcionário da empresa recebendo uma bolsa, e tudo que produz não é dele nem do Estado e muito menos da população, mas da empresa. Assim, uma nova vacina que venha a ser desenvolvida, por exemplo, pode ter seu preço afixado por uma empresa que lucra com sua produção e compra de doses pelo governo, em vez de ter seu preço regulado pelo Estado (resumindo muito um processo relativamente complexo aqui). Em troca, novamente, para o mestrando ou doutorando, a promessa de contratação, de não cair no desemprego, de não ter que virar Uber e, no presente, de não passar os perrengues que muitos passam hoje em relação à infraestrutura dos laboratórios, valor das bolsas, etc. Percebem o padrão?
Leia também
Educação no Brasil: Bolsonaro para os pobres, Paulo Freire para os ricos
Também entram em cena iniciativas como o Serrapilheira: uma família ou pessoa rica resolve ser mecenas/benfeitor/etc. e criar um fundo que financie pesquisa, dê bolsa, etc. mas apenas para as áreas, temas e tipos de pesquisa que acham (ou que um conselho escolhido a dedo acha) importantes ou promissores (normalmente promissores em termos de, novamente, otimizar processos para aumentar lucro de alguém). Se vocês buscarem pela entrevista em que o João Moreira Salles explica por que o Serrapilheira não vai financiar humanidades, é capaz de ficarem roxos de vergonha com o malabarismo retórico mal feito. Eu fiquei, mesmo considerando alguns aspectos positivos do funcionamento do novo fundo e o trabalho do Instituto Moreira Salles com a área de artes. O efeito desse tipo de financiamento de pesquisa já é conhecido de todo pesquisador, já que é comum fora do Brasil, onde o financiamento de pesquisa tem um pesado caráter privado, e tende a se acentuar e agravar: não poder fazer a pesquisa que se quer, ou que se vê necessária (inclusive socialmente) mas sim aquela que está “na moda” ou retorcer o objeto para que caiba nos editais cheios de limitações temáticas que tendem a surgir. Esse tipo de financiamento pode, em alguns casos, ser até um complemento interessante a um modelo concentrado no financiamento público.
Saiba mais
No Brasil, educação virou balcão de negócios com orientação do Banco Mundial e do BID
Quando o financiamento público inexiste, porém, ele se torna perverso. Sua perversidade reside na impossibilidade (ou dificuldade extrema) justamente de financiar pesquisas que inovem ou, mais ainda, que sejam críticas ao status quo em qualquer acepção dessa expressão e em todas as áreas. Também limita muito a possibilidade de se realizar as chamadas “pesquisas de base”, ou seja, aquelas que parecem inúteis pois não são aplicadas de maneira explícita, nem têm uma utilidade “direta” para um problema que as pessoas comuns de fora da universidade ou daquela área de pesquisa enxergam. O problema disso é que as pesquisas de base são, como diz o nome, a base para a construção de pesquisas aplicadas – seja em humanas, exatas, biológicas, ou em qualquer área do conhecimento. Quando as fontes financiadoras são do exterior há ainda um outro aspecto a ser considerado: a redução de autonomia dos pesquisadores, comunidades e sociedade brasileira quanto a definir o que é ou deixa de ser necessário investigar e produzir em ciências humanas por aqui.
Essas são as principais faces dessa mudança de modelo. Uma reconfiguração do papel do sistema educacional e de produção de pesquisa no que diz respeito a sua função. A educação deixa, assim, de manter ainda alguma função social, pública, cidadã, e passa explicitamente a servir para o crescimento das taxas de lucro das empresas e exploração do trabalho de mão de obra docilizada pelo terror de conviver com a possibilidade de não ter meios de subsistência, ou de ter de recorrer a meios de subsistência tão precários que sequer cumprem o papel de ajudar a subsistir.
Essa mudança é um dos objetivos diretos desse desmonte, mas não o único, como disse no início deste texto. Porque ela também serve para outra coisa que não ela mesma. Afinal, por que isso está acontecendo (e embora tenha ficado grave agora, não é de agora)? De onde vem esse horror diante do qual nos encontramos?
Desmonte da educação pública
O movimento de desmonte das estruturas públicas, seculares, laicas e científicas da educação não é exclusividade do Brasil. Na França, Macron vem enfrentando nos últimos anos muita resistência popular ao tentar mexer na educação pública de maneira incisiva em direção a um modelo de maior influência dos interesses do setor privado. Na Áustria, os estudos de gênero foram proibidos nas universidades. Esses são apenas dois exemplos que lembram, ora mais, ora menos, o caso brasileiro, e nos fazem extrapolar o território nacional quando pensamos nesse fenômeno. Para além disso, como mencionei no início do texto, as grandes empresas envolvidas nesse processo são também parte de fundos ou conglomerados de capital internacional. A própria Fundação Lemann é um exemplo excelente: a fundação faz campanha pela mudança no modelo educacional, enquanto Jorge Lemann senta nos conselhos e mantém seu poder econômico por meio de empresas como a AmBev e KraftFoods (dona das marcas Heinz, Burger King e outras mais – reparem, aliás, que há uma relação direta desses fundos com a produção de alimentos, tão cara à nossa sobrevivência…).
A transição de um modelo de educação que preza pela autonomia das escolas e universidades para um modelo dependente das necessidades do mercado é marcada pela visão segundo a qual a função da educação é fornecer mão de obra qualificada para empresas, por um lado, e dar uma melhor chance no mercado de trabalho para a população. Basta um pouco de atenção para observar que, embora a educação possa ser transformadora em muitos casos, a obtenção de um diploma não é suficiente para garantir um emprego. Um exemplo evidente são os altos números de diplomados em ensino superior no Brasil que seguem desempregados ou vivendo de trabalho informal ou precário. Ou seja, a indústria e as empresas ficam com um sistema gigantesco, construído com investimento de energia, trabalho e dinheiro da sociedade como um todo, e o trabalhador fica com a promessa de um diploma que não lhe garante um emprego. Ao interesse público resta um vazio. Isso sem falar nos casos que talvez passaremos a ver com mais frequência, de escolas diretamente ligadas a grupos empresariais, como o caso da escola da JBL, mencionado anteriormente: a empresa ganha a mensalidade escolar, ganha funcionários de salário extremamente baixo ou mesmo sem salário em alguns casos, ganha a possibilidade de construir subjetivamente esse futuro funcionário assalariado, e ganha um aumento na quantidade de pessoas forjadas bem diretamente para exercer o trabalho esperado naquela empresa. Não me espantaria se nos próximos anos surgisse uma lei que replicasse para a educação o modelo de repasse de dinheiro público para instituições privadas que já vemos no SUS e no Prouni, por exemplo, com prioridade para escolas ligadas ao Itaú, à própria JBS, ao grupo Kroton… (não por coincidência, entre a edição deste texto e sua publicação, foi exatamente o que Tábata Amaral, deputada pelo PDT, defendeu com os chamados “vouchers” para a educação básica).
Tudo isso tem um sentido ainda mais amplo: recuperar– e de preferência aumentar – as taxas de lucro dos grandes especuladores do capital após a crise de 2008. Ouvi algumas vezes de economistas marxistas cujas análises respeito muito que a única crise do capitalismo parecida com a de 2008 em termos de magnitude e impacto é a de 1929. Como parte do processo de recuperação das taxas de lucro do mundo capitalista após a crise de 1929, houve uma guerra mundial, que serviu para queimar capital (literalmente, em muitos casos) e para retomar o lucro e o crescimento e desenvolver a indústria. O fascismo cumpriu um papel importante, ainda, nesse processo, entre outras coisas, por oferecer trabalho escravo a diversos ramos da indústria, o que não poderia ter sido feito sem todo o seu aparato ideológico (sobretudo a criação do sentimento de medo, e o direcionamento desse medo para a construção de alguns grupos sociais como ameaças, começando pelos comunistas e expandindo para pessoas LGBT, judeus, estrangeiros, etc. – qualquer semelhança não é mera coincidência).
Já em 2008, com o estado avançado da tecnologia bélica, uma guerra nos moldes anteriores não seria possível. São possíveis, contudo, diversas guerras cotidianas, desastres não-naturais (como o ocorrido em Brumadinho), perseguição ideológica, enfim, novas cores para um novo tipo de fascismo que autoriza o extermínio e a exploração ainda mais extrema da classe trabalhadora. A educação menos autônoma faz parte desse quadro, articulando sua faceta ideológica e sua faceta econômica. O setor privado sequestra os sistemas públicos (além da educação, a saúde também, e aí temos nas mãos desses grupos todo o acesso a alimentos, saúde e bens simbólicos, ou seja, tudo o que é necessário para sobreviver e viver enquanto seres humanos) e com isso elimina parte de um custo, ganha controle e efetivamente ganha dinheiro (num modelo privado como o dos EUA, por exemplo, além do que já foi mencionado anteriormente, são os bancos ligados aos mesmos grupos que vão oferecer empréstimos para pagar a faculdade, financiar bolsas de pesquisas, etc. e, não raro, também têm seu pezinho na indústria farmacêutica e/ou de planos de saúde privados). Ao contrário do que a ficção liberal propaga, porém, não se trata de extinguir o Estado completamente – ele apenas passa a cumprir com exclusividade o seu papel por excelência no capitalismo, o de comitê de mediação e gerenciamento dos negócios privados. Afinal, num contexto de crise, é preciso um intérprete que, ao mesmo tempo que se interponha entre os variados interesses privados, também garanta que o interesse popular não ganhe força. Se preciso for, inclusive, liquidando quando conveniente setores da população. Que cena mais simbólica desse processo todo do que o governador do Rio de Janeiro promovendo um vídeo em que sobe armado em um helicóptero para atirar contra a população, e uma escola na mesma cidade com uma placa no telhado implorando (provavelmente em vão) para que não a façam de alvo?
A questão, porém, vai ainda além. Não basta apenas observar como essas empresas e grupos pretendem aumentar lucros no Brasil, mas sobretudo compreender o papel de sua atuação no país dentro de um sistema necessariamente global. Com as mudanças em curso, o Brasil é reposicionado nesse sistema: deixa de ser um centro periférico com ares de potência (vide a construção do bloco BRICS nas últimas duas décadas) e passa a ser apenas um grande quintal de exploração. Não à toa, as medidas que estamos vendo não começaram com Bolsonaro, embora tenham se acirrado com ele – e embora seja possível dizer (agora, com as mensagens entre Moro e Dalagnol escancaradas, com ainda mais evidência) que, do impeachment de Dilma à eleição antidemocrática de Bolsonaro, a política brasileira foi manipulada para que esse projeto de interesse global pudesse ser implementado com velocidade, já que uma das maiores economias do mundo na jogada, a recuperação das taxas de lucro encontraria obviamente grandes limites. Desde o segundo mandato de Dilma foi possível observar no noticiário e no debate público brasileiro uma série de pressões no sentido da implantação desse modelo. Mesmo Dilma fez uma série de concessões para atender a tais interesses – o fim da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), a volta atrás com os kits escolares anti-homofobia, congelamento de bolsas de pesquisa no exterior, etc. – talvez na esperança de seguir com o projeto social democrata das gestões anteriores o mais intacto o possível. Não foi o suficiente e, quando o governo Temer foi instaurado com um golpe, o desmonte se acelerou. A destruição da legislação trabalhista foi o ponto alto, assim como a reforma do Ensino Médio. A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do Ensino Médio foi direcionada para o mesmo projeto que a reforma, ligando a educação básica de maneira direta com a função empregatícia e desempregatícia dos filhos da classe trabalhadora. Ambas as mudanças flexibilizam ao extremo a estrutura do Ensino Médio, ao mesmo tempo em que não garantem (por limitações econômicas, geográficas, estruturais e ideológicas) autonomia para os professores e comunidades escolares como um todo. Além disso, ao flexibilizar demais os parâmetros e orientações para o Ensino Médio, extingue-se, na prática de um sistema extremamente desigual, a garantia mínima de acesso aos bens simbólicos e ao patrimônio cultural e intelectual/científico da humanidade para a imensa maioria dos estudantes. Isso implica um acirramento da desigualdade na educação, que bem ou mal vinha sendo reduzida (ainda que timidamente) com algumas políticas públicas importantes das últimas décadas como a obrigatoriedade do ensino de História da África na educação básica, ou a política de cotas em universidades federais ou, ainda, o próprio Sistema de Seleção Unificada (SISU).
O principal problema do governo Temer para a implantação do projeto privatista da educação, parece ter sido sua pouca legitimidade popular e política, além do histórico de longas relações com diversos setores oligárquicos brasileiros, um “rabo preso” que impedia certas radicalidades. O mesmo não pode ser dito sobre Bolsonaro que, embora numa eleição de campanhas contruídas à base de fraudes muito intensas até mesmo para os padrões das eleições burguesas, foi eleito para ocupar a presidência da república. Bolsonaro responde diretamente aos financiadores de sua campanha e à implantação de um projeto de devastação da institucionalidade estatal extremamente radical, com cheiro e cores de um fascismo que serve aos grandes grupos do capital internacional – esses que detém o poder sobre os mecanismos ligados à alimentação, ao atendimento à saúde e à educação, a tríade mágica da nossa sobrevivência e da produção e reprodução dos corpos que trabalham e dos quais, portanto, se extrai mais-valia. Uma evidência disso são os atuais “rachas” entre setores que haviam apoiado Bolsonaro anteriormente. O governo Bolsonaro não foi instaurado e financiado para durar, nem para governar qualquer coisa fazendo mediações e concessões a quaisquer interesses que não os de quem pagou para que ele estivesse lá. Bolsonaro serve e serviu, desde sempre, para arrasar a terra com velocidade suficiente para que qualquer reconstrução seja demasiado longa e trabalhosa – e, enquanto isso, serviremos com nossas vidas (agrotóxicos liberados e SUS privatizado, armamento liberado e segurança pública destroçada, fim da previdência, e por aí vamos), por puro desespero, às empresas que se colocaram como únicas soluções imediatas possíveis. Estamos diante de uma bomba atômica e, para que as taxas de lucro e perdas da crise de 2008 possam se recuperar, é necessário que estejamos munidos apenas de uns poucos palitos de dente e, com sorte, alguma cola superbonder, tentando reconstruir o que sobrar após a explosão. Essa é a cara da terceira guerra mundial, e ela já começou. A nossa única saída é nos olharmos e nos reconhecermos enquanto classe e, enquanto classe, agirmos de maneira organizada. A greve do dia 14 de junho deve ser apenas o começo. Façamos nós por nossas mãos.
Veja também